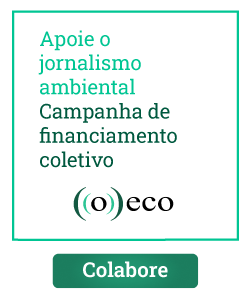O melhor caminho para o início da luta climática é no território. Afinal, a crise é global, mas as soluções vêm do agir local. Esse foi o principal tema da conversa entre o geógrafo Bruno Araújo e Marcele Oliveira, diretora executiva do Perifalab, no Podcast Planeta A. “O racismo ambiental hoje, para mim, não é só um conceito. É uma denúncia, o entendimento de que a crise, que hoje está gigante, não foi causada por essas comunidades. Mas bate lá primeiro porque já está batendo lá há um tempão”, comentou Marcele ao tratar sobre o racismo ambiental.
Com foco no papel das juventudes no combate às mudanças climáticas, a conversa de Marcele e Bruno, gravada em setembro de 2024 e republicada na íntegra por ((o))eco, gira em torno da história da ativista na luta ambiental, tipos de soluções locais, a participação de Marcele na COP28 e 29 e como cada pessoa pode – e deve – se engajar na pauta climática. “Enquanto uma mulher jovem, negra, eu observo esses desafios e tenho urgência. E eu percebo que quem tem urgência já está falando e pensando sobre esse assunto, sem dar talvez os nomes, como justiça climática, racismo ambiental, proteção das florestas, florestas em pé… Talvez não dizendo isso, mas dizendo que o saneamento básico precisa melhorar, dizendo que a gente precisa conhecer e respeitar os biomas do país. Eu acho interessante pensar nesse futuro, que para existir, tem que ter o hoje”, disse ela.
Marcele Oliveira é produtora cultural, comunicadora e ativista climática. Pesquisa a interlocução entre cultura e mudança climática, com artigo publicado na pioneira pesquisa do C de Cultura e Outra Onda Conteúdo. Atual diretora executiva do Perifalab, acompanha a pauta climática desde 2019 com a Agenda Realengo 2030, que atua na Zona Oeste do Rio. É co-fundadora da Coalizão “O Clima é de Mudança” e integra o time de Jovens Negociadores pelo Clima da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima do RJ.
Escute o episódio completo do podcast Planeta A:
Confira a entrevista abaixo:
Bruno Araújo: O que te despertou para a discussão ambiental e climática? Você teve alguma pessoa que te inspirou? Participou de uma luta específica?
Marcele Oliveira: Assim como todo mundo, passei um grande tempo achando que a causa ambientalista era sobre abraçar árvores e uma coisa de gente branca na zona sul. E aí, em algum momento em 2019, eu começo a perceber uma articulação no meu território. Eu sou cria de Realengo, Zona Oeste, alô, Zona Oeste! Essa articulação no meu território faz um debate sobre a implementação de um parque verde e por conta dele, adota um diálogo e uma premissa de conscientização, que passava por vários problemas e vulnerabilidades de território que podem e devem ser resolvidas, através da política pública.
E aí eu comecei a pensar naquele parque verde como um lugar onde a gente podia desbravar. É uma memória que o concreto nos faz esquecer que temos, mas a Zona Oeste era muito mais verde. Ela ainda é bem verde, ainda tem uma experiência rural em alguns lugares. Então essa reconexão me fez olhar para esse parque verde que agora está ali implementado. O parque Susana Naspolini, que é fruto da luta social, me fez pensar por meio dele, sobre biomas, sobre o que que está acontecendo com o bioma da Mata Atlântica, sobre quais são as questões que a gente está lidando com o saneamento básico… Aprendi um pouco também sobre o que é racismo ambiental, que é perceber essas vulnerabilidades relacionadas a questões em relação à natureza, que estão sempre no mesmo CEP, atingindo pessoas da mesma cor. Então, o que isso quer dizer?
E aí eu fiquei muito intrigada sobre como na luta do parque realengo verde, uma ocupação cultural, uma ocupação artística chamada parquinho verde ampliou muito o sentido da luta, o sentido do debate. Foi quando a gente se conheceu, por exemplo. E aí vê uma galera mobilizada para falar sobre o território, o bairro, a cidade do Rio de Janeiro, e pensar como essa cidade podia ser mais verde era algo muito inovador e talvez muito solitário e muito desse papo de “é problema do outro, não é problema meu”.

A luta pelo parque, principalmente com o parquinho verde, a gente começou a ver que tinha um monte de gente por aí que queria ver mudança nos seus territórios, que queria debater um pouco sobre o que a gente faz com o lixo, como que a gente pode fazer campanhas de reflorestamento e como que a gente exige políticas públicas que não sejam só sobre concreto, sobre asfalto, sobre construção de shopping, mas que sejam sobre áreas de lazer a céu aberto.
E descobrimos que nós éramos muitas pessoas, então fez sentido pensar numa agenda 2030. Uma agenda de metas que a gente deveria e poderia incidir e cobrar para que o ar ficasse mais limpo, para que a comida ficasse com menos agrotóxico e que a arte e a cultura pudessem impulsionar esse debate.
E quando eu vi, já era muito importante falar sobre meio ambiente, para poder falar de território, para poder falar de mim, para poder falar de Realengo, para poder falar do parque e para poder falar de futuro. E a arte e a cultura, que é onde eu me formei, sou produtora cultural, eram parceiras, aliadas estratégicas para falar disso com ainda mais gente. Eu olhei e pensei “quero trabalhar com isso”.
Essa luta de Realengo é uma luta que encontra gerações. Quando você chegou, e também quando eu me aproximei dessa luta, a gente encontrou várias gerações que estavam ali há muito tempo se mobilizando para lutar por aquele parque que agora finalmente saiu, em um tempo no passado em que o debate sobre mudanças climáticas não tinha essa vigorosidade que tem hoje, as enchentes afetam muito mais hoje do que há 40, 30 anos atrás. Como você sente no seu dia a dia os impactos das mudanças climáticas? Os impactos, seja das enchentes propriamente ditas, impactações de calor, os impactos no jeito como você observa a vida, na ansiedade, no jeito de ser, no seu trabalho…? Como é viver nesse mundo em que a gente está imerso na crise climática, mas também não deixamos de ser jovens, de ter que trabalhar e de ter que pagar, conta?
Eu fui reparando que tinha uma responsabilidade compartilhada e intergeracional também, e sempre com um olhar de pra frente, pro futuro e o depois. E acho que a nossa geração é uma geração que não sabe muito qual vai ser o depois.
Quando você conversa com pessoas que estão engajadas na luta pela natureza, pela baía de Guanabara, pelos biomas, pelo Brasil, você ouve as comunidades originárias, as comunidades quilombolas, esse grito de urgência, ele não é um grito de ontem, mas ontem cada dia mais parece que o amanhã tá muito confuso e difícil e com disputas, que não são só a do humano com humano, não é só a guerra, não é só a política, é o rio secando. Vai fazer o quê com o rio que secou, sabe? Vai fazer o quê com o plantio que não deu?
São situações que a gente não viveu no tempo histórico do registro e que a gente está construindo agora como faz. Então, enquanto uma mulher jovem, negra, eu observo esses desafios e tenho urgência. E eu percebo que quem tem urgência já está falando e pensando sobre esse assunto, sem dar talvez os nomes, como justiça climática, racismo mental, proteção das florestas, florestas em pé… Talvez não dizendo isso, mas dizendo que o saneamento básico precisa melhorar, dizendo que a gente precisa conhecer e respeitar os biomas do país. Eu acho interessante pensar nesse futuro, que para existir, tem que ter o hoje.
No ano passado, uma pesquisa chamada Juventudes e Meio Ambiente, de 2022, revela que 66% dos jovens percebem que a crise climática afeta ricos e pobres de maneiras diferentes. Entretanto, apenas 24% desses jovens, segundo a mesma pesquisa, sabem o que significa racismo ambiental. E eu queria que você explicasse o que é o racismo ambiental. Ele existe de verdade?
O racismo ambiental existe nesses últimos cinco anos falando de Parque Realengo Verde, identificando que a não implementação do parque era um caso de racismo ambiental, porque realengo é um território periférico e longe, escutando “por que essas pessoas querem uma área verde de lazer? Elas não precisam disso”. No caso da luta das comunidades indígenas, falando sobre demarcação, é uma pauta urgente, é uma pauta que identifica um caso de negligência e também lugares na cidade do Rio de Janeiro, como por exemplo Volta Redonda, ou então se a gente pensar no que está acontecendo em Alagoas, que é uma capital, e você olhar ali um cenário onde todo mundo sabe que aquilo está errado, todo mundo sabe, mas o que acontece? É uma indenização só? Como que a gente organiza melhor esse progresso, esse avanço, esse futuro, sem passar por cima de tudo, de todos? E atualmente estamos passando por cima de cidades e florestas inteiras. Acho até que a gente já passou mais do que deveria e o negócio já perdeu um pouco da conta.
Mas isso é racismo ambiental. Acho que racismo ambiental é pensar que lá nos Estados Unidos, quando construíram um termo com o doutor Benjamin Franklin, eles estavam falando de produtos tóxicos sendo jogados numa parte específica da cidade. Sem nenhum tipo de consulta prévia. E era uma parte da cidade mais vulnerável, empobrecida, com uma maioria de população periférica, população negra, e aí eles olharam e falaram “isso não está certo, por que isso é desse jeito? Quem está tomando essas decisões e que critérios estão sendo utilizados para essas decisões? Quais são os critérios que a gente utiliza para esses lugares? – A gente não. Na verdade, eles e elas que estão lá com as canetas – para um lugar ter saneamento básico e outro não? Para um lugar ter coleta seletiva e o outro não? Para alguns tipos de informação nutricional chegarem em um lugar e outro não?”
Então hoje, a minha leitura de racismo ambiental é muito também esse estado de negligência. Foram 500 anos tentando reverter essa história de que pretos, pobres e pessoas periféricas e marginalizadas não têm direito à qualidade de vida, à um ar pra respirar, uma boa formação… Então estamos falando sobre racismo há muito tempo. E aí é pensar o que acontece com a natureza e como lugares foram urbanizados sem pensar o que seria daquelas árvores, daqueles terrenos e passou tudo para o concreto, mas isso chega numa área mais privilegiada da cidade, onde tem as árvores, os jardins de inverno, os espaços de lazer preservados.
O racismo ambiental hoje, para mim, não é só um conceito. É uma denúncia, é o entendimento de que a crise, que hoje está gigante, não foi causada por essas comunidades. Mas bate lá primeiro porque já está batendo lá há um tempão.
Tem uma palavra de ordem muito dita pelo movimento climático Internacional, de que está todo mundo no mesmo barco. Essa metáfora de que o planeta é um navio, onde estamos todos dentro dele e ele está afundando. Então o planeta inteiro, de maneira igual, está sofrendo esses impactos. Mas esses dias eu vi uma outra metáfora, que é: estamos todos diante do mesmo temporal. A chuva é igual, mas cada um de nós está em barcos diferentes. Tem gente que está no Cruzeiro, tem gente que está na canoa, tem gente que está segurando uma tábua de madeira. Então acho que essa metáfora muito dita pelo movimento climático Internacional, ela precisa ser atualizada, afinal de contas, há diferenças de impactos nas pessoas. A sociedade é desigual, então a crise climática afeta de maneira desigual também. Diante dessa crise emergencial que a gente está vivendo, você pôde estar presente no espaço de tomada de decisão desses líderes globais que afetam a nossa vida, o nosso cotidiano, nas nossas cidades, nos nossos territórios, nos nossos bairros. Quando você observa esses espaços, você acha que esses espaços são capazes de apresentar as soluções que a gente precisa para resolver a crise climática?
O que é ser capaz? Espaços como a COP, assim como o Congresso ou a ONU, espaços onde só uma parcela mínima da população vai para sentar de fato na mesa, são espaços que precisam refletir os anseios dos territórios. Então a capacidade desses espaços de propor políticas públicas efetivas, fundos de financiamento eficazes com a celeridade necessária, acordos internacionais de colaboração, de cooperação, depende muito de todo o contexto ao redor, de toda a incidência e construção do debate que vai ser posto lá.
Então, um país que faz consultas públicas, que faz um investimento na ciência, que escuta o movimento social e o terceiro setor, ele reúne experiências orçamentárias e de gestão e de grupos de trabalho para ir para COP fazer proposições assertivas, está dentro e pode conquistar acordos e possibilidades para o seu país muito interessantes que podem causar sim a diferença, mas não é só ir, muito menos ir sem a estruturação.
A tal da diplomacia ela é essa estruturação. Então, o Brasil é representado na COP pelo Itamaraty, só que cada país tem um tipo de política, alguns não têm o mesmo entendimento sobre direitos humanos nem o mesmo entendimento sobre direitos em geral. Não tem o mesmo entendimento sobre qual é a sua atual urgência ou que é proibida, porque ninguém gosta de fazer guerra e tá aí a guerra acontecendo. Na mesa todo mundo é a favor da paz, mas o país está lá fazendo guerra, cometendo genocídio, como é o caso de Israel com a Palestina.
Então eu fico pensando que descredibilizar esses espaços e dizer que eles não servem pra nada, não é o caminho, mas é entender que eles só servem pra alguma coisa quando os países constroem um debate e proposições fazem a partir da diplomacia, entendendo essas diferenças legislativas mesmo, diferenças de políticas dos países, mas mirando nesse amanhã, nesse futuro, nessas conquistas.
Na COP de Dubai, a COP 28, o presidente Lula anunciou a entrada do Brasil na OPEP, a Organização Internacional dos Países Produtores de Petróleo. E isso foi feito bem em cima da COP, isso gerou uma repercussão negativa muito grande.
O Brasil ganhou o prêmio de fóssil do dia, que é um prêmio dado para os piores negociadores do dia lá na COP, né, Então, quem vacilou muito hoje. E aí a gente foi agraciado com essa incrível menção à Opep, a entrada do nosso país e um belíssimo prêmio de fóssil do dia.
E esse é aquele prêmio que nenhum país quer ganhar, né? E a gente brasileiro que está lá fica com vergonha. E aí, o que eu queria te perguntar sobre isso é que você protagonizou um dos momentos mais emblemáticos, eu acho, nessa conferência, em que você indagou o Lula numa atividade, chamando ele na responsabilidade.
Fala da Marcele na COP: “Então falar de justiça climática é pensar numa política climática que tem que ser por inteiro e não pela metade, porque a gente precisa caminhar junto para poder esperançar alternativas, por exemplo, para a transição energética e para falar de petróleo, porque tem que falar, Presidente.
E eu queria que você contasse pra gente como foi esse momento dos bastidores, até aquele momento de você estar sentada ali naquela mesa, diante de várias autoridades, como Marina Silva, ministro de estado, representantes de grandes organizações, Sônia Guajajara… Então, como foi para ti? E quando você recebeu a notícia, como você se preparou, como foi aquele momento?
Eu fiquei 48 horas sem dormir. Eu sabia que eu precisava dar um recado, que precisava ser um recado assertivo, porque eu não tinha muito tempo para falar, mas eu também sabia que esse recado não era só meu. Então, assim que houve o convite para que alguém do Jovem Negociador pelo Clima, que é um programa da secretaria do meio ambiente do Rio, estivesse presente na COP e fizesse uma fala em nome da Juventude, a primeira coisa que fiz foi ligar pra todas as organizações de Juventude do país, entidades de diversidade regional, pessoas do norte, do nordeste… Fui falar que a gente teria essa oportunidade e que precisávamos construir esse texto juntos.
Eu soube disso no aeroporto quando eu estava indo. Toda vez que parava no aeroporto, eu abria o computador pra ver os insumos e digitar. Só que aí depois eu perdi a conexão.
Quando chegamos em Dubai de madrugada é que ficamos sabendo dessa reunião, que era uma reunião das representações do Brasil com o presidente da República, o Itamaraty e ministros e a sociedade civil brasileira, o tipo de atividade que quase não tem registros assim, que outros países façam com alguma regularidade. Então foi um momento realmente bem emblemático.
Eu olhei e falei, bom, esse texto tem que ficar perfeito e eu tenho que terminar de escrevê-lo. A gente chegou e eu falei, “eu só durmo quando acabar, quando eu falar o que tem que falar” e aí eu usei uma expressão que é da forma como eu falo mesmo, que é uma gíria que eu uso para mencionar o silêncio em relação a essa questão com a Opep, o “Tem que falar, né, presidente?” Tem coisa que tem que falar, como por exemplo, que não faz sentido o Brasil integrar a Opep.
Na época também estava acontecendo o debate sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas e estava rolando uma grande polêmica: “Não, não vamos falar sobre isso aqui na COP” para não queimar o Brasil e então isso de “precisamos falar” também veio nesse sentido.
E aí foi uma proposição, que não era só minha, mas que era escrita a várias mãos, mas que colocava nesse lugar: Olha, eu entendo que existem limitações burocráticas de até onde se pode ir, até onde se pode dizer certas coisas em determinados espaços, a Juventude e eu, enquanto uma mulher negra, jovem, tem o papel de olhar para essas regras impostas e passar um pouco do limite delas, porque o que eu quero construir não cabe nessas salas de homem brancos de terno, não cabe nesses encontros de pessoas influentes ao redor do mundo mas que não inclui os territórios e os territórios suam para poder estar lá e não podem nem fazer manifestações. É proibido fazer manifestação em espaços de negociação Internacional, tem toda uma organização para acontecer uma manifestação.
Então acho que dizer “tem que falar” gerou também um lugar de cobrança, uma cobrança de assim, “se postura aí, mano, qual foi? Como é que vai ser esse negócio?”
A sua fala foi fundamental, já te disse isso. A Juventude brasileira certamente agradece a sua contribuição naquele dia. De que maneira a pessoa que está nos ouvindo agora pode se engajar nessa luta? Tem um milhão de possibilidades do que se pode fazer, mas queria te ouvir, de que maneira você acha, quais são os caminhos que hoje existem? Tanto de se organizar quanto de ações individuais, você acredita nelas e ações de disputa, estruturais… O que que você acha que a pessoa que está nos ouvindo agora pode fazer, como ela pode fazer ou como ela deve fazer para se engajar nessa luta?
Eu acho que a luta climática, e eu diria até que na verdade, todas as outras lutas, as lutas pelos direitos das mulheres, das crianças, luta pelo direito ao território, luta pela liberdade, luta pela reparação… Todas elas precisam de um ponto de partida, que é a comunidade, que é a rede. Então, essa aflição e essa angústia, quando se está sozinho e descobrir o que se pode fazer dentro da correria do dia a dia, dentro das limitações financeiras é ainda pior quando não se tem uma rede.
Então eu acho também que a gente precisa estudar. E não é um estudo que tem que pegar o livro e abrir, é estudar de sentar e parar para pensar, formular reflexões sobre os problemas que estão dados e sobre aqueles que a gente percebe que estão aí acontecendo, mas que talvez possam ter no local algum tipo de solução, de política pública de fácil implementação.
Assim como o debate sobre parque verdes, que gerou o parque verde realengo, mas não gerou só ele. Gerou uma política pública na cidade do Rio de Janeiro de parques públicos em lugares até então que não tinham nada, que não apresentavam nenhum lazer oficial. Isso entra para o mapa da cidade e tem inúmeros benefícios para cada território na sua variada forma.
Então o que fazer é uma coisa que a gente está junto descobrindo, mas definitivamente nada pode ser feito se você não se articula. Então é olhar para o lado também e aprender a reconhecer as inovações que os nossos territórios nos propõem, é reconhecer quem é, às vezes um mais velho ou uma mais velha já faz algum tipo de atividade com reciclagem ou com plantio, ou com ações educacionais, com crianças ou com terceira idade, ou então pessoas que articulam a projetos culturais em praças ou rodas de rima ou de samba e que, de repente, podem incluir esse tema.
A minha recomendação para todo mundo que quer se engajar com qualquer luta, é agir em comunidade, olhar para o lado e ver o que está sendo feito, como você pode contribuir ou como você pode provocar o assunto. E assim a gente vai construindo uma onda de conscientização, que eu acho que é o que a gente mais precisa. E é por isso que eu faço interlocução entre cultura e mudanças climáticas. Acho que a gente precisa fazer uma virada de consciência, uma virada de como a gente se relaciona com o meio ambiente, de como a gente olha para a natureza como um ser de direito que foi massacrado, passado por cima e que agora tá aí dando sinais de que não pode ser dessa forma. E não é sozinho, não é individual, passa por muitas camadas. É sobre construção de rede, de estudo, de solução e reflexão sobre o sonho mesmo: Qual é o nosso futuro? O que é a nossa agenda 2030?
E eu queria te pedir uma recomendação, alguma leitura que você fez recentemente que te afetou de maneira positiva, algum filme que você viu, alguma série que te que te impactou pode ter a ver com discussão climática, com uma prática ambiental e pode ser de maneira ampla também. O que você recomendaria que nosso ouvinte lesse, escutasse e ouvisse?
Ultimamente eu tenho pensado que antes mesmo de dizer que eu era ambientalista ou que era ativista climática, algumas oportunidades de dialogar com esse tema já tinham me impactado muito. Então a primeira vez que eu vi o documentário Ilha das Flores – dá para ver no YouTube – e como aquilo me impactou… falando sobre lixões, falando sobre o nosso papel enquanto seres humanos, raça dominante dentro do polegar opositor. Já fiquei muito impactada com Ilha das Flores. Eu comecei a pensar que, na verdade, aquilo ali já era um indício. As outras pessoas não ficaram tão impactadas quanto eu fiquei, eu fiquei muito chocada. Em leitura, uma que eu acho essencial é “quem precisa de justiça climática no Brasil”, acho que faz muita diferença descer a discussão pro nosso dia a dia e aqui a gente tem depoimentos, reflexões construídas aqui nesse território no Brasil. Então, acho que é massa e traz uma percepção de qual que é a nossa parte nessa discussão.
Uma outra leitura que pra mim foi muito impactante foi “Uma ecologia decolonial.” Eu acho que traz uma proposta subversiva quando se começa a pensar sobre esse conceito de habitar. E aqui, Malcom aponta que esse habitar colonial, que é esse habitar predatório, exploratório, que concreta tudo e que, em nome do progresso esquece de premissas básicas, como respeito, empatia ou que você precisa de oxigênio. Esquece tudo isso. É um habitat colonial e o que a gente precisa fazer é inventar novas formas de habitar.
Isso me encantou aqui, além de outras coisas muito interessantes para uma perspectiva caribenha, então, uma perspectiva de libertação. Falar de libertação também me lembra muito do que eu li de Nego Bispo, quilombola, piauiense, uma pessoa que sempre trouxe as suas falas públicas, que não queria ser colonizado e não permitiria que isso acontecesse ao corpo dele, a fala dele, a forma dele de pensar, que dança feio, escreve esquisito, fala como fala, é o que é. Indicação bônus: ler, ouvir e pensar sobre a perspectiva que pensa e pensou o Nego Bispo, que está agora encantado, mas que trouxe uma reflexão muito profunda sobre essa recusa.
Eu não quero ser colonizada, não quero que o diálogo que eu faço sobre cultura, sobre o meio ambiente, tenha que caber numa caixinha do jeito certo de fazer. Eu quero estudar, construir, pensar, propor, desafiar. Mas se alguém olhar pra mim e falar que o jeito que vocês estão fazendo é errado, é ineficaz, eu vou olhar e vou falar errado e ineficaz foi tudo que a gente fez até aqui, porque se alguma coisa tivesse sido eficaz a gente não estaria tendo o debate que estamos tendo. Então é tempo do novo. É tempo de outras percepções, é tempo do Planeta A. A gente passou muito tempo falando do que não tem planeta B, então é tempo de pensar, quero salvar o planeta A.
E você falou do Nego Bispo, vou encerrar com ele. Ele tem uma frase que é assim: “enquanto você estiver ensinando o que eu lhe ensinei, eu estarei vivo, mesmo enterrado. Mas se você deixar de ensinar o que eu lhe ensinei, eu estarei enterrado, mesmo que esteja vivo.” Então Nego Bispo, segue presente aqui entre nós. Está aqui nessa conversa.
Leia também

A adaptação precisa levar em conta a desigualdade nas cidades
Conversa em podcast discute as formas como eventos extremos afetam diferentes territórios e maneiras de adaptação possíveis de serem realizadas →

Qual o tamanho da responsabilidade do ser humano na crise climática?
Em entrevista ao podcast Planeta A, Miriam Garcia discute as responsabilidades comuns e diferenciadas entre as nações na crise climática e os impactos em cada país →

Já vivemos a crise climática e precisamos enfrentá-la, diz ex presidente do Ibama
Em entrevista ao podcast Planeta A, Suely Araújo coloca as mudanças climáticas como ponto central nas discussões nacionais e mundiais →