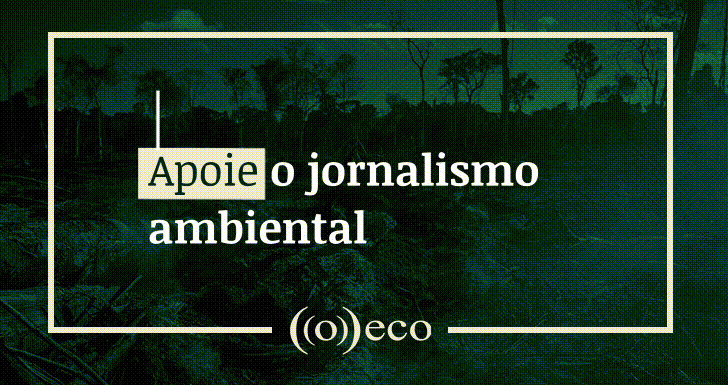Com as praias da Zona Sul enterradas na seção de meteorologia dos jornais, onde descansam na vala comum dos lugares impróprios para banho, a melhor maneira de explorar a natureza do Rio de Janeiro nesta estação de mar poluído é mergulhar nas memórias da francesa Adèle Toussaint-Samson, que andou por aqui em meados do século XIX.
Filha de um autor da Comédie Française e casada com um bailarino de teatro, ela trocou naquela época uma Paris acuada pelas barricadas da Comuna por um Rio de Janeiro que a febre amarela visitava todo ano. Passou mais de uma década numa cidade onde as mulheres desacompanhadas não podiam andar na rua e até nas pensões os hóspedes estrangeiros eram atazanados ao cair da tarde pelos berros dos escravos, purgando a sessão diária de castigos físicos.
A primeira palavra que Adèle aprendeu em português foi “carrasco”. Ou “ carasco!”, com um erre a menos e um ponto de exclamação a mais, como consta do livro “Uma parisiense no Brasil”. A editora Capivara tirou-o meses atrás de um ostracismo que durou mais de um século. Tem 190 páginas. E não dá para largá-las, mesmo com o sol chamando lá fora.
Adèle pôs no papel suas lembranças dos trópicos vinte anos depois de voltar à Europa. Antes, passou algum tempo oferecendo suas memórias a editores franceses que, já na época, cnsideravam esta terra um assunto meio esgotado. Criou um best-seller, para os padrões de seu tempo. O livro foi publicado simultaneamente em folhetim por Le Figaro, em Paris, e pelo Jornal do Commercio, no Rio de Janeiro. Teve uma versão em inglês lançada nos Estados Unidos. Depois sumiu durante todo o século XX. Talvez por dizer dos brasileiros coisas que eles não gostam muito de ver escritas, como as reportagens do correspondente Larry Rother no New York Times sobre a obesidade nas areais de Ipanema ou o teor etílico do presidente Lula.
Pior para nós. O livro de Adèle é coisa fina, de se guardar ao lado das memórias da alemã Ina von Binzer, preceptora da família Prado, a fina-flor da aristocracia cafeeira na sociedade paulista. Ambas cravaram no Brasil um olhar ao mesmo tempo íntimo e distante, crítico e cúmplice, europeu e doméstico. Escreviam bem. E eram irônicas sem serem cínicas.
Adèle sabia morder e soprar. Descreveu Pedro II como um homem de fino trato, pairando sobre o “estado de coisas” que reinava em seu vasto império. Tachou de bárbaros e corruptos os franceses que encontrou nos consulados e nos salões do Rio de Janeiro, com o verniz europeu derretido pelo calor carioca, falando uma língua que deveria ser a dela, mas que Adèle não entendia. Tanto não entendia que saiu daqui convencida de que, ao aportar na Baía de Guanabara, tinha costeado um forte chamado “Villa Gaghão”. Era Villegaignon.
Ela traduziu Racine para as princesas encenarem nos saraus do palácio de São Cristóvão. Assistiu ao beija-mão da corte impressionda com a fila de bocas desdentadas babando os dedos sem luvas de Pedro II. Dormiu em sedes de fazendas infestadas por ratazanas. E enfrentou com estoicismo as epidemias tropicais que dizimavam os brasileiros, tratando a febre com frascos de homeopatia postos em sua bagagem pelo “próprio Hahnemann”.
Tinha horror à escravidão, embora cedesse aos costumes locais, alugando escravos para seu serviço doméstico. Devolveu ao proprietário uma negra com sintomas de malária, como se tivesse adquirido um candeeiro defeituoso. Muito antes de Gilberto Freyre, ela viu onde a casa grande estava se fundindo para sempre com a senzala. Parisiense criada na penumbra das coxias, via no escuro, com precisão e malícia, a fonte oculta das cozinhas povoadas por meninos mestiços e da altivez insolente que, numa sociedade de negros cabisbaixos, luzia nos olhos das mucamas bonitas.
O país que Adèle conheceu tinha lá os seus defeitos. Mas esbanjava ao mesmo tempo um trunfo inigualável. que a professora francesa aparentemente reconheceu à distância, depois de voltar a Paris com a retina marcada pela paisagem brasileira. Depois de passar por aqui, nunca mais se sentiria inteiramente em casa na própria França, “onde nem uma polegada de terreno era perdida, onde nada era dado, onde a menor parcela de terra era comprada”.
Diante dos “campos recortados em pequenos canteiros de toda a cor” que ela reviu em seu país, sentindo o travo de “uma mesquinharia inaudita”, Adele não mediu palavras para falar das “léguas inteiras percorridas no Brasil, no qual a natureza sozinha encarregava-se de ser pródiga, onde o desafortunado podia colher à vontade banana, laranja e palmito, sem ser perturbado por quem quer que fosse, beber a água fresca da fonte sem que lha regateassem, dormir na floresta sem que um gendarme viesse prendê-lo”.
Escancarou as saudades dos “imensos horizontes que engrandecem a alma e o pensamento, meus banhos de mar ao luar na praia fosforescente, minhas corridas a cavalo na montanha, aquela baía esplêndida, para a qual davam as janelas de minha habitação e onde, à noite, barcos de pescadores passavam agitando suas tochas sobre as ondas”.
Não é à-toa que Adèle traduziu para o francês a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Para ela, tudo o que lá gorjeava não gorjeava como cá. Ela recordava a Baía de Guanabara salpicada de “encantadoras ilhotas”, com as “bordas carregadas de laranjeiras, de algodoeiros e de bananeiras, sempre verdes e carregados de frutos”, coroada “por um céu puro e de um azul soberbo”, com “um mar azul e calmo como um lago”.
Numa excursão ao Corcovado, entendeu que os europeus tinham perdido a noção do que seja a floresta virgem, trocada pela “implacável civilização”. No mato, “cada talo da relva é habitado, cada árvore,cada folha esconde um mundo; vemo-nos sós e, no entanto, sentimos que uma mltidão de seres agita-se à nossa volta; mal podemos avistar o topo das árvores seculares que nos rodeiam; é um caos inextricável e grandioso, que impressiona. E fiquei em êxtase diante daquela natureza selvagem e gigantesca, que me inspirava a uma só vez terror e admiração”.
Ela se referia às encostas que poucos anos depois o major Gomes Archer teria que reflorestar, a pedido de Pedro II, quando o desmatamento ameaçou secar os mananciais que abasteciam o Rio de Janeiro. Quando resolveu conhecer o “sertão”, bastou a Adèle viajara até uma fazenda no fundo da Baía de Guanabara, por caminhos no meio da mata onde “miríades de passaros levantavam vôo à nossa aproximação e onde ons macacos faziam ouvir seus gritos estridentes”.
Ela estava no que hoje se chama Baixada Fluminense, o vasto pasto de favelas que abraça a cidade. O que é mais um motivo para pegar o livro de Adèle Toussaint-Samson. Ele está mais atual do que nunca. Já não é preciso morar em Paris para notar a falta que faz o Brasil onde ela viveu. Ele está cada vez mais distante do Rio de Janeiro.
Leia também

Em meio à guerra com petróleo como protagonista, mais de 50 países avançam na descarbonização
Estudo liderado por grupo internacional de organizações mostra que 46 países já têm políticas para fim da dependência no petróleo. Outras 11 nações querem reduzir oferta →

Fim da Moratória da Soja pode colocar 13 milhões de hectares de floresta em risco
Estudo de pesquisadores da UFMG, Trase e ICV afirma que saída de tradings do acordo pode ampliar pressão sobre áreas de vegetação nativa no bioma →

Guerra e clima: o custo ambiental da violência
A destruição ambiental provocada pela guerra demonstra que a segurança ecológica é parte integrante da segurança humana →