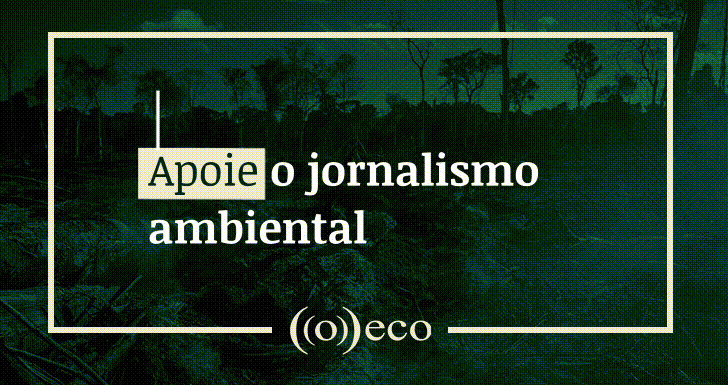O que têm em comum o tiroteio na Rocinha; o policial que pede um cafezinho para liberar, numa blitz, um motorista, com tudo regular; o funcionário que pede um agrado para “agilizar” um processo que não anda; o desmatamento da Amazônia; a crise das unidades de conservação e o assoreamento do rio São Francisco? São todos sintomas da grave crise do estado que o Brasil enfrenta desde o final dos anos 70.
Não estou falando de simples crise fiscal, nem de efeitos colaterais de uma suposta trama neoliberal para desmontar o estado. Estou falando de uma crise institucional do estado, cujo conceito teve mais abrigo na literatura marxista dos anos 70, do que na liberal. Mas foram, porém, os liberais que se dispuseram a enfrentá-la e, por isso, em toda parte, seu enfrentamento foi parcial. A esquerda perdeu-se na sua própria crise e, nela, perdeu a capacidade de atualizar seus conceitos, rever seus diagnósticos e propor uma nova prática de mudança. Nesse processo perdemos a capacidade de pensar estruturalmente.
Vamos falar, primeiro, da crise fiscal, que existe e é muito grave. Ela é conseqüência e não causa da crise mais geral do estado. O desequilíbrio sistêmico mais geral não permite solução adequada e rápida para a debilidade fiscal do estado. O estado cresceu e perdeu a capacidade de financiar tudo que passou a fazer. É, hoje, um Leviatã anêmico. Nas últimas décadas, em quase todos os anos, os governos que se sucederam terminaram o exercício com aumento de gastos e elevação de impostos.
O governo Lula está fazendo a mesma coisa. Em 2004, aumentou gastos, que acomodou nos ganhos excepcionais de arrecadação, decorrentes do aumento da carga tributária e de arrecadação propiciado pela recuperação econômica. O gasto público atingiu dimensões preocupantes no Brasil. Consome, hoje, mais de 40% do PIB. Vamos fazer as contas: os impostos representam 36% do PIB, a meta de superávit primário, para pagar a dívida é de 4,25%. Já se foram 40,25%. O déficit nominal, que contabiliza o pagamento da dívida, pode ter chegado a 3%, ano passado. Melhorou, já foi maior, mas teria sido preciso um superávit primário de 7,25%, para não termos déficit nominal. Esse déficit, no acumulado em doze meses de novembro, estava em 2,6%. Se ele se confirmar, lá se vão 42,85% do PIB. Como nenhuma conta pública é precisa entre nós, digamos, 43%. Mais um pouco e o estado absorverá metade da renda produzida no país. Não está na hora de aqueles que andam nas estradas, passeiam nos parques, estudam nas escolas públicas, têm que se tratar no SUS e precisam da polícia para sua segurança perguntar quem fica com essa grana toda? Certamente ela não tem beneficiado a coletividade e só o aumento de bem-estar coletivo justifica a ação do estado. Talvez ao pensar sobre essa questão, cada um acabe chegando, por seu próprio caminho, à raiz da crise sistêmica brasileira.
O governo não pode aliviar a carga sobre as pessoas e as empresas, sobretudo no curto prazo. O quadro fiscal não permite perda de receita. Nenhuma reforma tributária, para reduzir a carga, será viável, sem uma profunda reforma fiscal, que permita o exercício efetivo de prioridades. Vivemos o pior dos mundos: uma carga tributária muito pesada, uma situação fiscal muito delicada e déficit absoluto de desempenho do setor público. Educação de péssima qualidade. Estradas públicas indecorosas. Hospitais deficientes. Crise de segurança pública. Unidades de conservação ameaçadas por todos os lados, inclusive de dentro. Rios assoreados. Déficit de saneamento. Falta de solução adequada para o lixo urbano. Baixo desempenho científico e tecnológico. Crise universitária. Não é invenção do governo Lula. É uma situação que vem de longe. O dramático é exatamente que saia governo e entre governo e não se encontre outro caminho.
Não se encontra porque o problema é do estado, isto é ele se localiza no vértice do poder das forças sociais que dominam a sociedade e o estado no Brasil. Não existe crise do estado sem crise da sociedade civil. O chamado contrato social, as regras aceitas de convivência social, se rompeu há muito tempo entre nós. Hiperinflação, corrupção, oportunismo deslavado, crise fiscal, são resultado dessa ruptura. O Brasil perdeu o senso da vida coletiva, a autoridade pública se dissolveu, perdemos o sentido de nação. A elite se tornou uma predadora voraz do estado e da sociedade. Quem não é elite se acomodou na informalidade e quem não consegue se defender, no desespero. A contra-elite se provou a coisa mais parecida com a velha elite que já se viu.
O Brasil, como todas as sociedades de grande porte – nós somos a menor, na ponta maior estão Índia e China – enfrenta uma defasagem muito grande entre os meios econômicos e as necessidades sociais. A economia emergente não tem condições de suprir a todas as necessidades e demandas da sociedade. Daí resultam distorções distributivas, que alargam as desigualdades já existentes e ampliam a distância entre meios e necessidades. Cria-se, desse modo, uma situação de “desequilíbrio durável”. O Brasil – e a China, a Índia, os EUA do século XVIII, o Canadá do Século XIX e parte do Século XX – não consegue chegar ao equilíbrio dinâmico. Quando o desequilíbrio leva a uma ruptura, entra em crise. Entre dois ciclos de crise, consegue manter um quadro de desequilíbrio “suportável” ou “administrável”. O desafio é, na superação de cada crise, conseguir resolver alguns dos problemas estruturais que determinam aquela distância entre meios e necessidades. Uma forma de fazer isto é desviando do estado para o mercado parte das demandas de setores com capacidade de auto-sustentação. Desta forma, o estado fica sempre encarregado dos mais despossuídos e desprotegidos. No Brasil não tem sido assim. O estado é uma rede de privilégios. Só as migalhas chegam aos despossuídos, migalhas públicas e migalhas privadas.
O sistema político tem uma estrutura de incentivos que induz os governos a acomodar demandas de setores que já vivem no privilégio. Não é preciso imaginar governos maus, que não ligam para os pobres, para que não haja soluções funcionais para a pobreza e a desigualdade. Basta considerar que a sociedade não demanda bens coletivos, cabendo ao estado identificar aquele módico de intervenções que, por se destinarem ao elo mais fraco da sociedade, elevam o bem-estar geral. E saber que o governo – que não se confunde com o estado, mas é o seu gestor político – tende a atender às demandas das forças políticas que lhe garantam a governança. São, por definição, demandas de setores já atendidos nas suas necessidades básicas. Claro, precisam e querem mais do que já têm. Tudo bem. Mas e os que nada têm? Estes, estão na categoria dos despossuídos, dos animais e das árvores. Sem recursos próprios e sem defesa.
Para um militante ambientalista, juntar pobres e bichos pode não parecer um absurdo. Mas parece, para quem não é. Um intelectual sério e progressista me perguntou por que ele deveria ser a favor de que o estado gastasse dinheiro para preservar macacos, quando há crianças com fome. Não adiantou eu argumentar que a pergunta criava um conflito inexistente. Essa questão só constituiria um dilema real, se cada centavo que se deixasse de gastar com macacos, fosse efetivamente gasto com os pobres e o estado não fizesse gastos desnecessários. Mas não é assim. O dinheiro não dá para ajudar aos pobres e defender os macacos, porque é gasto com subsídios para donos de indústrias, para financiar universidade gratuita para os ricos, com avião presidencial, para pagar os gastos imensos do governo com imprensa estatal e propaganda, que não trazem benefício coletivo algum (descontem o que é gasto com campanhas necessárias, como a da vacinação, são as mais baratas). A resposta certa é: falta dinheiro para os setores mais fracos – humanos e silvestres – porque a maior parte da renda que o estado retira da sociedade fica para o governo e para os mais ricos, mesmo quando não há corrupção. Daí os péssimos salários dos professores e dos policiais, a penúria das unidades de conservação, as estradas esburacadas. Tudo que seria obrigação do estado está sendo descurado pelos governos. Obrigação do estado é o que é coletivo e, principalmente, em cada cadeia – social, econômica, ambiental – o elo mais fraco. Essa argumentação pode provocar a seguinte conclusão: “claro, a culpa é dos políticos”. Não, a culpa é da sociedade. Em grande parte da elite, mas, no limite, de toda a sociedade.
Anos de sociologia me ensinaram que o Brasil é mestre em operações que mascaram as verdadeiras situações, como forma de reduzir suas aflições. Não queremos ver nossa verdadeira cara. Cazuza, no seu melhor momento, vale um curso inteiro de sociologia brasileira: “Brasil mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim”.
O Brasil é racista e finge que não é. É oportunista e jura que não é.
Gosta de um jeitinho e censura quem é pego “se virando”. Joga lixo em qualquer parte (o Presidente da República jogou papel de bala no chão, em público) e acha que o prefeito é culpado pela sujeira. É esse amorfismo do caráter social brasileiro, essa imprecisão absoluta das fronteiras entre o público e o privado, entre o legal e o ilegal, entre o fato e a versão, que faz os brasileiros nunca verem o outro, só o seu lado. Todos somos altruístas, quando falamos das obrigações do estado. Mais que altruístas, somos estatistas e intervencionistas, quando tratamos de tudo que consideramos direitos adquiridos, pelas mais variadas razões: nascimento, mérito, necessidade. E somos ultra-liberais, quando tratamos dos nossos deveres com a sociedade. É aí que viramos todos informais, quando entramos no capítulo dos deveres. E temos um álibi: se o estado não garante nossos deveres, por que temos que cumprir nossas obrigações para com ele? Mas o estado democrático é a expressão da sociedade civil, gente. Um não existe sem o outro. Um pressupõe o outro. Quando só há estado, reina o absolutismo. A sociedade civil que evolui para um sistema sem estado, de puro auto-governo, ainda é uma utopia irrealizada.
De que adianta pedir mais unidades de conservação, se o estado não tem condições de mantê-las e defendê-las das invasões, das milícias a serviço das madeireiras e dos grileiros, perguntou um ambientalista histórico a Manoel Francisco Brito, dia desses. Ele tem toda razão. O estado não garante e não garantirá a integridade de nossos parques. Por isso tenho defendido aqui parcerias público-privadas para gerir nossas principais unidades e criar novas unidades tão necessárias.
Esta é, também, a razão pela qual tenho certeza de que só há cenário ruim para a transposição das águas do São Francisco. Tenho dois cenários. Primeiro: grande tragédia fiscal e meia tragédia ambiental. O governo começa as obras, causa alguns danos, abre grandes buracos e não completa o projeto. Enterra centenas de milhares de dólares (na melhor hipótese) nessa obra inconclusa e acelera um pouco mais a degradação progressiva do velho Chico. Segundo: grande tragédia fiscal e ambiental. O governo faz a obra até o fim, com toda a ignorância de seus efeitos e a arrogância dos que acham que sabem tudo e mata o rio, cumprindo o vaticínio de Drummond, bem lembrado por Jorge Ferreira: “Está secando o Velho Chico. Está mirrando, está morrendo”. Não há cenário, no qual o governo invista o necessário na revitalização do rio e, menos ainda, que esta anteceda a transposição. Não há recursos, competência técnica e gerencial ou força política para tornar viável um cenário positivo.
Diante dessa crise do estado, toda demanda específica tenderá a ficar insatisfeita. É possível salvar a Amazônia? É. É possível reduzir as desigualdades no Brasil? É. Dá para acabar com a pobreza estrutural e aguda em poucos anos? Dá. É viável tornar sustentáveis nossas unidades de preservação e criar outras, igualmente sustentáveis? É. Existe como melhorar radicalmente, em dez anos, o nível de educação de nossa sociedade? Existe.
Mas nada disso é programa de governo ou obrigação automaticamente realizável do estado. É matéria-prima para uma mudança de atitude da sociedade brasileira e de seu perfil de demanda. Se esta for a demanda da maioria e a maioria estiver disposta a eliminar gastos, subsídios e desperdícios que o setor público tem hoje, para que possa investir nisso e se a sociedade se dispuser a encarar de frente a parte que lhe cabe de responsabilidade, como dever cidadão – hoje só falamos de direito cidadão – podemos fazer uma revolução e conquistar uma sociedade melhor, uma economia mais eficiente e proteger nossa diversidade, social e natural.
Leia também

Em meio à guerra com petróleo como protagonista, mais de 50 países avançam na descarbonização
Estudo liderado por grupo internacional de organizações mostra que 46 países já têm políticas para fim da dependência no petróleo. Outras 11 nações querem reduzir oferta →

Fim da Moratória da Soja pode colocar 13 milhões de hectares de floresta em risco
Estudo de pesquisadores da UFMG, Trase e ICV afirma que saída de tradings do acordo pode ampliar pressão sobre áreas de vegetação nativa no bioma →

Guerra e clima: o custo ambiental da violência
A destruição ambiental provocada pela guerra demonstra que a segurança ecológica é parte integrante da segurança humana →