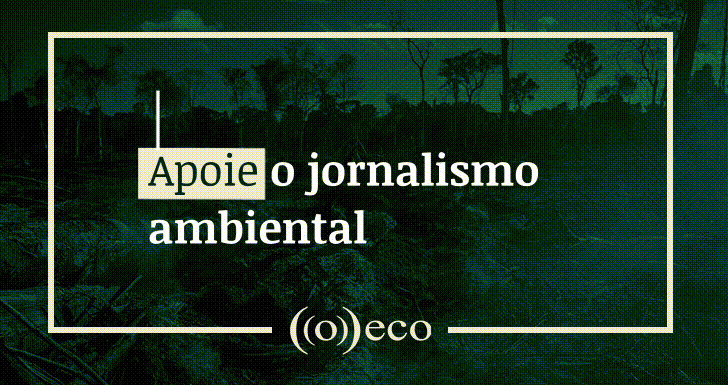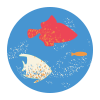Michael Walsh fez questão de começar sua palestra sobre o Desenvolvimento do Mercado de Gases de Efeito Estufa enchendo a bola de vários brasileiros presentes e ausentes ao seminário “As Mudanças Climáticas Globais os Mercados de Carbono e Perspectivas para as Empresas Brasileiras”, promovido pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. O vice-presidente sênior da Chicago Climate Exchange, a bolsa pioneira de comércio de créditos de “greenhouse gas”, estava sendo justo e bem educado. Justo porque, de fato, o Brasil exerceu papel importante no núcleo principal de atores que desenharam as instituições originadas na Rio 92 e os mecanismos consagrados pelo Protocolo de Quioto. Mais, segundo Walsh, Israel Klabin e sua equipe da FBDS tiveram participação expressiva na operacionalização da Chicago Exchange.
Bem educado, porque incluiria uma nota crítica, ao final de sua apresentação muito otimista, “sobre um grande mercado, que vai explodir nos próximos anos” e que representa uma grande oportunidade para o Brasil. Esse país, que assumiu papel de liderança, não só diplomática e política, mas técnica e científica, na Rio 92, contribuiu com uma das idéias mais criativas de Quioto, o Fundo para o Desenvolvimento Limpo, que levaria ao Clean Development Mechanism, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), hoje no centro do emergente “mercado de carbono”, retirou-se de cena. Não exerce mais influência e não está investindo a sério para se tornar um ator relevante nesse processo, daqui em diante, quando ele assumirá dimensões maiores e mais relevantes. Ele defendeu enfaticamente que nós retomemos um papel preponderante nesse processo, tanto no plano governamental e diplomático, como no campo empresarial, assumindo compromissos de redução de emissão e entrando no mercado de créditos de carbono.
O físico José Goldenberg, um dos protagonistas da liderança brasileira na Rio 92, juntamente com inúmeros cientistas brasileiros, entre eles o astrogeofísico Gylvan Luiz Meira Filho, do Instituto de Estudos Avançados da USP, também presente ao seminário, fez coro. Segundo ele o Brasil deveria retomar um papel de liderança nos esforços globais para enfrentar as mudanças climáticas associadas ao aquecimento global já na Conferência das Partes de Buenos Aires, a COP10, em dezembro próximo. Ele quer uma reprise da atitude brasileira de 92 (Rio) e 97 (Quioto). “O caminho é ser criativo e tomar iniciativas”, disse ele. E essa é a questão-chave: daqui em diante, não basta ter boas idéias, ainda que práticas. É preciso ter boas práticas, que certifiquem as boas idéias. Como adiantou Goldenberg, hoje Secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o país deve adotar uma “posição convincente” e assumir um papel de “liderança responsável”.
Recomeço
Por que Buenos Aires? Porque lá, começarão a se definir as posições para a negociação, que se iniciará em 2005, relativas à Fase 2 de Quioto, que definirá o “segundo compromisso” (“second commitment”), previsto para 2012. Para Goldenberg, é o após 2012 que importa, quando os mecanismos do Protocolo estarão em plena operação, agora que a Rússia assinou e ele começou a ser implementado. E está claro que a segunda fase deverá ter metas muito mais ousadas e abrangentes que as da Fase 1 e os mecanismos do Protocolo deveriam ser ampliados e aperfeiçoados. Várias iniciativas derrotadas na área florestal, por exemplo, algumas com ativa participação do ambivalente Brasil, deveriam ser rediscutidas, para adoção nesta segunda etapa.
Goldenberg está certo, quando põe a ênfase na Segunda Fase. A Primeira, permitiu vários avanços isolados, como a criação de mercados de carbono, a CCX nos EUA e a European Climate Exchange, as restrições a emissões na Califórnia e outros estados dos EUA, compromissos unilaterais de vários países desenvolvidos, que vão além de suas obrigações pelo Protocolo. Na Segunda, não apenas haverá um movimento de convergência entre as iniciativas isoladas e as ações nacionais e multilaterais, como se iniciará a institucionalização efetiva do Protocolo, que exigirá novas regras complementares e o aperfeiçoamento das existentes com base em sua aplicação após a validação do Protocolo.
Goldenberg defende que o Brasil abra mão da posição de “não-comprometimento”, que o Protocolo lhe permite, por pertencer ao Anexo 2 de países, e assuma uma posição mais ativa no controle de suas emissões, que lhe permitiria ter um papel mais central na operacionalização das políticas e instituições multilaterais e se beneficiar das vantagens econômicas que esse novo mercado propiciará. E será um mercado de grandes proporções e importância crescente, direta e indireta, na economia global. Walsh enche a boca para enfatizar “how big it will be”. Só na Europa, olhando exclusivamente o mercado de crédito de carbono, ele imagina algo como 20 bilhões de dólares em volume anual de transações, permitindo um giro de aproximadamente 100 bilhões, no curto prazo. Mas é preciso levar em conta a expansão da demanda, já visível e que crescerá muito ainda, por todas as linhas de produtos que ajudem o cumprimento das metas de redução de emissões e por produtos certificados.
Para se qualificar como ator protagonista na diplomacia ambiental multilateral e no “mercado do clima”, o Brasil tem que se mexer. Não apenas mobilizar, novamente, nossa inteligência ambiental, para pensar alternativas criativas e avançadas, como quer Goldenberg, mas adotar práticas efetivas de preservação e redução de emissões. A tragédia que se desenrola na Amazônia, passa a ser uma questão chave. Até porque nos coloca como 6ª maior fonte de emissões de carbono do mundo e nos desqualifica no âmbito da política e do mercado de carbono.
Em compensação, o Brasil poderia influenciar a redefinição do status do reflorestamento na geração de créditos de carbono – hoje gera um bônus de terceira linha – e na inclusão da preservação da cobertura florestal, que ficou fora do Protocolo. A preservação de florestas, que contribui diretamente para evitar o aumento das emissões, não gera dividendos nesse mercado e poderia passar a gerar. Seria um poderoso incentivo a mais para fortalecer a coalizão pela preservação da Amazônia, hoje francamente perdedora.
O físico Luiz Pinguelli Rosa, concordou com Goldenberg, sobre a necessidade de reativação do papel brasileiro na discussão global sobre o clima. Para ele, a questão será como conciliar o Anexo 1 e a responsabilização dos países do Anexo 2. Ele contou à platéia do seminário que combinou com o presidente Luiz Inácio reunir uma parcela expressiva da inteligência científica e ambiental brasileira, para uma reunião preparatória à COP10 de Buenos Aires e que iniciaria, também, a formatação das posições brasileiras para a rodada de negociações da Segunda Fase de Quioto. Como nesse governo tudo é lento, ninguém sabe se a reunião sairá em tempo. Falta menos de um mês para a COP10.
Consenso Brasileiro
Pinguelli Rosa discorda da tese de Goldenberg de que essas reuniões são para discutir clima e não para resolver os problemas de desigualdade mundial, o que levaria, na prática, a eliminar a diferença entre os anexos do Protocolo e estabelecer compromissos para todos. Essa posição reflete uma faixa significativa da opinião da esquerda ambientalista brasileira, presumivelmente sobre-representada no governo petista e corresponde à posição já adotada pelo Brasil, de que as emissões devem ser calculadas desde o final do Século XVIII e não a partir de 1990.
Este é o ponto de partida para que se busque uma linha de consenso doméstico que, ao mesmo tempo, permita encaminhar uma solução diplomática multilateral globalmente viável e aceitável para o Brasil. Essa posição de consenso representaria o abandono, pelo Brasil, da atitude defensiva que sempre adotou nesse tema e que alimentou atitudes ora ambivalentes, ora contraditórias, nas negociações de Quioto. Legitimaria nossa liderança na defesa de uma “terceira via”, entre a pressão pelo “comprometimento global indiferenciado” e a postura, que hoje é a brasileira e foi recentemente adotada pela China, de “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, como forma de eximir esses países de compromissos multilaterais. Pela fórmula atual, por estarem fora do compromisso, esses países adotam programas e metas de controle de emissões de sua livre escolha. É esta, por exemplo, literalmente, a fórmula que a China vem anunciando formalmente, como sua nova postura ambiental.
O consenso significaria, talvez, caminhar na direção de uma reinterpretação da tese, consagrada na Rio 92, de “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, que substitua o voluntarismo pelo compromisso exigível com metas de redução de emissão por todos os países, porém, diferenciadas em função da responsabilidade pelo passivo de carbono acumulado. Dessa forma, os países de desenvolvimento mais antigo, têm responsabilidades com esse passivo, que os de desenvolvimento mais recente não teriam, mas não seriam mais eximidos de responsabilidades presentes e futuras.
Haverá obstáculos diplomáticos importantes, para traduzir negociadamente essa fórmula em uma política que possa ser incluída na Fase 2 do Protocolo, com o apoio dos principais atores. Como ficariam, por exemplo, as responsabilidades da Rússia, diante do passivo da URSS? Ou da Alemanha unificada, em relação ao passivo da Alemanha Oriental?
É certo que não será possível persuadir o Brasil governado pelo PT, a aceitar responsabilidades iguais. Por outro lado, é essencial que nós assumamos nossas responsabilidades, unilateral e multilateralmente, única maneira de estancar a tragédia da devastação amazônica, preservar o restinho de Mata Atlântica e defender o Pantanal, entre outras necessidades de primeira ordem no campo ambiental doméstico. Além disso, por meio desse comprometimento público global, nos qualificaríamos para incorporar o mecanismo de desenvolvimento limpo como uma das opções centrais para um novo modelo de desenvolvimento sustentado e sustentável para o país.
Ficção ou verdade?
Walsh não estava rasgando seda quando falou da contribuição brasileira às discussões sobre mudança climática. Ela está registrada. Eduardo Viola, do Departamento de Relações Internacionais e do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, em trabalho apresentado ao XXXVII Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, diz que “durante a Conferência (Rio 92) e o período imediato anterior, maio/junho de 1992, o governo brasileiro concluiu a mudança iniciada em fins de 1989 na direção de uma política exterior responsável”, em relação aos problemas ambientais globais.
Sua avaliação de nossa política ambiental continua valendo e indica que ela precisa mudar urgentemente. E todos os sinais do governo Lula são de que não vai mudar. Por isso é importante a iniciativa de Pinguelli Rosa, talvez a voz mais influente no atual governo com melhor entendimento do problema e trânsito junto a outros setores da inteligência ambiental brasileira.
Viola diz que a “política ambiental internacional do Brasil é defensiva, não aproveitando, nas negociações globais, as oportunidades abertas por cruciais vantagens comparativas: forte peso das fontes renováveis na matriz energética atual (hidroelétrica e biomassa) e potencial (solar, eólica); maior megabiodiversidade do planeta e conseqüente grande potencialidade de desenvolvimento biotecnológico transnacionalizado; e, gigantescas florestas que produzem um serviço ambiental global seqüestrando carbono”.
Apesar dessa postura defensiva, o Brasil avançou muito, no início da década de 90 do Século passado, e foi progressivamente perdendo o gás. Nesse caso, gás limpo que alimenta a criatividade e a liderança no campo ambiental.
Da Liderança à Abdicação
Viola mostra que o Governo Collor promoveu mudança considerável na atitude ambiental brasileira. O presidente queria se firmar internacionalmente e ganhar a simpatia de setores que lhe haviam sido hostis na campanha eleitoral. “Logo depois de eleito, Collor percebeu imediatamente que a ênfase na proteção ambiental era provavelmente sua maior moeda de troca na nova parceria pretendida com o Norte. Além disso, Collor também percebeu que a escolha do Brasil para sediar a UNCED-92 por parte da Assembléia Geral da ONU, efetuada poucos dias depois de sua eleição, dava-lhe uma grande oportunidade para projetar sua pessoa e seu governo no cenário internacional”. Quando nomeia Lutzenberger como Secretário de Meio Ambiente, em março de 1990, relata Viola, ele sinaliza que o governo brasileiro pretendia assumir uma nova responsabilidade ambiental.
A análise de Eduardo Viola coincide com as palavras iniciais de José Goldenberg, no seminário da FBDS, sobre mercados de carbono. Ele contou que, nomeado secretário de Ciência e Tecnologia de Collor, já convencido da necessidade de um acordo mundial para contenção dos gases de efeito estufa, por causa das evidências científicas sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas conclusivamente reveladas na década de 80, propôs ao presidente que o Brasil se preparasse para ter um papel criativo e proativo na Rio 92. “Percebi que o presidente, pelo seu olhar, compreendeu que seria uma oportunidade de se projetar internacionalmente”, contou Goldenberg. Collor criou as condições para que o grupo de brasileiros pudesse trabalhar e, em parceria com o Itamaraty, tivesse papel de protagonista e não apenas país-hóspede na conferência.
Eduardo Viola, em seu estudo sobre a globalização da política ambiental no Brasil, conta como foi: “Goldemberg, sucessor de Lutzenberger na Secretária de Meio Ambiente, liderou com sucesso, junto com o novo chanceler [Celso] Lafer (mais competente e consistente que [José Francisco] Rezek na virada rumo ao globalismo) a posição brasileira na Rio-92, incluindo os aspectos organizativos e operacionais para a realização da conferência”. Apesar dos conflitos tópicos entre o Chanceler e o Secretário de Meio Ambiente, o Brasil “co-liderou na redação da Convenção de Biodiversidade; facilitou o acordo na convenção de mudança climática e teve posições consistentemente favoráveis a compromissos a favor do desenvolvimento sustentável na Agenda 21”.
Esse papel central do governo brasileiro, envolvendo a comunidade científica nacional, com várias conferências preparatórias, criou o ambiente propício à mobilização mais ampla dos setores politicamente ativos da sociedade na área ambiental. Não apenas dos cientistas de inúmeras universidades brasileiras, mas de setores do emergente ambientalismo nacional. Estes teriam seu impulso definitivo, na preparação e na realização da Rio 92. O processo de preparação e realização da UNCED teve forte impacto sobre o movimento ambientalista brasileiro, explica Viola. “Nas vésperas da realização da Rio-92 o Fórum Brasileiro de ONGs e movimentos sociais já tinha realizado sete encontros plenários nacionais e contava com a filiação de aproximadamente 1.200 organizações. A preparação e realização do Fórum Global contribuiu fortemente para inserir o ambientalismo brasileiro num processo internacional de networking e também alargou o debate político-ideológico”, ainda pouco influenciado pelas vertiginosas mudanças após a queda do Muro de Berlim, conclui.
Em 1997, o Brasil reassumiu um papel de destaque, participando ativamente das decisões técnicas e científicas que levaram, finalmente, à definição e operacionalização do mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL). Em 2000, liderou o Mercosul na adoção do Protocolo Ambiental adicional, que liga a integração regional ao compromisso com a proteção ambiental, como indica Eduardo Viola, em outro trabalho, mais recente apresentado ao seminário sobre “Florestas, cidades, mudança climática e pobreza: novas perspectivas da política do meio ambiente no Brasil”, em março passado, no Centro de Estudos Brasileiros, da Universidade de Oxford.
Da Abdicação ao Regresso?
Durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil iniciou, no campo ambiental, uma trajetória de contradições que está sendo mantida e agravada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O país passou do ativismo inercial da última fase do governo Cardoso, à total abdicação de um papel relevante no cenário ambiental global e à agrave omissão ambiental no plano doméstico.
Eduardo Viola, em seus dois trabalhos, relata como o governo anterior adotou uma série de iniciativas de relevância ambiental, principalmente em cooperação com o governo Clinton. Entre elas, o Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA). E, ao mesmo, tempo, incentivou ações, em outras áreas que agravaram muito nossa crise ambiental.
Cardoso não conseguiu eliminar a ambivalência das posições brasileiras no âmbito global, nem resolver as contradições entre as políticas de desenvolvimento e a política ambiental do governo. Como analisa, de forma muito pertinente, Eduardo Viola, houve “um grande paradoxo no governo Cardoso. FHC é (de longe) o presidente brasileiro que melhor compreendeu intelectualmente a questão da sustentabilidade ambiental, mas politicamente tem sido nula sua capacidade de liderar a formação de coalizões de reforma que internalizassem a questão da sustentabilidade ambiental no conjunto das políticas públicas, e tem sido muito conservadora/ineficiente sua política especificamente ambiental e Amazônica. Durante a presidência de FHC a posição relativa do Brasil na América Latina mudou bastante. Até início da década de 1990 o Brasil era, junto com a Costa Rica, o país mais avançado da América Latina em termos de política ambiental. No fim da década de 1990, México, Chile e Costa Rica estão na frente do Brasil em termos de política ambiental nacional, e a Argentina e a Costa Rica são mais responsáveis que o Brasil em termos de política ambiental internacional”.
Essa ambivalência fez com que o Brasil, como explica Viola em seu texto mais recente, levasse a Quioto a mais inovadora contribuição, o Fundo para o Desenvolvimento Limpo, que depois se transformou no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, resultado da cooperação diplomática e científica entre Brasil e Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, adotasse uma posição defensiva e atrasada no campo florestal. Viola sustenta, com razão, que o Brasil tem feito coalizões com países que tem uma matriz de carbono muito distinta da nossa, com participação muito mais reduzida de energia limpa e cobertura florestal muito inferior. No final do período Cardoso, o Brasil se desengajou do front ambiental.
Com a eleição de Lula, o que parecia uma esperança, se tornou, imediatamente, uma ameaça. A ministra Marina Silva, liderança forte na sociedade civil, se tornou uma autoridade ambiental fraca. Adotou uma visão parcial dos interesses e necessidades ambientais brasileiras. Permitiu que a visão energética da ministra Dilma Rousseff subordinasse as posições dos órgãos ambientais. Pior, uma ministra oriunda dos movimentos sociais amazônicos, uma liderança política amazônica, pilotou o recorde de destruição da Amazônia, nos seus primeiros dois anos de gestão. A truculência com que o governo forçou a aprovação da lei de Biossegurança no Senado, em aliança com os ruralistas, mostra que está cada vez mais longe de uma posição que lhe permita liderar a formação de um consenso ambiental nacional. Ela, Lula e o PT têm dois anos para se redimir.
Nova Chance
O começo dessa redenção poderia estar na provisão dos meios necessários a que Pinguelli Rosa consiga, de fato, fazer uma reunião preparatória para a COP10, mobilizar, novamente, nossa inteligência científica e ambiental, para que reassumamos papel de ponta na discussão climática global.
Mas a reunião de nada adiantará, se não for acompanhada por, no mínimo, três condições necessárias e inarredáveis, que criam responsabilidades pessoais, políticas, coletivas e oficiais.
A primeira diz respeito ao papel de articulador dos esforços da comunidade científica e ambiental brasileira, conferido a Pinguelli Rosa por Lula. Ela cria a responsabilidade de organizar uma conferência preparatória de excelência, mas amplamente pluralista e com a firme e sincera intenção de formar um “consenso brasileiro”, que permita à nossa diplomacia negociar com força, novamente, no cenário global.
A segunda, é do núcleo dirigente do governo. Se ele não assumir como sua, a nossa responsabilidade ambiental e não usar sua autoridade para alinhar os ministérios relevantes para que obedeçam aos parâmetros que correspondem a essa responsabilidade, todo esforço será inócuo. E a primeira obrigação é reverter, rapidamente, o processo em curso de destruição da Amazônia.
A terceira é para a ministra do Meio Ambiente. Ou ela afirma sua autoridade na área, adota a necessária visão ampla dos interesses e necessidades ambientais do país, abandonando a visão parcial que marcou sua gestão até agora, ou ela será a protagonista principal de nossa abdicação ambiental.
Até agora, estamos perigando transitar da postura desengajada do final do governo FHC, para uma abdicação geral da responsabilidade ambiental. Da paralisação do progresso para o regresso ambiental. Mas temos essa nova chance, para mudar internamente de atitude, de modo a fortalecer nossa posição global e, de sujeitos passivos desse novo estágio de ação ambiental global, passarmos a co-autores da história do futuro.
Leia também

Fundo Casa abre chamada de R$ 2,5 mi para apoiar projetos na Mata Atlântica
O edital nacional prevê financiamento de até 42 iniciativas comunitárias voltadas à restauração florestal, geração de renda e adaptação climática no bioma →

Exposição imersiva sobre crise climática chega ao Rio
Exposição gratuita do Coral Vivo reúne experiências sensoriais e conteúdos científicos para mostrar como a crise climática já afeta oceanos, ecossistemas e sociedade →

Albardão não é de nenhuma pessoa. É, finalmente, deles
O Parque Nacional representa mais do que uma vitória política, técnica ou institucional. Ele representa uma rara decisão civilizatória: a de dizer que o mundo não existe para ser usado →