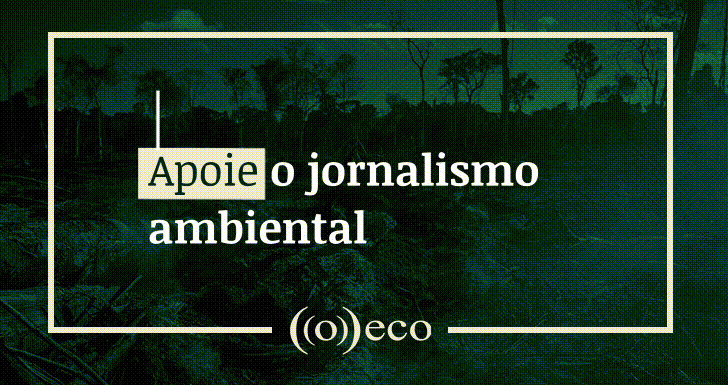Faço parte de uma geração que tinha utopias. Utopias servem para nos ajudar a não perder o rumo, não ceder aos sentimentos de derrota ou ao pessimismo. É preciso alguma disciplina do espírito, para não acreditar demais em nossas fantasias e transformá-las em verdades absolutas. Mas, bem calibradas, as utopias servem de guia para uma vida ativa, de auto-desenvolvimento e de participação na construção de caminhos que permitam chegar cada vez mais próximo daquela visão de futuro, da boa sociedade. A questão ambiental requer uma utopia, que construa um mundo sustentável possível, capaz de dar tanto ou mais bem-estar que o mundo industrial que estamos deixando para trás.
Só creio em utopias radicalmente democráticas. As utopias totalitárias não têm essa função de mobilizar o talento coletivo para ter mais felicidade. São apenas um artefato de dominação. Oprimem. A utopia tem que ser, por definição libertária, redencionista. A maioria das utopias radicalmente democráticas, imaginava que a forma evolutiva superior de sociedade seria a sociedade auto-organizada, auto-governada. A forma dessa auto-governança varia, mas a informação essencial é a mesma: uma sociedade de indivíduos que têm a faculdade de fazer e dirigir sua própria história. Todo ideal societário contém uma utopia material e uma utopia política. A utopia material inclui, evidentemente, a idéia de garantia sustentável do bem-estar. Supõe que a riqueza das nações se faz em benefício de seus indivíduos e de forma a permitir o progresso continuado de ambos. A república virtuosa, portanto, há de ser ambientalmente sustentável e economicamente justa.
O otimismo realista se pergunta sobre a viabilidade de seu ideal e sobre o valor de sua utopia. E, ao fazê-lo, dá com um problema que, como dirá Wanderley Guilherme dos Santos em ensaio a ser publicado em breve, “nem o iluminismo clássico resolveu, nem o iluminismo contemporâneo tem resolvido”: como reconciliar interesses particulares com interesse coletivo. Cabe à utopia supor que esse dilema tem solução, ainda que em um futuro não especificável. O otimista sabe que, enquanto isso, não se deve abandonar o ideal da auto-regulação, nem, tampouco, em nome dele, comprometer o presente, sacrificando a regulação necessária, para aumentar as chances de sobrevivência da sociedade ou de partes dela. A diversificação contemporânea dos interesses, em escala local e global, ampliou, ao invés de reduzir, a distância entre os interesses individuais e corporativos e o interesse coletivo. O desafio ficou mais difícil.
Lógica Trágica
Garret Hardin modelou esse desafio em um importante ensaio, ainda nos anos 60, no qual descreve e explica a “tragédia dos comuns”. O termo tragédia, utilizado por Hardin para caracterizar esse dilema, não quer nos condenar à infelicidade inescapável, mas ao movimento inexorável que devemos enfrentar com sabedoria.
Parece pouco discutível que a maioria dos ambientalistas tem uma visão trágica do futuro, no sentido mais comum de tragédia, como perda, dor, sofrimento, irremediáveis. Quase sempre acompanhada da idéia de que tudo resulta da “ação torta” e arrogante, ou auto-complacente – hybris – daqueles que constroem a trama trágica. Mas, que lógica é essa que empurra as pessoas a um destino trágico? É uma lógica nascida da tensão entre o geral e o particular, entre vontade e limite.
Nietzsche propõe que ela surge dessa tensão entre o desejo humano e a necessidade de contenção, para não extrapolar os limites do humano. Resulta da contrariedade entre as culturas dionisíaca e apolínea, entre a voracidade dionisíaca e a disciplina apolínea. A tragédia ocorre quando o indivíduo, “com toda a sua contenção e proporção”, termina por “sucumbir ao auto-esquecimento do estado dionisíaco, desprezando os preceitos de Apollo”. Trágico, portanto, é o desfecho de sofrimento, resultante da indisciplinada busca de algo além dos limites humanos.
Essa contrariedade entre as paixões dionisíacas e a disciplina apolínea dá ao dilema ambiental tal como posto em muitas de suas versões, um outro alcance, pois nos apresenta uma saída possível: “os preceitos de Apolo”, a autodisciplina. Ela está explícita na visão de Hardin, quando ele nega a possibilidade de realização do “máximo bem, para o máximo de pessoas”. A esse desejo “dionisíaco”, é preciso aplicar uma disciplina “apolínea”, uma restrição, porque um mundo finito não pode satisfazer desejos sem fim. Esse contraste entre desejo e disciplina está no cerne da tragédia dos comuns e é fundamental para a visão contemporânea da tragédia ambiental.
George Steiner, em seu ensaio sobre a Antígona de Sófocles, diz que a tragédia “dramatiza a oposição entre a consciência privada e o bem-estar público”. Ela enfatiza “a historicidade concreta e a natureza coletiva das escolhas éticas que o indivíduo é compelido a fazer”, como dizia Hegel. Steiner chama atenção para o fato de que sai do miolo da tragédia sofocleana a colisão entre o estado e o direito privado. Esta forma de ver as tensões trágicas nos leva a dois planos de oposições. O primeiro, entre desejo e disciplina, o segundo entre a razão de estado e o direito privado. O seu entrecruzamento está no coração do programa ambientalista contemporâneo e nos remete a dois temas essenciais: da educação cívica para a ação e da regulação externa legítima da ação individual.
O Espelho Trágico
Froma Zeitlin. professora de literatura comparada da universidade de Princeton, propõe que a tragédia grega separa Tebas, como o local onde se passa a ação trágica, de Atenas, onde os cidadãos são expectadores ativos desse drama. Tebas, “o outro lugar”, ofereceria o modelo negativo da imagem que Atenas faria de si mesma, com base em suas noções do adequado governo da cidade, da sociedade e do indivíduo. Tebas seria o palco no qual Atenas levantaria, sob a forma dramática, questões cruciais para o desenvolvimento e a preservação da polis, para a pessoa, a família e a sociedade. Esse confronto entre a cidade idealizada e o espaço trágico permitiria ver em ação os múltiplos dilemas que deverão ser objeto de escolha na construção da boa sociedade: democracia versus tirania, cidade/estado – solidariedade coletiva – versus família/indivíduo – particularismo – desejo versus restrição, força versus direito. Em Tebas, impera o destino como castigo pelas escolhas erradas. Em Atenas, se “pode escapar ao trágico e a reconciliação e a transformação se tornam possíveis”. Logo, a função da ação trágica em Tebas, seria educar os cidadãos e governantes de Atenas sobre as conseqüências terríveis de suas escolhas erradas.
O conhecimento liberado do jugo da vontade humana, se estabelece como arte – e a tragédia é uma das formas superiores dessa arte – e se torna “um claro espelho do mundo”. Tebas é o espelho onde Atenas pode se ver, antes de realizar seu próprio destino.
A dramaturgia grega tinha, sem a menor sombra de dúvida, uma função pedagógica e libertadora, de desalienação dos cidadãos. Só é possível educar e persuadir verdadeiramente pela demonstração do bem. Raramente a demonstração do mal convence os atores a mudar seu comportamento. Só com coação. A limitação voluntária dos apetites se faz pelo investimento em bem maior, dificilmente para obter um mal menor.
Aquelas contradições todas postas pela pedagogia do trágico estão gravemente presentes nos dilemas relacionados ao chamado futuro sustentável da humanidade. E a tragédia dos comuns é, precisamente, a fábula trágica recriada para alertar a polis global da conseqüência inexorável de suas escolhas, que têm agravado e não resolvido essas antinomias.
Outro Tempo
As profecias dos novos oráculos não se cumprem no tempo biológico dos atores, como acontece na tragédia clássica. Nem a ciência é um espelho tão claro quanto a arte. Mesmo sabendo que estamos encurtando a vida do planeta e das nossas gerações futuras, a perspectiva de tempo que nos apresentam é intangível para nossa consciência. Simplesmente não conseguimos entender e processar os tempos geológicos e cósmicos, mesmos os mais curtos, de centenas de milhares de anos, o que dizer dos que se expressam em bilhões de anos.
Encurtar em algumas centenas de milhares de anos o prazo para o fim da existência humana, deixando alguns milhares de anos, ainda, para benefício da vida das gerações futuras mais remotas que se possa prever concretamente – de forma muito otimista, ponha-se esse horizonte de previsibilidade crível em 200 anos – parece muito razoável. Se for essa a troca que fazemos, quando depredamos o ambiente, não há como persuadir a maioria a não preferi-la. Quem, racionalmente, não preferirá progresso sem limitações, nos próximos 200 anos, ao custo de alguns milhares de anos de existência planetária, a menos?
Nós experimentamos mudanças em larga escala em tempo muito mais curto que os cidadãos dos Séculos XVIII e XIX. Rios caudalosos que desapareceram, campos que viraram deserto, regiões geladas que se aqueceram. Os cidadãos do Século XXI estão destinados a experimentar mutações em escala ainda maior, em tempo ainda mais curto. Portanto, a urgência das ações corretivas aumentou. Porém, a complexidade da sociedade e dos processos políticos pelos quais se processarão as escolhas sobre os meios de corrigir e coibir a destruição ambiental também aumentou muito. Em síntese, ficou mais necessário, mais urgente e mais difícil.
Jared Diamond, está convencido de que temos os meios e o tempo necessários para evitar a tragédia ambiental. No subtítulo de seu mais recente livro, Colapso, deixa claro que é uma questão de escolha “Como as sociedades escolhem fracassar ou ter sucesso” (Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed). Ele sugere que sempre fomos fazedores de nossa própria história, mas nem sempre com resultado positivo. Há vários casos de interrupção do processo evolutivo de sociedades inteiras. Mas há casos de sucesso que mostram que as sociedades têm escolha, seu caminho rumo ao futuro não é pré-determinado.
Já começam a surgir cenários, que antecipam uma mudança efetiva no clima, para daqui a 10, 20 ou 50 anos. Começamos a nos aproximar do tempo clássico da tragédia. Para os mais velhos, significa que seus filhos e netos sofrerão as conseqüências do que sua geração e a de seus pais e avós fizeram. Para os mais novos, suas próprias vidas podem ser afetadas.
Ouso prever que, se esses cenários forem sustentados por mais e melhores evidências convergentes e chegarem à opinião pública de forma mais persuasiva, o apoio ativo ao combate aos gases de efeito estufa se tornará majoritário. E a pressão do demos forçará os senhores do Olimpo político e econômico a reverem suas estratégias. Só então, é possível imaginar que terá início uma ação consistente e serão criados os mecanismos de governança global, para administrar o clima, esse bem público incontrolável e até muito pouco tempo atrás intangível.
A Saída, onde fica a saída?
Hardin quis mostrar que o dano coletivo resulta da pura racionalidade individual. Para a questão mais simples, da terra comum, ele oferece uma solução simples: propriedade privada ou algo que equivalha. É a mesma lógica que o Ministério do Meio Ambiente está aplicando no caso das florestas. Submetidas ao ataque particularista de grileiros, agricultores e pecuaristas, elas não têm proteção suficiente. Privatizando-se o seu uso, elas passarão a ser defendidas como se privadas fossem. O detentor do direito de exploração deixaria de agir como puro predador, cuidando de preservar o que pode lhe dar lucro sustentado a longo prazo, se proceder a seu adequado manejo. Não é uma lógica tão sólida quanto parece. Os muitos casos de fracasso de empreendimentos privados, colocam em dúvida a lei de ferro da racionalidade individual como perfeitamente eficaz no plano privado.
Ele bem reconhece que, quando se chega à seara dos “bens públicos”, a simplicidade das soluções desaparece: “a tragédia dos comuns como uma cesta alimentar, é evitada pela propriedade privada ou algo formalmente similar. Mas o ar e as águas que nos cercam não podem ser facilmente cercados e, portanto, a tragédia dos comuns como um poço deve ser elidida por meios distintos, por leis coercitivas ou mecanismos de taxação, que tornem mais barato para o poluidor tratar seus poluentes a despejá-los sem tratamento”. Ele tem, então, duas propostas de solução para o dilema: educação, como forma de revelar aos indivíduos a necessidade da temperança, e regulação. “A educação pode se contrapor à tendência natural a fazer a coisa errada, mas a inexorável sucessão das gerações requer que a base desse conhecimento seja constantemente atualizada”.
O conhecimento vem sendo atualizado e temos testemunhado grandes saltos na sua produção, em todas as áreas. Dialeticamente, quanto mais conhecemos, mais consciência temos de como é enorme nossa ignorância. A expansão da fronteira do conhecido expande a fronteira do que ignoramos. Adquirimos cada vez maior capacidade não só de conhecer, mas de divisar o que não sabemos. O problema está é na transmissão desse conhecimento atualizado e no uso das tecnologias que ele proporciona, para sua própria difusão e popularização.
No mundo todo, a educação vive um momento de crise e perplexidade. As tecnologias que utilizamos na economia, na sociedade, nas empresas e em casa, não chegaram à sala de aula. O hardware e o software por meio dos quais se dá a oferta educacional, hoje, são anacronismos que aprisionam os alunos em um cenário educativo medíocre, desestimulante e atrasado, em relação ao conhecimento que as ciências e as artes produzem. A educação não transmite o conhecimento contemporâneo, nem permite a atualização do conhecimento clássico, para enriquecimento cultural, artístico, histórico e científico. O ensino ficou, simultaneamente, imediatista e velho. Portanto, é na educação que precisamos de uma revolução, que instrumente a formulação de novos programas cívicos, adequados a cada cultura local e à nova era global.
Na militância ambiental, como comentei em coluna anterior, têm razão Michael Schellenberger e Ted Nordhaus, ao dizer que as alianças erradas, as campanhas mal feitas, a incapacidade de se comunicar com eficácia, estão neutralizando o ambientalismo. A militância ambiental só faz sentido se for eficaz na educação e na regulação. Ou seja, o ambientalismo tem que se tornar mais apto, mais eficaz e mais eficiente, na sua missão pedagógica, de persuasão, de difusão do conhecimento atualizado e na advocacia de políticas públicas, de regulação.
O Brasil e sua Tragédia Particular
Já propus, em outra ocasião, que, no Brasil, a crise ambiental está embutida numa crise geral do estado e da sociedade. Crise que agrava nossos desafios, tanto no âmbito da educação, quanto da regulação. Na educação, estamos vivendo um momento de claro retrocesso, após um ciclo de muita expansão quantitativa na educação básica. Mas o ensino médio continua em escombros e o universitário à deriva. A educação privada de nível superior enfrenta, hoje, o assédio dos medíocres e desonestos pela base e o ataque discriminatório e discricionário do governo, pelo topo. Estamos muito aquém de podermos começar um debate sério sobre mudanças radicais de tecnologia e conteúdo educacional no Brasil. Precisamos, porém, urgentemente de educação com conteúdo renovado e relevante, nos três níveis: elementar, médio e superior. Precisamos de uma revolução na pesquisa e na pós-graduação e que permita ampliar significativamente o papel das instituições privadas nesse campo.
A contradição aguda entre interesses individuais e coletivos no Brasil, o racismo, a destruição ambiental e patrimonial, a anomia urbana aguda, representam um megadesafio de educação cívica. Um desafio que não cabe apenas à estrutura formal de ensino: ele compromete as organizações civis, a imprensa livre, as empresas e o ambientalismo, em particular. Significa constituir uma onda cívica formadora de opinião e motivada para a ação pedagógica. Perdemos todas as referências cívicas e a nossa sociedade civil está sitiada pela ressurgência do estado de natureza em várias partes de seu território físico: a Amazônia sem lei, que engolfa a Amazônia legal; as cidadelas do banditismo, que sitiam as metrópoles; as facções corruptas, que empolgam parcelas do aparelho estatal.
Evidentemente, outra parte da resposta é a regulação. Mas regulação sem embasamento cívico é pura discricionariedade. Não é possível usar, correta e legitimamente, a dose ou a forma de coerção, em uma sociedade que perdeu a identidade cívica, a visão e os valores que solidarizam o indivíduo à comunidade, embora mantendo sua individualidade. Como falar em governança regulatória, em ação policial responsável, em restrições legítimas para obter disciplina e temperança, se não há uma liga valorativa que legitime essa governança? Diante da dissolução de nossa cultura cívica e da fragmentação de nossa sociedade civil, pensar no respeito ao patrimônio ambiental, na valorização de nossa diversidade natural e social, nem é utópico, beira ao delírio.
A crise do estado contamina toda a estrutura governamental. É uma das causas principais, não a única, do colapso gerencial de vastas parcelas do aparelho de estado. O déficit estrutural imobiliza e vai sufocando lentamente todo o organismo estatal. Sem uma reforma profunda e revolucionária, com ampla descentralização federativa, abrangente desconstrução das estruturas existentes e construção de um aparelho de estado voltado para os desafios do Século XXI, não há muito que esperar da área pública.
Em síntese, o desafio brasileiro é um só e enorme, porque ele diz respeito à superação de uma profunda crise da sociedade e do estado. A crise ambiental integra a crise geral, embora se diferencie dela. Mas não há como superá-la, sem enfrentar a outra.
Responsabilidade sem álibi
O princípio de ação ambientalista – “pensar globalmente, agir localmente” – nos remete ao plano da sociedade brasileira. Seguindo Schopenhauer, não podemos nos desobrigar de nossas responsabilidades independentemente das responsabilidades históricas na produção dessa tragédia. Houve erros e acasos, maus comportamentos e escolhas perversas, cabendo aos mais poderosos, em cada ciclo histórico, a maior parte das culpas. Mas a culpa dos outros não nos desobriga de nossos próprios deveres. Nem apaga nossas próprias culpas, como a destruição da mata atlântica e do cerrado.
Nossa polis está, no mínimo, desconjuntada e perdemos a noção de nós. A maior parte de nossa identidade, hoje, não se constrói por nós e para nós, mas contra os outros. No caso da Amazônia, isso é patente: o consenso de que ela é nossa e de rejeição à intrusão estrangeira, é praticamente unânime. Mas não se repete quanto à obrigação de preservá-la de nós mesmos. Rejeitamos qualquer intervenção estrangeira, até mesmo seu interesse na preservação de nosso patrimônio natural. Mas não negamos aos brasileiros, com a mesma veemência, em nome da mesma nação brasileira, o direito de destruí-la. Basta ver a unânime indignação com que foi recebida entre nós a manifestação de Pascal Lamy, candidato a Secretário Geral da OMC, a favor da globalização do esforço de preservação da Amazônia. Aposto que não será correspondentemente unânime ou indignada a reação nacional, quando ficarmos sabendo quanto destruímos da Amazônia ano passado. Suspeito que algo muito próximo dos 30 mil quilômetros quadrados. O equivalente a uma Bélgica, se foi, em um único ano.
Tenho certeza de que se um inglês absurdo qualquer resolvesse comprar as rochas com pinturas rupestres da Serra da Capivara, para levar para o British Museum, haveria um levante nacional contra ele. São registros de nossa história mais ancestral, medida naquela escala impensável do tempo geológico. Mas dada a inexistência de ameaça estrangeira a esse “patrimônio”, ninguém se importa muito que invasores brasileiros de terras, destruam as pinturas, botando fogo no parque. É absurda a história que Niéde Guidon contou em sua entrevista a O Eco, de que os habitantes de Guaribas estão usando “água fóssil”, de 9000 anos, retirada do subsolo do parque nacional, para lavar as calçadas. Se fossem gringos, seria um escândalo, mas como são os beneficiários do pacote inaugural do “Fome Zero”, paciência. Se é coisa nossa, pode. Não temos o pecado original de sermos “o outro”.
Nesse processo de desvalorização de nosso patrimônio societário (histórico, cultural e natural) perdemos a integridade como Nação. Não temos a nossa Atenas, para preservar dos erros que afligem a Tebas. Dessa forma viramos o palco onde se desenrola a tragédia e ela perde a sua capacidade pedagógica, para se tornar apenas uma profecia inexorável.
Mas, digamos que nos empenhemos em construir, positivamente, uma identidade mínima que nos identifique como brasileiros, por nós e para nós mesmos e não pela negação “aos outros”. Se criarmos a visão de um Brasil-Atenas, que queiramos valorizar e preservar, passaremos a poder olhar criticamente para o Brasil-Tebas e descobrir como escapar do final trágico inexorável para o qual ele ruma aceleradamente.
Leia também

Governo cria o Parque Nacional de Albardão, com 1 milhão de hectares
UC será o maior parque nacional marinho do país; Governo também criou uma Área de Proteção Ambiental no local, com 55.983 hectares →

Déficit de servidores no Ibama pressiona governo por nomeações
Com cerca de 1.600 cargos vagos, órgão ambiental enfrenta acúmulo de processos administrativos, prescrição de multas e pressão para convocação de aprovados no concurso de 2025 →

Assédio institucional e a ética no serviço ambiental
Órgãos ambientais fortes dependem de equipes valorizadas, protegidas contra interferências indevidas e amparadas por normas claras de governança →