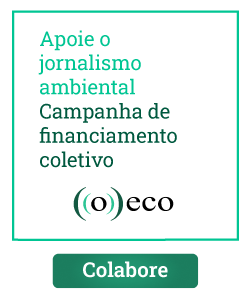As instituições de governança global parecem estar sofrendo um grave retrocesso nesta entrada do Século XXI. Protocolo de Kyoto acaba de entrar em vigor, porém sem efeito, por causa das resistências das partes. As negociações sobre o “pós-Kyoto”, não estão indo nada bem. O Banco Mundial e seu braço para o financiamento privado, estão em processo de revisão de procedimentos, em razão de relevantes objeções a seus critérios lenientes em áreas sensíveis como o meio ambiente, a exploração do trabalho e trabalho escravo. A Rodada de Doha, da OMC, que busca avançar na abertura comercial global, enfrentando o problema dos subsídios agrícolas, tem enfrentado sucessivos impasses. O Conselho de Segurança da ONU, foi incapaz de evitar a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. A ONU como um todo sofre pesadas acusações de empreguismo, ineficiência e corrupção.
Essa lista, que poderia ser muito mais extensa, coincide com o amadurecimento ou recrudescimento de uma outra lista, não menos importante, de problemas de natureza claramente global. O que são problemas globais? São aqueles que têm pelo menos duas características. Primeira, independentemente do local de sua origem ou da localização de suas causas, eles se manifestam em todo o planeta, por disseminação ou contágio. Segunda, essa interdependência torna impossível resolver o problema por ação puramente local, qualquer solução requer ações coletivas globais. São, hoje, problemas tipicamente globais o aquecimento, a destruição das reservas de pescado, a pandemia de AIDS, o narcotráfico, a lavagem de dinheiro, entre outros.
A lista de impasses, associada à de problemas globais, dá uma sensação de regresso. O alerta de Jared Diamond, em seu livro Colapso, de que as sociedades podem escolher o fracasso, parece uma epígrafe grave para o primeiro capítulo da história do Século XXI. E se sociedades locais podem escolher o fracasso e fracassar, desaparecer, às vezes sem quase deixar vestígio, não poderia o mesmo ocorrer com a sociedade humana, hoje uma emergente sociedade global? A resposta que as facções catastrofistas da esquerda e do ambientalismo, que denominei, mais academicamente, de sóciocéticas, dão a essa questão é sim. Estamos gerando uma catástrofe global e chegaremos, provavelmente, ao apocalipse, antes que consigamos mudar o mundo.
Mas a linha “profecias do apocalipse”, embora sirva para nos alertar da possibilidade do fracasso, de forma menos sóbria e fundamentada que o monumental trabalho de Diamond, além de improfícua, para as circunstâncias, me parece exagerada, à luz das evidências disponíveis. O mais provável é que não estejamos à beira de um destino trágico catastrófico e sim na transição e uma ordem mundial nacionalizada, ou seja, centrada em governos nacionais e com regras transnacionais baseadas em acordos entre nações, para um sistema de governança global, para uma ordem global sem governo mundial. O politólogo James Rosenau, um dos maiores especialistas hoje em relações internacionais, cunhou a expressão “governança sem governo”, para caracterizar essa nova ordem global emergente. Toda transição é feita de avanços e recuos. O importante é tentar separar o que é conjuntural, do que é estrutural, o que é desvio de percurso, levando a retrocessos pontuais, do que são tendências de longo prazo.
Os reacionários
Dou um exemplo, com relação à Convenção sobre Mudança Climática. A COP-11 (11ª Conferência das Partes à Convenção) evento oficial das negociações, sob a bandeira da ONU, que levou ao Protocolo de Kyoto, e a MOP-1 (1º Encontro das Partes do Protocolo de Kyoto), estão acontecendo neste momento, em Montréal, no Canadá. Tudo indica que não chegarão a bom termo, diante da resistência de um só país, Estados Unidos. Parece mais um passo rumo à tragédia, mas talvez não seja.
A resistência do EUA, embora não possa ser considerada conjuntural, tem força poente. Parece contraditório, porque essa resistência, que já resultara na recusa do governo de Bill Clinton, adepto da Terceira Via que, em princípio tem uma visão ecológica mais avançada e acredita nos mecanismos de governança global, aumentou muito, em radicalidade e rigidez, na gestão de George Bush. Ocorre, porém, que é minoritária, global e domesticamente. O impasse tem a ver com a força hegemônica do EUA nessa geopolítica de transição e com o fato de ser um dos principais emissores de gases de efeito estufa de origem industrial e de motores movidos a combustíveis fósseis.
Mas, embora o governo nacional do EUA se recuse a ratificar o Protocolo de Kyoto e aceitar suas cotas de emissão e seus mecanismos regulatórios, vários estados componentes da sua federação já adotaram padrões inclusive mais rígidos, provavelmente mais próximos do que será o “pós-Kyoto”. Mais de 180 cidades já adotaram medidas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa em seus territórios. Mais de 20 estados têm regras sobre energia alternativa e emissões de dióxido de carbono. O efeito de forças externas, sejam estados-nacionais – para usar o jargão dos politólogos – sejam movimentos globais de opinião e pressão, somado a esse movimento interno, propiciado pela democracia federativa do EUA, terminarão por se impor.
E não é só o governo Bush que piorou a posição de seu país na Convenção do Clima. O governo Lula, também piorou a posição brasileira. Fernando Henrique, da Terceira Via, como Bill Clinton, seguiu a orientação, atrasada e mal informada, diga-se de passagem, do Itamaraty, para liderar a coalizão que vetou a adoção de metas e cotas para países emergentes, com altas taxas de emissão, como nós. Por isso, perdeu-se a possibilidade de receber bônus pela preservação de florestas. Agora, embora o governo Lula tenha aderido à proposta de compensações financeiras pela preservação das florestas em pé, levou ao paroxismo a recusa a admitir metas e cotas. Um atraso, que, no nosso caso, não pode ser corrigido domesticamente, nem em parte, porque nossa federação não é democrática. Estados e municípios não têm a mesma autonomia que seus congêneres estadunidenses e se estabelecessem restrições, como lá, elas provavelmente seriam derrubadas na justiça.
Mas o Brasil deve e precisa se submeter à regulação restritiva global nessa área. Embora não sejamos responsáveis pelo estoque de emissões acumuladas desde a Revolução Industrial, somos um dos maiores emissores contemporâneos, não por causa de nossas indústrias ou nossos carros, mas por causa das queimadas, do desmatamento e de nossos bois. Queimadas e desmatamento indiscriminados e predatórios têm o mesmo significado ecológico e ético que a descarga de efluentes tóxicos nas águas por indústrias ou emissão de gases tóxicos ou elementos químicos produtores de chuva ácida, por exemplo. O nelore brasileiro não é mais aquela vaquinha de quintal. É uma commodity de alta tecnologia, produzida em escala gigantesca, formando o maior rebanho do mundo. Logo, para todos os efeitos, as emissões resultantes da produção de bosta em larga escala não são uma porcaria qualquer, têm status equivalente ao da poluição industrial. Portanto, toda nossa emissão de gases de efeito estufa deve ser contabilizada e isso nos torna um dos maiores do mundo, juntamente com a China e a Índia, entre os emergentes. E por causa disso, devemos estar submetidos a metas e cotas e ao regime de compensações para nossa participação no aquecimento global. Não vejo porque os produtores em larga escala não tenham que seqüestrar carbono na mesma proporção que emitem. Há espaço e recurso para isso. Dessa forma, teriam um balanço equilibrado de carbono. Somos grandes produtores locais de gases de efeito estufa, eles se acumulam de forma globalmente disseminada, portanto somos co-responsáveis pelo problema climático global.
A transcendência chinesa
Houve alguns avanços importantes em Montréal. A China está fazendo de tudo para mostrar que também está mudando de atitude com relação ao meio ambiente. O representante chinês chegou a Montréal dizendo que estava muito triste com a recusa do EUA. Há indicações de que parte da imensa riqueza que o país vem acumulando ao longo desses anos de alto crescimento e não menor devastação começa a ser aplicada na reversão do seu quadro ambiental de alto risco. Há projetos de cidades sustentáveis em andamento, que podem vir a se tornar modelares para o resto do mundo. David Zweig, Diretor do Centro de Relações Transnacionais da China, na Universidade de Hong Kong e Bi Jianhai, do mesmo centro, em artigo publicado na revista Foreign Affairs (“China’s Global Hunt for Energy”, Foreign Affairs, Vol. 84, Number 5, September/October 2005, pp. 25-38), argumentam que é preciso considerar os fatores mitigadores, nesse processo de crescimento das demandas chinesas por energia. Beijing está adotando metas de substituição de petróleo por outras fontes. O problema, é que parte dessa substituição é por carvão – tem a terceira maior reserva do mundo – o que do ponto de vista ambiental não ajuda. Em 2050 será o maior produtor mundial de energia atômica. Uma substituição controvertida, mas há setores do ambientalismo que passaram a apoiá-la como alternativa mais sustentável.
Mais importante, do nosso ponto de vista, é a orientação do presidente Hu Jintai, exortando os chineses a adotarem medidas de economia e exploração com o objetivo de desenvolver ativamente substitutos ao petróleo. Como se sabe, as coisas na China acontecem atrás de frases presidenciais. São capazes de grandes revoluções. Isso para inveja de muito presidente mundo afora. A frase deu origem a uma poderosa agência de energia, o Gabinete Estatal da Energia, diretamente ligado ao primeiro-ministro, e que tem por tarefa reduzir a dependência energética do país. A China não vai avançar no campo ambiental, da sustentabilidade no uso de recursos renováveis e não-renováveis, por altruísmo, mas sim por necessidade.
Zheng Bijian, um influente especialista em planejamento, atualmente catedrático do Fórum Chinês para a Reforma, em artigo para o mesmo número da revista Foreign Affairs, afirma que “os formidáveis desafios do desenvolvimento que ainda confrontam a China derivam de restrições que enfrenta para tirar sua população da pobreza. A escassez de recursos naturais – especialmente energia, matérias primas e água – é um obstáculo crescente, particularmente quando a eficiência de uso e a taxa de reciclagem são baixos” (“China’s ‘Peaceful Rise’ to Great-Power Satus”, pp. 18-24). Segundo ele, o planejamento estratégico da China – em cuja feitura teve papel importante – prevê mais 45 anos para que possa, por volta de 2050, ser considerado um país “modernizado, de nível médio”. Para chegar lá, a visão estratégica por eles desenvolvida aponta “três grandes desafios a serem superados”, o primeiro, é a escassez de recursos. “O segundo é ambiental: poluição, desperdício e uma baixa taxa de reciclagem juntos representam um obstáculo poderoso ao desenvolvimento sustentável”. Provavelmente, quis dizer sustentável para a própria China. O terceiro é a articulação entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Daí surgiu a fórmula das “três transcendências”. Toda frase presidencial produz uma fórmula que conduz a política do país até que sejam superadas por outras. Foi assim com o “Grande salto adiante”. Igualmente com a fórmula “uma China, dois sistemas”, de Deng Xiaoping, para comandar a política de anexação de Taiwan, meta em vigor até hoje. A primeira transcendência é do modelo de industrialização de alto investimento, alto consumo de energia e alta poluição. “A China está determinada a forjar uma nova trajetória de industrialização, baseada em tecnologia, eficiência econômica, baixo consumo de recursos naturais relativamente ao tamanho de sua população, baixa poluição ambiental e alocação ótima de seus recursos humanos”, diz. Tomara que dê certo.
A Comuna Global
Essa transição global em que vivemos depende, crucialmente, desse entrejogo de pressões: globais, constrangendo atores domésticos, governamentais e privados, em seus respectivos estados nacionais, a manter crescente compatibilidade entre seus objetivos nacionais e o bem-estar global; domésticas, forçando governos nacionais e subnacionais a adotarem regulação adequada para o uso de recursos, a produção econômica e a proteção dos bens comunais – água, ar, matas. Aliás, há, também, hoje, uma questão de proteção dos bens comunais globais, o mar não-territorial, a atmosfera terrestre, a Antártica, as aves, peixes e outros animais migratórios, que transitam pelo espaço transnacional e por terras e águas não territoriais.
É o caso das baleias, por exemplo. Cada país que tem a felicidade de recebê-las em suas águas territoriais pode proibir sua caça localmente. Mas é uma proibição territorial, o objeto da proibição é o território e não a baleia, que não é propriedade local. Quem protege a baleia, quando está em terra de ninguém? Um mecanismo da “governança sem governo” global, a Comissão Internacional da Baleia, cuja força, o politólogo Oran Young, da Ben School of Environmental Science and Management, da Universidade da California, em Santa Barbara, explica advir do fato de se ter transformado em um nexo global, que interconecta uma série de atores e forças plurais, constituindo-se em “arranjo institucional capaz de impor pressão substancial às nações, para fazê-las aceitarem suas decisões”.
Em seu artigo “The Effectiveness of International Institutions: Hard Cases and Critical Variables”, (em James N. Rosenau and Ernst-Otto Czempiel (eds.) – Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 160-194), Young mostra que instituições como a Comissão Internacional da Baleia, se tornam mais efetivas na medida em que suas decisões e o objeto de sua regulação seguem determinada trajetória. Primeiro, ganhando transparência. Segundo, adotando mecanismos de escolha coletiva que permitam defender o interesse coletivo do poder de forças particulares. Terceiro, que as regras para mudanças na instituição para adaptá-la a mudanças no contexto externo, aumentem seu poder e não a levem a perder o foco. Quarto, que os seus estados-membros sejam capazes de implementar suas decisões. Quinto, que a distribuição de poder entre seus estados-membros não seja tão assimétrica a ponto de permitir a formação de vontades individuais hegemônicas. Como aconteceu, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU. Sexto, a efetividade das instituições globais aumenta na proporção direta do grau de interdependência entre seus membros, permitindo-lhes retaliar os transgressores de forma persuasiva. Mas, mais importante ainda, a interdependência “globaliza” os formuladores da política da instituição, porque os força a devotar tempo e energia ao processamento das interações entre os membros daquele fórum internacional e são crescentemente impedidos, por essas interações e pela compreensão da natureza dessa interdependência, de perseguir suas próprias metas, sem ajustá-las às dos demais, ao mesmo tempo em que procuram, também, regular o comportamento dos outros com esse mesmo objetivo, de ajuste entre o micro e o macro, entre o particular-local e o geral-global.
Transparência global
O tema da transparência é de especial relevância e nos remete à crescente interação entre a mídia globalizada e as redes de ongs globais, que estão representando, cada vez mais e melhor, papel essencial no processo de fiscalização e investigação do comportamento de atores globais e nacionais, nesse espaço coletivo transnacional.
Oran Young argumenta que a transparência das instituições depende de três fatores básicos. A facilidade com que as violações de seus membros podem ser detectadas. A probabilidade de que os violadores sofrerão alguma sanção. E, finalmente, a magnitude das sanções aplicadas. Ora, nessas três dimensões, o papel da imprensa e a pressão da opinião pública, doméstica e global, é crítico. Até mesmo porque, como lembra Young, muitas vezes a perspectiva de ser descoberto em violação e ter sua transgressão exposta pode ser um dissuasório até mais eficaz do que o risco de receber sanções.
Foi ao se ver nas páginas do jornal britânico, The Independent, como o homem por trás do “estupro da floresta” amazônica, que o governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, começou a sentir, de fato, a pressão contra o comportamento voraz de seu império de soja, de seus decretos desaforando reservas e de suas ações predatórias a favor de pecuaristas e produtores. A matéria teve circulação global. Maggi deve ter se convencido, em definitivo, dos efeitos danosos dessa exposição global, ao ver a repercussão de sua resposta em entrevista à Reuters. Sua afirmação, “eu não sou o estuprador da floresta”, correu o mundo, em tempo real e muitas línguas. Desde então, ele começou a dar sinais de mudança de comportamento.
A exposição é uma arma poderosa da transparência, que reforça o poder das instituições de governança global. Há casos recentes que mostram como pode ser eficaz essa interação entre diferentes tipos de atores – governos, ongs, mídia, empresas– na regulação sócio-ambiental. Forma-se, precisamente, uma junção, unindo diferentes tipos de organização, governamentais e não-governamentais, atores diferenciados, como a mídia, com um mesmo propósito, cada um exercendo a função que corresponde a suas capacitações e ao seu foco de atuação. Por exemplo, uma ONG, gerando informação que tanto um agente regulador, quanto a mídia, quanto outras ongs podem usar. A mídia dando exposição às iniciativas positivas, para enfrentar determinado problema ou obter determinado comportamento e às violações, passadas e presentes, para mostrar os transgressores à sociedade. Uma organização multilateral pode dar dimensão global à iniciativa e, por isso, a transparência obtida, pode se tornar, também, objeto de pressão internacional ou, até mesmo, sanções de parceiros comerciais e de consumidores.
Uma rede em ação
O diagrama mostra como se forma essa rede, a partir da junção de organizações plurais, para obter determinado resultado. Na coluna da semana passada, mostrei um caso desses. Duas ongs holandesas provocaram a direção do Banco Mundial a acionar seu Ombudsman para analisar empréstimo de seu braço privado, a IFC, à empresa Amaggi, acusada de usar agrotóxicos agressivos e comprar soja de produtores que usam trabalho escravo. Há sinais, de que a exposição negativa do caso, acelerou o processo de mudança de atitude da empresa e seus proprietários.
Em meados deste ano, a OIT, o ministério do Trabalho e as ongs Repórter Brasil e Instituto Ethos, lançaram a iniciativa “Pacto contra o Trabalho Escravo”. Um típico enlace que projeta no espaço doméstico arranjos próprios da governança global emergente: uma organização multilateral, uma organização governamental, uma organização não-governamental dedicada ao jornalismo investigativo, uma organização não-governamental dedicada a promover padrões éticos de governança corporativa às empresas que a eles se associam voluntariamente. Essa rede está ilustrada no diagrama.
O trabalho dos jornalistas foi, a partir de uma série de reportagens investigativas, mapear a prática de trabalho escravo no Brasil, na cadeia produtiva das empresas, identificando o trajeto feito pelos produtos de empresas que constam da “lista suja” do ministério do Trabalho, feita com base nos flagrantes de seus fiscais. A OIT usou dois recursos seus importantes: know how e experiência adquiridos na implementação de seu programa de combate ao trabalho escravo em âmbito global e sua credibilidade junto à mídia, para avalizar a seriedade da iniciativa brasileira. O Instituto Ethos cuidou de usar sua capacidade de negociação e penetração amigável junto às empresas, para convencê-las a aderir ao pacto, que tem a cobertura institucional da OIT. Quem assina o Pacto se compromete a vigiar sua cadeia de suprimentos.
A exposição na mídia, como disse Oran Young, compele a maioria das empresas a limpar o nome assinando o Pacto. Mas não é infalível. A Confederação Nacional da Indústria, que tem associados que praticam essa forma infame de exploração do trabalho, fingiu que não era com ela. A Confederação Nacional da Agricultura, que congrega a maioria dos escravizadores, entrou na Justiça contra a lista suja. Mas o processo está em marcha e não estancará. Com a exposição na mídia global, produtores de soja e pecuaristas que usam trabalho escravo, frigoríficos, exportadores e moedores de soja que compram seus produtos, serão recusados por seus consumidores e sofrerão sanções de mercado. Foi a partir da lista suja, que as ongs holandesas descobriram que a Amaggi comprava de produtores que usavam trabalho escravo e não teve como negar. Apesar dessas resistências o Pacto está prosperando e cresce o número de setores e empresas que aderem a ele, comprometendo-se a não comprar de empresas que pratiquem tais atos.
A efetividade desses novos arranjos mostra que os aparentes colapsos no multilateralismo são apenas ecos do passado ou acidentes de percurso. Mas a tendência é que se multipliquem os mecanismos eficazes de governança global. Sanções de mercado vão se tornar inevitáveis, por força da pressão da opinião pública global e do boicote de consumidores com sensibilidade ecológica crescente. Atingirão a madeira amazônica exportada, a soja, a carne. A certificação se tornará obrigatória. Há um risco nesse processo, que deveria estimular o governo a ter uma atitude regulatória mais afirmativa: essas sanções podem se transformar, fácil-fácil, em barreiras ambientais, quanto mais aumentar a pressão para redução, por exemplo, dos subsídios agrícolas e quanto mais competitivo o país ficar no mercado global.
Sob nova governança
O politólogo David Held, importante formulador de teses para a nova social democracia, acredita que estamos caminhando para um sistema de governança global “multicêntrico”. Poluição, suprimento de água, alimentos e remédios geneticamente modificados estão entre um número crescente de questões que atravessam as jurisdições territoriais e os alinhamentos políticos existentes, e que requerem cooperação internacional, governamental e não governamental, para sua resolução satisfatória, diz ele, em seu livro Global Covenant (Malden, Polity Press, 2004) no qual defende uma espécie de pacto social global, para estabelecer os termos de uma alternativa verdadeiramente social e democrática ao Consenso de Washington. Held destaca, com ênfase, o papel das ongs globais no processo de constituição desses novos arranjos que culminarão em um sistema de governança global. Um sistema de governança que, todos os democratas esperam, prescinda da e evite a idéia de governo global ou mundial.
Na visão de David Held, essa “governança sem governo” pressupõe a mudança no foco, escopo e âmbito da regulação, compatibilizando padrões regulatórios regionais e locais a um padrão regulatório global. Uma expansão da forma adotada pela regulação em federações descentralizadas, democráticas. A governança global é uma “rede de redes”, que reúne feixes de organizações, formais e informais, governamentais, multilaterais, não-governamentais, que passaram a formular a agenda global de políticas e solução de problemas e articulam técnicos, especialistas e autoridades regulatórias, para desenhar e aplicar as regras desse sistema.
Há problemas, óbvio. O poder de decisão dos estados nacionais vem diminuindo rapidamente. Mas seu poder de veto não. É dessa persistência do poder de veto que nascem aqueles impasses e retrocessos com que comecei esta análise. Além disso, essa ordem global de transição é incoerente, fragmentada, assimétrica e contraditória, criando um ambiente propício à proliferação de impasses. Alguns governos em particular, por não compreenderem a natureza dessa transição, por estarem atrasados em relação ao estágio em que se encontra o processo de globalização da ordem mundial e de formação do sistema de governança global e por estarem defasados em relação às aspirações e aos valores que animam as forças da transição, se tornam mais renitentes e acirram essas contradições. Eles enfeixam não as virtudes, mas as patologias dessa transição. É o caso, no eixo do poder mundial, do governo Bush. E, no eixo dos países emergentes, do governo Lula.
Há, também, desafios do lado dessa cidadania global que vai se formando de pessoas cujos vínculos são, quase inteiramente, com ongs globais, agências multilaterais e outros mecanismos de governança global. Primeiro, não podem perder completamente a perspectiva das sociedades nacionais, para evitar o risco de deslegitimação. Como lembra James Rosenau, essas pessoas e outras muitas, até mais numerosas, que atuam na interseção entre os elos globais das redes e os elos locais e regionais, terão que fazer escolhas com as quais não estão familiarizadas, para onde dirigir suas lealdades, se em direção ao sistema global, ou no rumo do subsistema nacional a que pertencem. Cria-se um desafiador processo de permanente resolução desse conflito de lealdades, de confronto de legitimidades entre lideranças “sistêmicas” e lideranças locais. Há incertezas e oportunidades inerentes às tensões desse “mundo bifurcado”, diz Rosenau, criando dilemas extraordinários. Mas, a chave para solução dessas contrariedades da transição está na própria eficácia dos mecanismos emergentes de governança global, na proposição de meios e alternativas, que promovam a proteção comunal global com o avanço de suas sociedades nacionais. Só o tempo dirá se há uma forma de fechar satisfatoriamente essa equação, hoje posta diante de todos nós como um agudo dilema.
O poder das idéias
Termino com uma questão hoje central em todo esse processo de transição: a do poder das idéias no mundo real da política e dos conflitos de interesses. Não há instituição durável que não tenha nascido do esforço intelectual de pensar soluções para o mundo. Algo que nós sociólogos e politólogos chamamos de teoria normativa. Basta lembrar o papel de Keynes na construção das instituições monetárias a partir de Bretton Woods ou das políticas do New Deal rooseveltiano. A história da previdência alemã ou britânica, é indissociável desse processo de elaboração intelectual de soluções para problemas emergentes. Não há como, lembra Oran Young, uma instituição se enraizar, na ausência de um sistema coerente de idéias, nem conseguir se manter efetiva, quando essas idéias geradoras entram em colapso. Nem há como as instituições resistirem às pressões transformadoras que acompanham um novo sistema de idéias.
Não se trata de uma tese idealista. Ao contrário, trata-se do reconhecimento de uma dinâmica penosa, conflituosa e demorada, que vai do ocaso de um paradigma até a institucionalização de um novo paradigma. Há duas fases críticas nesse processo cheio de contradições. A primeira é uma fase conservadora, na qual os gestores do paradigma poente têm força e capacidade de resistência e, até, de resolução de problemas, desde que esta seja possível nos termos do velho paradigma. Nesse momento de declínio da eficácia das instituições do paradigma ainda vigente, mas não de seu colapso final, há sistemas emergentes de idéias que competem pela hegemonia institucional. Prevalecerá o que tiver maior fundamentação científica e for passível de aplicação efetiva. Enquanto o novo paradigma não vigora plenamente vitorioso, essas idéias nascentes são consideradas infundadas – algumas são, outras não – subversivas – certamente o são, da perspectiva da ordem declinante – ou utópicas. Nada nasce com vigor, sem algum grau de utopia. A utopia é a energia que alimenta a experimentação, a busca do novo, a luta pela mudança. O que legitima a nova ordem, porém, é sua eficácia em dar respostas funcionais aos problemas emergentes para os quais a velha ordem não tinha mais respostas.
A segunda é a fase de desenvolvimento do novo paradigma, de adesão a ele e de sua utilização para resolver os problemas da nova ordem. É a etapa de institucionalização e legitimação dessa nova ordem intelectual. Fase em que o progresso das soluções é muito maior, embora com a tendência crescente à reprodução dos esquemas já testados e bem sucedidos, originalmente propostos pelo novo paradigma. Se a primeira fase é a da criação, a segunda é a da reprodução ampliada do paradigma e da ordem por ele proposta. A primeira fase é subversiva. A segunda é construtivista. Creio que nos encontramos na fronteira entre elas.
Karl Marx disse, com muita propriedade e profundidade, que a humanidade não se propõe problemas que não está pronta a resolver. Infelizmente virou lugar comum, descarnada de suas implicações filosóficas e cognitivas. Mas, de fato, o que vemos, hoje, é a materialização de um desses momentos, em que a semente da nova ordem já brotou e viceja, mas ainda lhe faz sombra a copa anêmica da velha ordem. A junção das tecnologias que permitem a mobilidade de praticamente todos os fatores que compõem a fábrica da sociedade contemporânea – pessoas, capitais, máquinas, vírus, poluentes –; o trânsito em tempo real de idéias, imagens e conhecimento; os avanços do saber científico, que apontam, cada vez com mais clareza, nossos novos problemas e os limites de resistência do planeta; o desmoronamento evidente da velha ordem e a obsolescência dos conhecimentos do velho paradigma; a fusão das mídias, que potencia a capacidade de comunicação de cada uma delas, mas com interatividade jamais alcançada anteriormente, apontam para mais do que uma transição. Indicam a convergência dos processos que qualificam a humanidade a encarar ativamente os problemas dessa junção histórica. Portanto, está preparada para se propor esses problemas como objeto consciente de indagação e juízo e, portanto, de ação transformadora. A primeira tarefa é, precisamente, propor os problemas nos termos do novo paradigma, para, então buscar as soluções que ele está apto a oferecer. O venho paradigma, sequer conseguia formular adequadamente os problemas, quanto mais propor soluções que realmente funcionassem para eles.
Não estamos, claramente, diante só da economia do conhecimento ou da informação. Estamos já com o pé na sociedade do conhecimento. A informação, que é o conhecimento processado e formatado, sob diversas formas, para disseminar e estabelecer o novo paradigma, é o “recurso de vanguarda”, a partir do qual o novo conjunto de idéias, modos de agir, valores – cada vez mais globais e cada vez mais reconciliados com as estruturas locais – vai se fixar e legitimar, dando origem a novos padrões de regulação e auto-regulação, regras e procedimentos. Esse movimento corresponde à institucionalização de uma nova ordem global e à legitimação de um regime de governança global.
A conexão entre os produtores de conhecimento e os disseminadores de informação é o ponto nevrálgico desta fase da transição. Daí a necessidade imperiosa de uma mídia com cérebro, que não seja mera estação repetidora de velhas fórmulas, mas um canal de difusão e popularização dos novos conhecimentos. Notícia com opinião, jornalismo com conhecimento, são peças essenciais dessa nova mídia, que ainda não encontrou esse rumo.
Leia também

Perigos explícitos e dissimulados da má política ambiental do Brasil
pressões corporativas frequentemente distorcem processos democráticos, transformando interesses privados em decisões públicas formalmente legitimadas →

Transparência falha: 40% dos dados ambientais não estavam acessíveis em 2025
Das informações ambientais disponibilizadas, 38% estavam em formato inadequado e 62% desatualizadas, mostra estudo do Observatório do Código Florestal e ICV →

O Carnaval é termômetro para medir nossos avanços no enfrentamento da crise climática
Os impactos da crise climática já são um problema do presente. Medidas políticas eficazes de prevenção aos eventos climáticos extremos não podem ser improvisadas às vésperas das festividades →