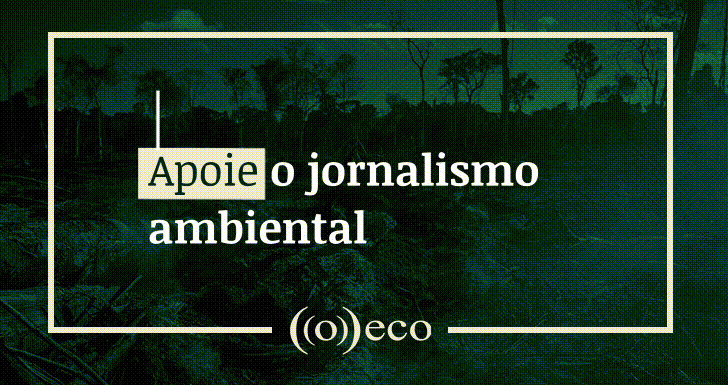Quem passou pela cidade de Manaus entre abril e junho de 1997, como por sorte aconteceu com este colunista, teve a oportunidade de ver uma exposição inesquecível do ponto de vista científico e humano. Por iniciativa do Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a Universidade de Coimbra e a Universidade do Porto, em pleno Palácio Rio Negro, um dos principais símbolos de poder da elite amazonense, retornava pela primeira vez à região, após mais de duzentos anos em Portugal, sem seguir para outras capitais brasileiras, um conjunto de 300 peças produzidas por diversas tribos indígenas na Amazônia do século XVIII.
A beleza dos objetos – vindos de um mundo onde não era fácil separar o artístico, o utilitário e o ritualístico, ao contrário do que ocorre freqüentemente na modernidade ocidental – provocou fascínio em todos os que puderam observá-los, além de terem gerado uma série de situações inusitadas do ponto de visto político e social. Representantes de sociedades indígenas atuais, que tiveram o direito de montar duas malocas nos jardins do palácio, ficaram surpresos e embevecidos pela qualidade das peças produzidas por seus ancestrais, em geral muito superiores ao que hoje se produz, apesar de existir um claro parentesco estilístico ao longo do tempo. É como se os atuais artesãos indígenas descobrissem a origem superior de sua própria arte, testemunhando a forte involução ocorrida ao longo dos séculos, fruto da desagregação cultural provocada pelos resultados da colonização européia.
O evento que parecia fortalecer os vínculos entre Portugal e Brasil, com direito à presença do ex-presidente Mario Soares na inauguração, quase se transformou em um acidente diplomático. A Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) liderou um movimento para que as peças não fossem devolvidas aos museus portugueses. Mas é claro que elas acabaram voltando aos seus atuais proprietários, sob o argumento dúbio de que as instituições locais não tinham capacidade técnica para conservá-las.
Origens das investidas amazônicas
Para os estudiosos da história ambiental da Amazônia, porém, a exposição forneceu uma emoção extra. Todo este tesouro havia sido coletado diretamente por Alexandre Rodrigues Ferreira, entre 1783 e 1792, na sua “Viagem Filosófica pelas Capitanias do Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá”. Estávamos diante de peças pertencentes à legendária coleção que muitos julgavam perdida para sempre. Podíamos testemunhar ao vivo os resultados do primeiro esforço sistemático por parte da ciência, do naturalismo ilustrado, no sentido de revelar os segredos de uma região que desde então continua fascinando o olhar da modernidade global.
Para entender o significado da exposição de 1997, portanto, é preciso retroceder ao ano de 1772, quando a Universidade de Coimbra passou por uma importante reforma. O principal objetivo era aproximar a elite portuguesa das novas correntes de filosofia natural e economia política que estavam em pleno desenvolvimento no século XVIII. Para participar desta reforma, o naturalista italiano Domenico Vandelli estabeleceu-se em Portugal, onde difundiu a “economia da natureza” de Lineu e Buffon, associada às teses da escola econômica Fisiocrata sobre a centralidade dos recursos primários na produção da riqueza das nações. Este esforço de reforma acadêmica tinha um claro sentido econômico. Um melhor conhecimento dos “três reinos da natureza”, especialmente nas ricas regiões coloniais, serviria para gerar avanços produtivos, com a descoberta de novas espécies agriculturáveis ou de novas maneiras de aclimatar as que já possuíam um crescente mercado. Era preciso também inventar novas técnicas que estimulassem a extração inteligente e menos destrutiva dos recursos minerais e florestais.
As florestas, especialmente, vinham ganhando valor no pensamento ilustrado. A chamada “teoria do dessecamento”, desenvolvida nos séculos XVII e XVIII por acadêmicos ingleses e franceses, relacionava a destruição da vegetação nativa com a redução da umidade, das chuvas e dos mananciais de água, gerando prejuízos concretos para a economia rural. As novas técnicas de silvicultura, por outro lado, defendiam a possibilidade de extrair madeiras de forma inteligente, preservando a base florestal através do manejo e do reflorestamento. Este último ponto, aliás, tornou-se muito sensível na política européia da época. Com o avanço dos conflitos militares que se seguiram à Revolução Francesa, as diferentes potências européias preocuparam-se com a garantia do suprimento de madeira para os seus navios de guerra, estabelecendo políticas e legislações que buscavam conter a destruição das matas nos espaços metropolitanos e coloniais.
O universo amazônico, nesse contexto, aparecia como um estoque impressionante e desconhecido de recursos naturais. Foi então que o ministro Martinho de Melo Castro negociou com Vandelli o envio de um de seus alunos à bacia do rio Amazonas, com o objetivo de coletar informações sobre a natureza e os nativos da região. A missão recaiu justamente sobre Rodrigues Ferreira, um jovem naturalista baiano (nascido em Salvador, 1756) que havia realizado seus estudos em Coimbra entre 1770 e 1779.
Em busca das peças
O atraso de Portugal no campo da política científica, contudo, era bastante evidente, apesar dos esforços de alguns dos seus estadistas. O apoio governamental à expedição, que acabou durando cerca de 10 anos, foi bastante limitado. Ferreira passou por aventuras e desventuras, tendo que improvisar todo o tempo diante da falta de recursos econômicos e humanos. Em 1792, por exemplo, ao saber que Portugal não havia reembolsado as despesas do capitão Luiz da Cunha, que do seu próprio bolso custeava o envio para Lisboa do material científico que vinha coletando, resolveu casar-se com a filha do militar, transformando o considerável montante em dote…
Apesar de todas as dificuldades, que incluíram várias malárias e a morte de pelo menos um dos seus três auxiliares – o jardineiro-botânico Joaquim do Cabo, que faleceu em Vila Bela, em Mato Grosso, no ano de 1789 – os resultados do projeto foram notáveis. Segundo cálculos feitos por Glória Fontes, as andanças do naturalista totalizaram cerca de 39 mil quilômetros! Apesar de grande parte do material coletado e descrito ter-se perdido de maneira total ou parcial, sobreviveram 89 obras escritas pelo autor, além de alguns volumes de desenhos (com cerca de mil estampas). A coleção de peças etnográficas ainda existente em Portugal, que em parte sobreviveu de maneira quase anônima em porões e depósitos, soma 420 peças.
É interessante notar que a fama da coleção superou as fronteiras de Portugal ainda no início do XIX. Quando as tropas napoleônicas do General Junot invadiram Lisboa em 1808, o naturalista Geoffroy de Saint-Hilaire – que não deve ser confundido com Auguste de Saint-Hilaire, que viajou pelo Brasil nas primeiras décadas do XIX – levou a maior parte do material para Paris, incluindo escritos, desenhos, herbários e animais empalhados. O apoio informal de Vandelli a esse confisco foi muito doloroso para Rodrigues Ferreira, que se viu privado de um acervo precioso que coletara com grande sacrifício. É provável, no entanto, que o primeiro pensamento do velho naturalista italiano, além do medo das tropas francesas, era o de salvar a coleção para a ciência européia naquele contexto de guerras e conflitos civis.
De toda forma, os anos finais de Ferreira, após seu regresso a Portugal em 1793, parecem ter sido de apatia e depressão. Não conseguiu publicar seus trabalhos ou reunir e estudar de maneira apropriada o material levantado. Sofreu boicotes, inimizades e barreiras burocráticas (até mesmo pelo pouco interesse da elite política portuguesa em propagandear as informações sobre a Amazônia que havia produzido). Naquele momento histórico muito difícil, com o estado quase desmantelado pela partida do Rei para o Brasil, o material acabou disperso e pouco aproveitado. O confisco francês foi a gota d’água que faltava na melancolia do naturalista viajante, que sobreviveu até 1815, com dificuldades financeiras, trabalhando em cargos públicos de pouca importância.
Primeiras impressões
Para o tema que está sendo comentado nesta série de colunas – as origens da ansiedade amazônica – a obra de Alexandre Rodrigues Ferreira possui um grande significado. Foi a primeira vez que um naturalista profissional, para além das expedições militares e missões eclesiásticas, pôde percorrer a região de forma sistemática, avaliando os usos e abusos de sua biodiversidade. Não é de estranhar, portanto, que sua crítica à destruição dos recursos naturais e à própria possibilidade de danificar irreversivelmente aquelas florestas tenha sido mais profunda e sistemática que a de João Daniel e dos outros autores que os precederam. Cabe lembrar que o aluno de Vandelli formou-se no momento em que alguns intelectuais europeus começavam a defender a importância das florestas para a saúde biológica e climática dos territórios e, conseqüentemente, para a sua capacidade de produção econômica.
É importante ter claro, contudo, que as críticas ambientais de Ferreira não fugiram totalmente ao padrão anterior de concentrar-se mais nas partes do que no todo. Ou seja, ele focalizou bem mais os resultados deletérios da exploração predatória de determinados recursos, principalmente animais, do que as conseqüências do desflorestamento como um todo. Nessa opção intelectual, por certo, existe também um fator objetivo. A densidade quantitativa e qualitativa da ocupação colonial da Amazônia do século XVIII era menos expressiva do que nos antigos pólos produtivos do Nordeste e do Sudeste, refletindo-se em uma menor visibilidade do desflorestamento.
Os males da destruição florestal provocada pela expansão da indústria madeireira e pelas queimadas que abriam terreno para as monoculturas estavam sendo claramente notados por intelectuais atuantes nas regiões de ocupação colonial mais antiga. Na Amazônia, ao contrário, diante da grande abundância de matas ainda pouco exploradas não era tão fácil visualizar o problema. O que saltava aos olhos com mais clareza era o impacto do extrativismo predatório.
A exploração das tartarugas, tão importante para a população local, era um caso exemplar. Na “Memória sobre a Jurararetê”, de 1786, Ferreira condenou o fato de que “esse anfíbio tão útil ao Estado ainda não mereceu os cuidados ou providências que são requeridas para evitar os abusos que se praticam contra ele. Uma tartaruga para chegar ao seu devido crescimento gasta alguns anos. Anualmente são inúmeras as que se desperdiçam ao arbítrio absoluto dos índios; todas as ninhadas são descobertas, pisadas a eito e a maior parte das tartaruguinhas são comidas sem necessidade, o que em conjunto vem influir para sua raridade no decorrer do tempo”. Outra prática danosa era o mau manejo dos chamados currais onde se aprisionavam as tartarugas vivas, de modo que muitas delas morriam antes ou depois de entrar nos mesmos. Das 53.468 tartarugas que entraram em apenas dois currais perto da vila de Barcelos, no período de 1780 a 1785, apenas 36.007 tinham sido aproveitadas, contra 17.461 mortas e desperdiçadas.
Outra má prática era a da “viração” das tartarugas, através da qual se virava de peito de todas as tartarugas que vem a praia para desovarem para cima, de forma a não poderem mais se mover, tornando-se presas fáceis para os caçadores. Em seu “Diário da Viagem Filosófica ao Rio Negro”, de 1788, ele se lamentou pela falta de visão da população local, que tanto precisava deste animal para a sua sobrevivência. Apesar disso, “tão somente arrastados por uma cega avareza com a fatura das manteigas das banhas, desperdiçavam mais do que aproveitavam, porque todas as tartarugas morriam; porém nem todas davam banhas suficientes, nem das que as davam se aproveitava mais do que as banhas; donde podia resultar que infinitas delas, cujas banhas podiam aproveitar para o sustento, pelo contrário se lançavam ao rio depois de tiradas as banhas, visto que se não podia salgá-las, e no rio serviam de pasto aos jacarés, aos urubus, às piranhas e às piraráras”.
Na continuação das suas viagens, Ferreira anotou a mesma irracionalidade sendo adotada na pesca de outro animal amazônico, o peixe-boi. Ele condenou duramente o fato de que, mesmo considerando “tantas utilidades quantas são as que deste mamífero se tiram”, sua pesca continuava sendo feita sem “nenhum policiamento”. Um recurso de tal importância deveria ser objeto de uma “polícia” específica, no sentido de evitar a adoção de práticas contra-produtivas que, no limite, poderiam levar à sua extinção: “um peixe-boi para chegar ao seu devido crescimento deve gastar anos e todos os que aparecem são arpoados, mesmo as fêmeas prenhas. As fêmeas não parem mais de um até dois filhos por ano. Os filhotes tirados do ventre das mães que são arpoadas para nada servem. Não se conhece o tempo de criação e o arpoador fica feliz quando encontra um filhote para mais fácil arpoar a mãe. Arpoam-nos em todos os tamanhos, sem distinção de idade. Por isso não deve causar espanto a sua raridade em alguns lagos onde já não os encontramos há alguns anos”.
Visão ampliada
A percepção aguda do naturalista baiano, porém, revelou-se no fato dele ter antevisto um problema que só bem mais tarde veio a ocupar espaço relevante na opinião publica: a destruição da floresta amazônica. Analisando o tratamento das florestas como um todo, em um texto de 1784, ele criticou os colonos que “sem medida alguma, deitam tudo abaixo, não excetuando árvore que fosse útil, tanto pela sua sombra quanto pelas suas produções. Cortaram desde o princípio e continuarão a cortar e a queimar as que existem”.
A “agricultura empírica e tradicional”, vigente na região, era incapaz de inspirar práticas mais racionais. Plantar uma roça de mandioca, segundo ela, era “deitar abaixo o mato à força do machado e sem fazer caso das extremidades dos troncos que ainda ficam por cortar, nem das raízes que estão por debaixo da terra ou na superfície. Contanto que se lance o fogo a tudo, em ordem a se desfazer tudo com as cinzas, está lavado o terreno”. Ferreira lançava mão dos estudos que vinham sendo produzidos sobre esse método na ilha Martinica, realizados por um sábio francês, para criticar a sua pouca eficácia. Segundo esses estudos, o solo posterior à queima das florestas era apenas “passageiramente fértil”. Na Martinica, ao invés de se “recorrer aos adubos para aumentar a sua fecundidade”, cultivavam-se os terrenos apenas por algum tempo, para “fazer outra nova queimada cujo proveito não dura mais que o primeiro”. E assim as matas do lugar estavam sendo completamente destruídas. A insinuação implícita, mas bastante evidente, era de que o mesmo poderia acontecer na Amazônia.
Na obra de Rodrigues Ferreira, portanto, podem-se identificar as origens mais explicitas da crítica à destruição dos recursos naturais amazônicos. Mas a herança intelectual dos autores que começaram a atuar na região anteriormente, a partir do século XVI, apesar da ausência de críticas ambientais mais explicitas, é fundamental para visualizar a construção do entendimento da natureza, assim como o caráter das praticas produtivas, após a chegada dos europeus.
Outro aspecto fundamental a ser estudado, apesar de aqui não ter sido possível por limitações de espaço, é o da obra dos naturalistas críticos que, no século XIX, deram prosseguimento ao esforço inaugurado por Rodrigues Ferreira no sentido de submeter às práticas econômicas e sociais da região a uma avaliação racional e reformista, capaz de identificar seus impactos concretos no seio de um espaço natural de grande riqueza e complexidade. Dentre os nomes que merecem ser mencionados, neste esforço de continuidade, vale a pena destacar, entre os nacionais, João Martins da Silva Coutinho e Domingos Ferreira Penna. Entre os estrangeiros, por sua vez, os daqueles viajantes que ajudaram a construir a imagem planetária da Amazônia no universo da modernidade, como Alfred Wallace e Henry Bates.
A análise de conjunto desta herança intelectual, relativamente ainda pouco estudada, é fundamental para equacionar a problemática amazônica em uma perspectiva histórica mais ampla, tarefa que adquire especial relevância no momento em que tantos se esforçam para superar as visões e práticas de curto prazo e lograr construir, pela primeira vez, um projeto de longo alcance para o desenvolvimento sustentável desta macro-região tão crucial para o futuro do Brasil e da própria humanidade.
Se o que você acabou de ler foi útil para você, considere apoiar
Produzir jornalismo independente exige tempo, investigação e dedicação — e queremos que esse trabalho continue aberto e acessível para todo mundo.
Por isso criamos a Campanha de Membros: uma forma de leitores que acreditam no nosso trabalho ajudarem a sustentá-lo.
Seu apoio financia novas reportagens, fortalece nossa independência e permite que continuemos publicando informação de interesse público.
Escolha abaixo o valor do seu apoio e faça parte dessa iniciativa.
Leia também

((o))eco relança a Campanha de Membros para sustentar jornalismo ambiental aberto e independente
Programa amplia participação de leitores e busca sustentar produção independente sem adoção de paywall →

Mulheres e Oceano: infra estruturas invisíveis da vida?
Tanto o oceano quanto as mulheres carregam uma expectativa silenciosa de que vão aguentar mais um pouco. Mas nenhum sistema consegue ser resiliente para sempre →

Decisão do STF sobre tributos na cadeia de reciclagem preocupa setor
ANAP afirma que incidência de PIS e Cofins pode elevar custos operacionais e pressionar atividades ligadas à coleta e comercialização de materiais recicláveis →