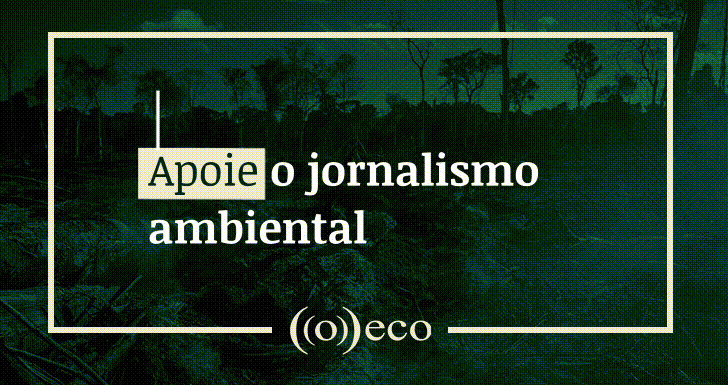A África do Sul é um país curioso. Tem estradas excelentes, embora não pedagiadas. De fato, as estradas de terra que percorri no West Cape em agosto passado eram melhores que qualquer de nossas rodovias federais, mesmo após o tapa-buraco pré-eleitoral. Suas unidades de conservação, tanto as gerenciadas pelas províncias como aquelas sob responsabilidade federal, transpiram excelência em manejo e me fazem imaginar se algum dia o Brasil chegará a metade do nível (sul-)africano. Ali se explora o turismo, e não o turista, de forma altamente profissional, e corriqueiramente se fazem pesquisas, translocações, reintroduções, manejo de metapopulações, vacinações e outras coisas que, por aqui, ainda soam como ficção científica.
Isto acontece em um país onde, dependendo da estatística, 20 a 30% da população estão desempregados, tem um dos maiores índice de estupro do mundo, 11% da população é HIV-positiva (13,3% dos negros x 0,6% dos brancos) e o presidente e seus ministros da saúde já manifestaram publicamente que o HIV não é a causa da doença e a cura pode estar na sopa de beterraba. Apenas alguns dos problemas sociais que, por aqui, serviriam de desculpas para deixar preocupações ambientais para lá.
Em um continente fértil em experimentos sociais, a África do Sul é famosa pelo finado regime do apartheid. A minoria branca afrikaner, justificada pelos ditames da Igreja Reformada da Holanda (um ramo calvinista), pelo mito fundador do êxodo dos voortrekkers em busca de sua terra prometida longe do imperialismo anti-escravista britânico, e com a necessidade de mão de obra para as minas e outros negócios, criou um regime surreal de segregação que foi além de qualquer paródia. É um tributo à civilidade e à habilidade política de Nelson Mandela e Frederik De Klerk que o país não tenha mergulhado na guerra civil, como outros onde a etnicidade foi oficializada e se partiu para o ajuste de contas.
No repertório do apartheid constavam os homelands ou bantustões, “mini-países” negros definidos de acordo com etnias, alguns com governos “próprios” com presidentes, primeiros-ministros e parlamentos recrutados entre políticos pelegos (como nossos sindicalistas), e autonomia para promover negócios proibidos do outro lado da cerca, como cassinos (adivinhem como a breguérrima Sun City surgiu ?).
Com o fim do apartheid a política se inverteu e além de cotas raciais há mecanismos que, por exemplo, permitem que uma empresa de propriedade de negros (em geral com padrinhos políticos) possa receber 10% a mais de contratos com o governo em comparação a uma empresa “branca”. Isso tem sido bom para a classe média negra (e com boas conexões), mas não tem ajudado os mais pobres como se esperava, gerando muita frustração.
Separação étnica não é novidade e há exemplos atuais, com diferentes justificativas, como a Faixa de Gaza, os Indian Reservations (EUA), Native Territories (Canadá), etc. Algumas vezes pode manter a paz entre diferentes tribos de primatas territoriais. Em outras, definitivamente incendeia os ânimos.
Aqui no Brasil vivemos um momento de acirramento da questão racial, e temos uma ministra da “promoção da igualdade racial” que acha normal o racismo, desde que seja de negros contra brancos. Neste clima estamos realizando nosso próprio experimento social, uma versão invertida dos bantustões. É o pipocar de áreas quilombolas reivindicadas por grupos que se “autodefinem” como tal, são sacramentadas por pareceres da Fundação Cultural Palmares e, quando a coisa transcorre como desejam, acabam sendo desapropriadas pelo INCRA, que socialista como é, emite títulos de propriedade em nome das associações de moradores, e não de indivíduos que possam dispor de suas propriedades privadas.
Até há pouco havia 3.524 comunidades que se identificam como remanescentes de quilombos e reivindicam a legalização de suas terras e a Fundação Palmares já havia oficializado 1.170. Pelos cálculos do movimento negro (só para lembrar, a genética mostra que afrodescendentes somos todos nós), o número de comunidades deve passar de 5.500. De acordo com o Incra, as reivindicações equivalem a 25 milhões de hectares, ou ao território do Estado de São Paulo, e o órgão espera regularizar 22.650 famílias de 969 comunidades até o fim de 2008. Muitas em áreas naturais de extrema importância para a conservação da biodiversidade.
Isso se dá como resultado do decreto 4.887, assinado em 2003 pelo Molusco Iluminado para regulamentar o artigo 68 da Constituição que prevê que “os remanescentes de quilombos” têm direito à propriedade das terras que ocupam.
Este decreto é claramente inconstitucional, pois legisla como se fosse lei, e não apenas regulamenta como deve um decreto. Se o Supremo Tribunal Federal não se movesse em ritmo geológico, eu não estaria escrevendo este artigo.
O decreto oficializou uma mudança radical sobre o conceito de “remanescente de quilombo”, sobre o qual antes havia o razoável consenso de que são comunidades “cujos habitantes descendem diretamente de quilombolas, de grupos de escravos fugidos, e mesmo de libertos e negros livres a eles articulados” (vale ler M. Motta. 2006. “Brecha Negra em Livro Branco”, Pp. 231/256 em “Estado e Historiografia no Brasil”, Niterói, EDUFF).
Agora, quilombola é a comunidade que se autodefine como tal, e quilombo é a área que os autodefinidos quilombolas dizem ser suas. Sumiu a vinculação objetiva com antigas comunidades de escravos fugidos e hoje são chamados de quilombolas os que são, na realidade, remanescentes de senzalas. E se oculta a herança multi-étnica da maioria ou totalidade destes grupos, que podem ser tão euro quanto afrodescendentes quando seus genes são examinados.
Outro ponto problemático é ter uma entidade não isenta decidindo quem é quilombola. É uma situação similar à igreja católica receber o controle do programa de prevenção da AIDS ou deixar a educação feminina a cargo do Taleban.
Se não fosse uma questão séria, este tipo de coisa seria apenas mais uma das piadas sem graça que as “ciências” humanas no Brasil atraem sobre si mesmas por deixarem de fazer ciência para se dedicarem à militância política vendada pela ideologia. E mais um prego no caixão da credibilidade dos profissionais da área.
O incrível (ou nem tanto) é esta história de autodefinição ter colado e virado decreto presidencial. Logicamente não houve ingenuidade nisso, pois sempre se soube que esta seria uma forma pela qual uma versão alternativa da reforma agrária poderia ser conduzida.
Antes de continuar, devo dizer a obviedade de que o racismo, de qualquer lado, é inaceitável e se a Constituição dá direitos a determinado grupo, estes devem ser respeitados na medida em que não violam outros direitos que também estão na Carta Magna, como a propriedade privada e o direito a um meio ambiente saudável. Também tenho a convicção de que pobreza ou riqueza não são desculpas para violar a lei, oportunismo e má-fé têm limite, e uma causa pode perder sua credibilidade se optar pela abordagem Lei de Gerson.
É uma aberração que conceitos e critérios fundamentais para a questão de quem têm direito ou não a um benefício que é pago pelo resto da sociedade careçam de definição precisa e, deliberadamente, não possam ser avaliados de forma independente por partes que não subscrevam a ideologia dos “movimentos sociais” interessados. É como dar o direito de alguém reclamar um prêmio da loteria com base apenas na sua palavra, sem prova material independente (cadê o bilhete?).
Isto viola princípios básicos de isenção usados da Ciência à auditoria. Os relativistas culturais pós-modernos que irão me chamar de cartesiano (obrigado!), virão com o lero-lero da fluidez das identidades sociais, “historiografia conservadora” e outras conversas para antropólogo dormir, mas o fato é que as definições ganharam “abrangência conceitual” com o propósito claro de incluir qualquer situação na definição de “quilombola” conforme as conveniências. Isso para mim tem um nome não muito lisonjeiro.
A história da autodefinição já era conhecida com relação a grupos indígenas “ressurgidos”, interessante fenômeno de nosso Jurassic Park antropológico, e gerou preciosidades como o caso dos Mocambo, de Sergipe, que primeiro se definiram quilombolas e, depois, estavam avaliando se viravam índios por isto gerar maiores vantagens (não sei o que decidiram). E oxímoros como quilombos urbanos no interior da cidade do Rio de Janeiro, quilombos dentro de antigas fazendas de escravistas, como na Ilha da Marambaia, etc, etc. O febeapá é vasto.
Essa história toda seria mais uma das bizarrices de um país conhecido por não ser sério se não tivesse profundas implicações sociais, econômicas e ambientais. Uma é que o INCRA desapropria as terras neoquilombolas por valores muito inferiores a seu valor de mercado, e os proprietários que viram posseiros ou vizinhos se tornarem zumbis redivivos logicamente se consideram injustiçados, especialmente se são terras produtivas que além de emprego e renda geram conservação ambiental, coisa que os quilombos muito duvidosamente fazem. Como vejo no Vale do Ribeira paulista, onde, entre outras coisas, ajudam a dizimar uma das últimas populações de onças-pintadas na Mata Atlântica.
Como por aqui as unidades de conservação de verdade são vistas por setores do governo como um anacronismo a ser eliminado em prol do “social”, estas são um alvo favorito para reconhecimento de neoquilombos. Afinal, em muitos casos, são terras públicas sem conflitos com fazendeiros ou uma Aracruz da vida. E graças à estupidez politicamente correta de uns e à falta de empenho de outros, há populações deliberadamente deixadas no seu interior que viram na “brecha negra” uma forma de resolver seu problema, temperado com slogans como “racismo ambiental”.
São Paulo carregará para sempre a mancha de ser um nascedouro da doutrina furada de que “povos tradicionais geram e mantém a biodiversidade e podem ser mantidos no interior de unidades de conservação”, item de fé para uma vertente dita ambientalista que não resiste a qualquer avaliação científica. De fato, como aconteceu na primeira criação da estação ecológica Juréia-Itatins, comunidades foram deliberadamente incluídas em seu interior para “conservar sua cultura” contra os avanços da especulação imobiliária, etc, etc. Como bem conhecido, isso foi um desastre, e criou uma bomba-relógio que era previsível.
Em uma área onde a mesma estratégia de “deixe o pessoal aí” foi adotada, o Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar, além do desastre habitual para a fauna e flora nativas, parte de uma das comunidades caiçaras recentemente optou por ser reconhecida como quilombola, de olho na porteira aberta para atividades hoje proibidas. Parabéns para os que tudo fizeram para manter aquele pessoal ali.
O curioso é o novo quilombo estar junto à antiga casa de farinha e sede de uma fazenda. Um quilombo deveria estar o mais longe possível da antiga senzala, não? Na realidade, nada diferente do que se vê no município quilombola de Alcântara (MA), onde o pessoal local me afirmou enfaticamente que ali nunca houve nada como Palmares e os quilombolas são apenas o pessoal que ficou na região após o colapso econômico das fazendas do tempo do Império.
Também em São Paulo, o Parque Estadual de Jacupiranga perdeu cerca de 10 mil hectares para um quilombo, que também garfou a famosa Caverna do Diabo, a grande atração turística da região, em cujo estacionamento vi as crianças da comunidade vendendo aves silvestres e em cujas matas colegas pesquisadores documentaram a detonação sobre as populações animais e como o palmito é explorado até o último cabrito (lembram da tragédia dos comuns?).
Quando morei em Rondônia visitei o povoado de Santo Antonio, às margens do rio Guaporé, onde 17 famílias, algumas que tinham traços e sotaque bem bolivianos, vivem sobre um sítio arqueológico onde peças de cerâmica e urnas funerárias coalham a superfície das roças. Recentemente o incrível (em muitos sentidos) INCRA resolveu que estas famílias neoquilombolas teriam direito a 44 mil hectares da Reserva Biológica do Guaporé.
O que é duro de engolir é a simpatia de setores do Ministério do Meio Ambiente (MMA) por estes movimentos de quilombolas e outras “comunidades tradicionais” que destroem a natureza de forma politicamente correta. Estamos vendo a rápida involução do conceito de áreas protegidas, que deveriam ser conservadas em perpetuidade para usufruto de toda a sociedade, que agora vivem um processo de privatização para indivíduos, grupelhos e grupos que visam mamar nas tetas da república dos companheiros.
Não restrito aos neoquilombos, este processo também é visível na invasão de áreas protegidas por neo-índios ou índios alienígenas deliberadamente plantados, como ocorreu no Parque Estadual Intervales e na mesma Juréia-Itatins já mencionada. E nas propostas de figuras do MMA de transformar em reservas extrativistas áreas de parques onde suas ONGs trabalham.
Nossa história recente mostra que certa cepa de “ambientalista” quando chega ao poder é um dos piores desastres ambientais.
Mais recentemente, li incrédulo que o Ministério Público Federal (MPF) de Santa Catarina deu o direito de desrespeitar a lei aos candidatos a quilombolas que recentemente ocuparam parte do Parque Nacional da Serra Geral, ordenando ao IBAMA que prevarique e não cumpra a lei que obriga ao órgão coibir desmatamentos ilegais.
Já vi coisa parecida antes, quando o MPF de São Paulo enviou uma “recomendação” para que a polícia se abstivesse de autuar índios Guarani que haviam invadido a Estação Ecológica Juréia-Itatins, e ali furtavam palmito e o vendiam em feiras livres de cidades da região. O curioso é que muitos desses índios tinham carros (fui à “aldeia” e tenho as fotos) e, suponho, carta de motorista. Mas mesmo assim foram considerados “incapazes” e tutelados do Estado pelos procuradores.
Para minimizar, parece que alguém se esqueceu daquele artigo da Constituição que diz que a lei deve ser igual para todos.
Mas no meio do absurdo, vejo a possibilidade de uma coisa boa. Quilombolas não são índios, e não são tutelados do Estado, embora alguns se esforcem bastante para confundir uns e outros. Para os gerentes de unidades de conservação que têm quilombos no seu interior, vale lembrar que a lei, em ponto algum, impede que estas comunidades sejam devidamente desapropriadas, indenizadas e relocadas, o que deve ser facilitado por agora terem títulos de propriedade. Acho que isso facilitará a regularização fundiária de áreas até agora complicadas. Pelo menos é minha interpretação.
É um desastre que a questão da reforma agrária tenha optado pelo caminho da racialização e adotado a estratégia de criar bantustões para satisfazer ideologias anacrônicas e alimentar ONGs de companheiros. Sociedades multiculturais onde os direitos são realmente iguais tendem a ser saudáveis, mas aquelas onde a questão étnica foi associada a direitos diferenciais caminham para o desastre e para conflitos fratricidas.
Estes conflitos são alimentados pelos oportunistas de sempre e por aqueles que acham que os cidadãos de hoje lhes devem compensações por algo que aconteceu a seus ancestrais alguns séculos atrás, e para vender seu peixe seletivamente esquecem detalhes históricos inconvenientes atrás da cortina da retórica inflamada.
Me sinto ofendido por aqueles que olham a cor da minha pele e a priori me consideram um fdp que, se tem algo, foi porque explorou alguém que hoje está na miséria. Que convenientemente esquecem que a Palmares de Zumbi tinha escravos, que a campanha pela abolição da escravatura no Brasil mobilizou boa parcela da execrada população branca burguesa citadina, e que negros como Francisco “Chachá” Félix de Souza, os Dadás de Daomé, os Ogás de Benin e sem-número de microempresários de Gana a Angola enriqueceram vendendo seus “irmãos” aos portugueses (recomendo as obras magistrais de Alberto da Costa e Silva sobre o assunto). Variações de “meus ancestrais venderam os seus” são insultos não incomuns em partes da África.
Há muito maniqueísmo e pouca fidelidade histórica na construção de mitos raciais que estamos vendo pipocar por aí. É melhor para a auto-estima ser descendente de quilombo do que descendente de senzala, mas isso não justifica torcer a História.
A racialização e baboseiras como “racismo ambiental” ofuscam os problemas reais. Pobreza, no Brasil está correlacionada a sistemas políticos locais do estilo feudal, tribal ou big man, educação precária, alta natalidade, ócio não-criativo, e, suspeito, mentalidade católica (no sentido weberiano) que adora o assistencialismo. Muito disso resultado do pouco acesso a serviços públicos de qualidade, embora estes sejam pagos pela parcela menos pobre de nossa sociedade a um governo que come 36% de nosso PIB. Mais fácil camuflar as questões difíceis que isso levanta com a pirotecnia populista de “luta contra o racismo”.
Um governo assumir políticas públicas abertamente racistas é uma viagem à idade das trevas. Humanos são humanos, seja lá sua cor, formato craniano, QI ou habilidade musical, e deveriam ser respeitados como tal e terem direito às mesmas oportunidades, ficando a seu critério aproveitá-las ou não e arcarem com as conseqüências. Esmolas são uma vergonha, uma desonra e um desastre, mas também acredito que os fracos e seus direitos devam ser protegidos quando ameaçados pela injustiça dos fortes.
Se houve a decisão de realizar uma reforma agrária, e se isso é mesmo necessário, esta deve olhar primeiro as necessidades e qualificação dos candidatos, e não seu rótulo étnico. Nas propostas e políticas de hoje há antes um clima de vendeta do que de justiça social, e isso alimentará novos ódios.
Isto se dá em um momento onde, acredite se puder, os níveis de violência e crueldade são os menores da história humana, aparentemente porque, entre outras razões, um número maior de indivíduos têm expandido o círculo de pessoas pelas quais sentem empatia para muito além de suas tribos ou clãs. Ou seja, abraçaram uma parcela maior da Humanidade como “seu” grupo, deixando para trás etnicismos herdados de quando caímos das árvores. A violência humana é mediada por sistemas inatos que identificam quem é ou não de seu grupo. Com etnicidade não se brinca.
Indo além da questão se existem raças ou não, o que gerou muita bobagem irrelevante para a questão social e o discurso politicamente correto que suprime a beleza da variedade e da diferença, a Ciência tem mostrado que muito do que define “ser humano” é compartilhado por outras espécies, como primatas superiores e papagaios, e há cientistas que propõem a extensão de direitos “humanos” a pelo menos a alguns destes.
Ao mesmo tempo em que alguns percebem que a irmandade dos seres sentientes é maior do que nossa espécie e propõem um ecumenismo pan-específico, há os que se voltam para o mundinho de suas tribos.
Se o que você acabou de ler foi útil para você, considere apoiar
Produzir jornalismo independente exige tempo, investigação e dedicação — e queremos que esse trabalho continue aberto e acessível para todo mundo.
Por isso criamos a Campanha de Membros: uma forma de leitores que acreditam no nosso trabalho ajudarem a sustentá-lo.
Seu apoio financia novas reportagens, fortalece nossa independência e permite que continuemos publicando informação de interesse público.
Escolha abaixo o valor do seu apoio e faça parte dessa iniciativa.
Leia também

Mulheres e Oceano: infra estruturas invisíveis da vida?
Tanto o oceano quanto as mulheres carregam uma expectativa silenciosa de que vão aguentar mais um pouco. Mas nenhum sistema consegue ser resiliente para sempre →

Decisão do STF sobre tributos na cadeia de reciclagem preocupa setor
ANAP afirma que incidência de PIS e Cofins pode elevar custos operacionais e pressionar atividades ligadas à coleta e comercialização de materiais recicláveis →

Desmatamento da Amazônia custa mais de US$ 1 bilhão por ano na conta de luz dos brasileiros
Perda de floresta reduziu chuvas, diminuiu a geração hidrelétrica e elevou os custos da eletricidade no país, diz estudo →