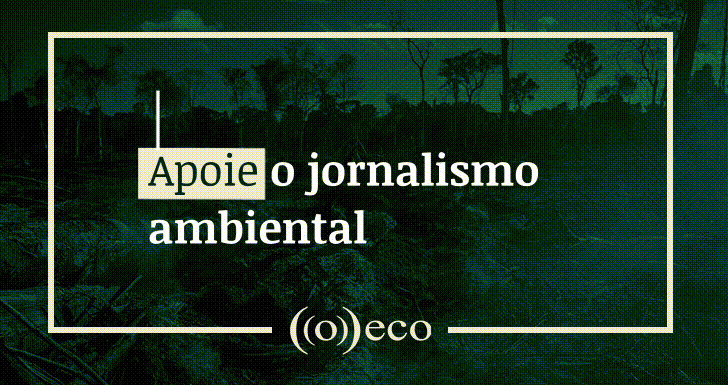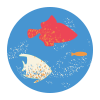Mais forte que o Gustav foi a onda humana que esvaziou Nova Orleans na véspera do furacão. A cidade de quase dois milhões de habitantes depovoou-se por sua própria conta, sem esperar por medidas oficiais de evacuação. Ficaram para ver a tempestade chegar cerca de 50 mil soldados, deslocados para as frentes de emergência, e uns dez mil céticos, que se alistaram espontâneamente na retaguarda civil, até com estoques de cerveja em casa.
O Gustav foi só um susto. Mas, no sul dos Estados Unidos, isso basta. Lá ainda não acabou de passar o Katrina, que em 2005 matou 1.836 pessoas, deixou um prejuízo de 81 bilhões de dólares e marcou ruas inteiras de casas que nunca mais serão reconstruídas. De longe, é mais cômodo imaginar os americanos avançando do que fungindo, mesmo quando se retiram de gurras perdidas. Mas, naquela sociedade, as prerrogativas da autoconfiança não impediram que, meio século atrás, as crianças e adolescentes aprendessem na escola a acocorar debaixo da carteira, sempre que soava o alarme, simulante um ataque nuclear pela União Soviética.
A bomba na escola
Na época, o perigo se chamava Sputnik. Também vinha do céu. Mas não passava de uma bola metálica de 82 quilos, que entrou em órbita em 1958. Com ele, Moscou deu o pontapé inicial na corrida ao espaço. Logo, todo o resto parecia possível. Data daquele fim de década, também, o primeiro relatório científico, tratando de aquecimento global. Mas ninguém na época perdeu muito tempo com isso, porque a sociedade americana tinha coisas muito mais urgentes com que se preocupar. Por exemplo, treinar crianças para o dia da bomba atômica no interior dos Estados Unidos.
Os exercícios só se tornariam engraçados muitos anos depois, quando vieram parar nas memórias do escritor Bill Bryson, publicadas no Brasil com o título Vida e Época de Kid Trovão. Ele já estava na rota do ceticismo que o levaria a uma carreira literária no humorismo. Ao ouviu pela primeira vez em sala um instrutor discorrer sobre o risco da bomba, ele foi perguntar em casa por que os russos tinham que inaugurar o mundo logo em Des Moines, a plácida capital do Iowa onde morava a família Bryson, no coração do Meio Oeste. O pai respondeu que bastaria uma ogiva daquelas cair no centro militar de Omaha, a centenas de quilômetros dali, Des Moines inteira estaria morta antes do anoitecer. E, diante da explicação, o filho se recusou a participar do treinamento.
Mas com furacão ele não brinca, porque sabe que o problema de Nova Orleans não está no céu, como o Sputinik, mas na terra, que afunda inexoravelmente no golfo do México, com ajuda até das tentativas para estabilizá-la artificialmente. No Mississipi, as barragens e eclusas do Mississipi retêm há décadas, rio acima, os sedimentos que, agora se sabe, calçavam o delta. Nova Orleans depende de barragens projetadas na década de 1960, que já custaram 740 milhões de dólares e estão cada vez mais longe de ficar prontas.
Há terrenos, na cidade, que estão cinco metros sob o nível do mar. Ou mais de 15 metros, quando sopra um Katrina. E a desordem climática, que conjura tempestades mais freqüentes e mais violentas no Caribe, é a mesma que empurra os oceanos sobre as bordas dos continentes. Nova Orleans não é uma questão de vida e morte para os americanos, mas um exercício simulado que o mundo todo começa a fazer diante de um planeta que vai se tornando meio irreconhecível.
Se o que você acabou de ler foi útil para você, considere apoiar
Produzir jornalismo independente exige tempo, investigação e dedicação — e queremos que esse trabalho continue aberto e acessível para todo mundo.
Por isso criamos a Campanha de Membros: uma forma de leitores que acreditam no nosso trabalho ajudarem a sustentá-lo.
Seu apoio financia novas reportagens, fortalece nossa independência e permite que continuemos publicando informação de interesse público.
Escolha abaixo o valor do seu apoio e faça parte dessa iniciativa.
Leia também

Agro quer prioridade em norma que veda embargo a desmatamento ilegal
CNA publica lista de propostas legislativas que entidade tem interesse em ver avançar no Congresso. Várias delas compõem o Pacote da Destruição →

Governo institui política para acolher animais resgatados
Nova legislação estabelece responsabilidades para governos e empreendedores no resgate e manejo de animais domésticos e silvestres em emergências ambientais →

((o))eco relança a Campanha de Membros para sustentar jornalismo ambiental aberto e independente
Programa amplia participação de leitores e busca sustentar produção independente sem adoção de paywall →