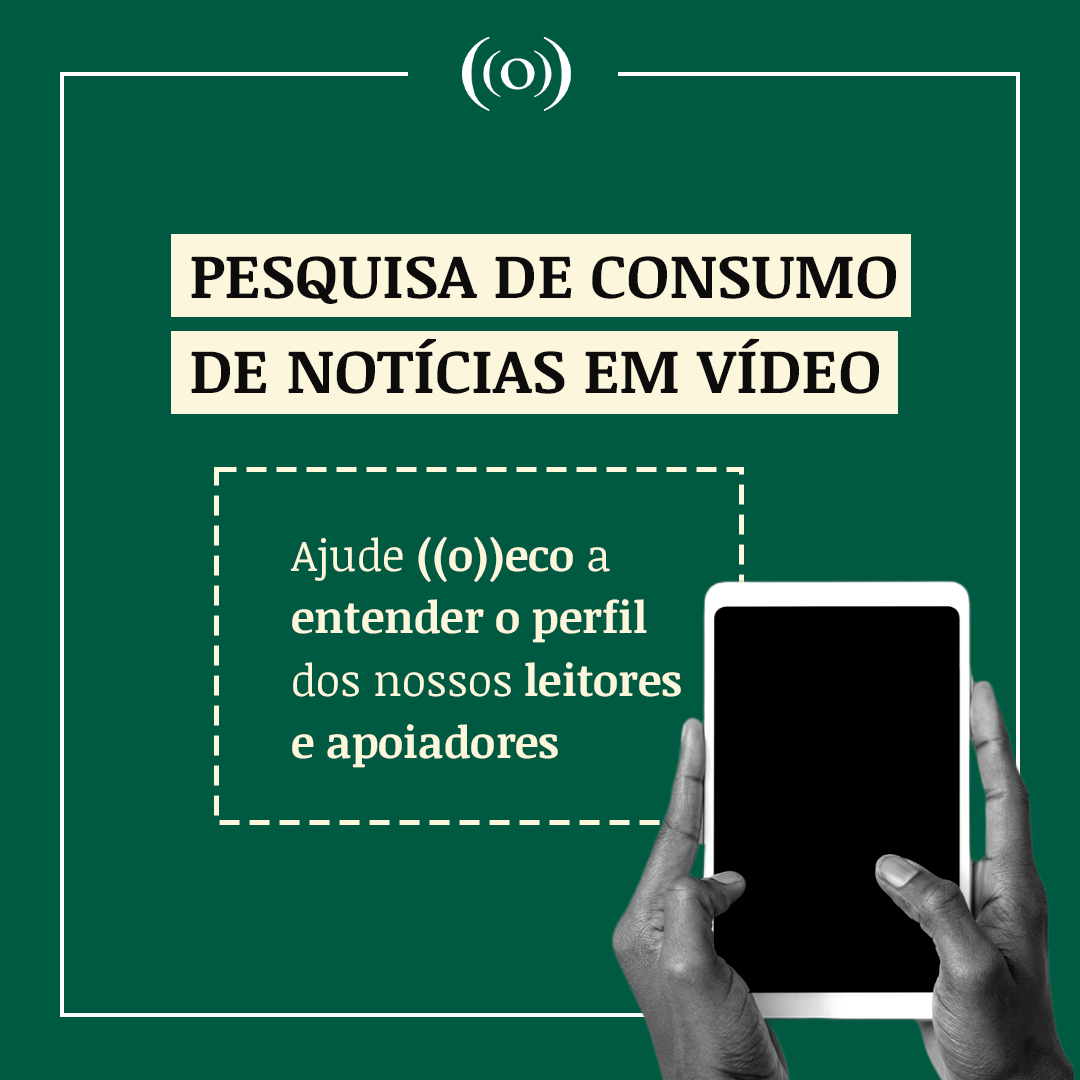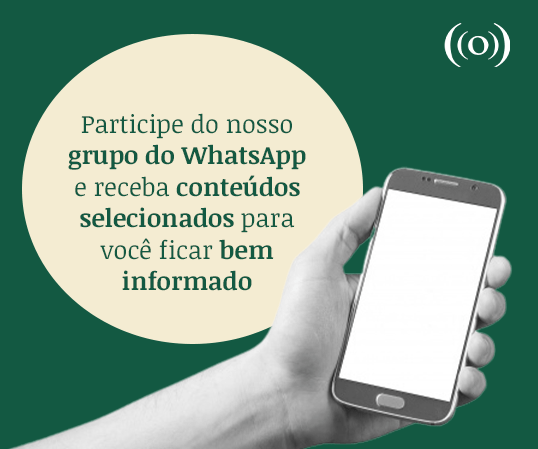O economista Carlos Eduardo Frickmann Young melhora o ambiente até de salas fechadas. É Cadu para os íntimos – ou seja, os alunos no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro ou os entrevistadores de O Eco, que acabavam de conhecê-lo. Define-se de cara para a equipe do site como espécie raríssima, “o único macroeconomista keynesiano verde”. Ele não parece mesmo um economista como os outros. Mas o que quer dizer com isso Cadu traduz numa frase: “Não me chamem para dizer que o crescimento atrapalha o meio ambiente e vice-versa”. Ele fala coma pressa de quem tem urgência de ser ouvido. E se explica com a clareza de quem está à procura de ouvidos permeáveis a novidades. É capaz de dissertar durante horas sobre a crise econômica brasileira, sem recorrer a uma só notícia que tenha saído recentemente nas páginas de Economia de qualquer jornal do país. Usa todo o arsenal teórico que a Economia lhe deu para tratar de assuntos que não pareciam ter nada a ver com seus diplomas, como a destruição do Cerrado, a paisagem desolada do vale do Paraíba ou o desmatamento da Amazônia. Em outras palavras, ele fala de tudo o que realmente interessa, como se pode ver nesta primeira parte de sua entrevista.
((o))eco: O que um economista como você está fazendo no meio de ambientalistas?
Carlos Eduardo Frickmann Young ‒ Eu vim parar nisso por dinheiro, como professor na UFRJ, ainda muito novo. Mas primeiro deixem eu explicar uma coisa. Sou de Niterói. Morei no Rio por três anos. Gosto de velejar. Onde me sinto bem? Eu me sinto bem no canal da Guanabara, entre o Rio e Niterói. Sou rato de praia. Para mim o ambiente perfeito é o mar. Não gosto muito de mato, gosto mesmo é de mar. Mato tem muito mosquito, cobra, aranha… Curto é praia. Mas, como ia dizendo, entrei no ambientalismo pela economia, no governo Collor, quando fiz o último concurso para professor auxiliar do Instituto de Economia. Estava duro, precisava de trabalho, tinha saído do Instituto de Desenvolvimento Industrial (IEDI). Não sou só um economista, sou um ex-IEDI interessado no meio ambiente. Estava com um projeto de pesquisa na minha área, de política industrial. Mas o projeto não saía, eu estava dando aulas de Contas Nacionais, e um dia o João Carlos Ferraz, que tinha sido meu coordenador de projeto, me disse o seguinte: “Olha, como este projeto de política industrial vai demorar a sair, enquanto isso você não quer fazer um projeto de pesquisa com um cara do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)?”. Então eu fui ter uma entrevista com o Ronaldo Seroa, meu amigo na época do doutorado, que aliás é uma pessoa que vale muito a pena vocês conversarem. O Seroa estava trabalhando justamente com contas ambientais.
O que são contas ambientais?
O PIB é um sistema perfeito se você considera que tudo o que é utilizado no circuito econômico é produzido. Dentro do circuito econômico, calcula-se o valor do que é produzido. Quanto custou esse celular? O valor da produção. Quanto custou esse livro? O valor da produção. Pode até ter vindo de graça para você, mas eu sei calcular o valor dele pelo valor que custou para chegar na sua mão. Mas existe um problema nas contas nacionais, que é a única verdadeira falha desse sistema. O problema são os ativos que não são produzidos. Aí, é como no anúncio do Mastercard: “Não tem preço”. Se não tem preço, o preço é zero. Hoje, o PIB do Mato Grosso está aumentando horrores, porque se considera somente o aumento da produção na fronteira agrícola. Não se considera a perda dos ativos naturais: em cima daquele solo útil você está plantando soja, algodão, e perdendo biodiversidade, floresta, uma série de recursos naturais que, por não terem sido produzidos, não têm preço. E se não têm preço, o preço é zero, o custo é zero. A mesma coisa com a contaminação. A contaminação do ar afeta de forma diferente as pessoas e os primeiros a serem afetados são crianças e velhos. Crianças e velhos não trabalham. Se ficam doentes, vão contratar serviços médicos, vão tomar remédios, e assim o PIB aumenta, não diminui. Isso é um problema sério, porque na verdade o que rege as contas nacionais — última grande herança do sistema keynesiano, intocada graças a Deus — é a idéia de demanda efetiva. Conta nacional não mede bem-estar, nunca pretendeu calcular o bem-estar como uma atividade econômica. É aquela história de cavar o buraco de dia para tapar o buraco à noite. Você pode ter mais gente ocupada, mais emprego, o PIB aumentando, mas não necessariamente o bem-estar.
E como se adaptou nessa nova área?
O Ronaldo me chamou para a pesquisa e disse: “Você tem o perfil que interessa, conhece as contas nacionais. Precisamos de alguém que venha da macroeconomia, porque a maior parte vem da microeconomia”. Eu sou oriundo da macroeconomia, dou aula de macroeconomia até hoje, sou o único macroeconomista verde, macroeconomista keynesiano.
Existem outros economistas keynesianos?
Uns quatro. Eu sou keynesiano e macroeconomista, o que torna a coisa mais rara ainda. Mas o Ronaldo perguntou: “Você não vai achar este tema chato, não? Porque no final das contas você não tem nada de ambiental”. Eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação na Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe) e um dos meus professores falava sempre da importância do meio ambiente. Eu pensava “ah, isso é besteira, conversa pra boi dormir”. Quando o Ronaldo me questionou se eu não ia achar o tema chato, respondi: “Não, está na moda…”. Ou seja, menti.
Por quê?
Não sei, era 1991. Com a ECO-92 começaria uma certa badalação. Eu fui me envolvendo com a história e fui gostando. Minha parte na pesquisa era calcular o quanto se perde com a exaustão mineral. A gente trabalha com a extração de petróleo pelo que você consegue produzir de petróleo, mas há uma perda. Como é que se calcula isso? Quanto se perde com isso? O que é fascinante na área ambiental, para um economista, em particular para um acadêmico, são as possibilidades de aplicação de teoria. Para ser um bom economista de meio ambiente você precisa de fundamentação em várias áreas de teoria econômica. Como o tema é horizontal — ou transversal, que é uma palavra muito ruim, então vou usar horizontal —, ou seja, é um tema que corta várias coisas, você precisa ter em primeiro lugar a economia do valor. Quanto valem as coisas. Uma coisa fundamental em economia de meio ambiente é diferenciar preço e valor. Para isso é preciso saber teoria de preço e teoria de valor, é preciso saber a diferença entre os dois. Você tem que ter uma boa fundamentação em tudo o que diz respeito à política econômica, porque já parte por definição do problema da “externalidade”. A economia de meio ambiente não discute se o mercado deve ou não ter intervenção do estado. A questão ambiental não é mais ou menos estado, é mais ou menos bem-estar social. O que é fundamental é a forma de intervenção do estado. Acho que é a única área da economia onde não se discute se deve ou não deve ter estado, e assim se economiza 90% do esforço.
O que vem a ser um macroeconomista keynesiano verde?
Você tem, a grosso modo, duas visões sobre a macroeconomia que enfatizam aspectos diferentes e tiveram seus momentos de hegemonia. Hoje é hegemônica uma política econômica conservadora, que enfatiza antes de mais nada a estabilização. Enfatiza questões de eficiência e ineficiência. Por exemplo, uma questão de eficiência é permitir que o sistema de preços seja o mais livre possível para que a alocação de recursos seja a mais eficiente possível. O gasto público cria uma distorção na economia que precisa ser resolvida. Quando o (secretário de Política Econômica) Marcos Lisboa fala de reforma microeconômica, está dizendo que o ponto fundamental é primeiro garantir que o sistema seja o mais eficiente possível. Uma vez alcançada essa eficiência, o próprio mercado trata da alocação dos recursos da melhor maneira possível.
Mas a eficiência não se refere à economia real, e sim ao superávit, à meta de inflação, aos investimentos do mercado financeiro…
Exatamente. Se a ênfase é a eficiência e a inflação é a principal distorção, então a ênfase é a inflação. Se eu tenho uma fonte estável de rendimentos e o meu rendimento nominal está de certo modo garantido, então minha maior preocupação para gerar renda real é impedir que este rendimento nominal caia. Este é um problema típico do mercado financeiro. Eles não estão preocupados com o impacto da geração de renda. A primeira grande discussão econômica que eu vi com enormes aplicações para a questão ambiental foi a da definição de renda em contas nacionais. John Hicks, um dos maiores economistas e pouco conhecido fora do meio, tinha a seguinte definição de renda: é quanto eu posso gastar sem ficar mais pobre no final do período. Esta é a definição neoclássica de renda. Ele não está preocupado com a conta, e sim com a alocação. Esse é o típico problema neoclássico, que contrasta com a ênfase na eficiência, segundo a qual o mercado se ajusta e os empregos virão naturalmente uma vez resolvidos os problemas de eficiência. São os tais 20 anos de crescimento sustentável prometidos pela gestão atual de política econômica, e também pela anterior. Resolvam o problema da eficiência, que o sistema naturalmente se ajeita. Numa visão keynesiana, o sistema não converge para o pleno emprego. O sistema pode ir para qualquer lugar. Esta é a principal divergência de um e de outro modelo. Eu sou de uma corrente que seja talvez a mais purista, chamada de pós-keynesiana, a visão mais filosófica da revolução de Keynes e de outros pensadores de economia. No caso do Keynes, a visão fundamental é de que o sistema não converge para o pleno emprego, e se não converge ele precisa ser conduzido. Preciso gerar demanda efetiva, e qual é o barato da demanda efetiva? É saber que meu nível de renda depende da sua decisão de gasto. De novo a divergência fundamental entre as duas visões: na visão conservadora, quanto menos gasto melhor, na visão keynesiana não. Por exemplo, na análise custo-benefício, todo pagamento de salário é custo. Só que se você pensar na economia comum, salário é renda. Fica-se naquele paradoxo de que quanto menos a pessoa receber, melhor. Outro paradoxo é a taxa de juros. Predomina a visão de que primeiro eu preciso elevar a taxa de juros para garantir estabilidade, e ao garantir estabilidade eu garanto eficiência. O problema é o seguinte: garantindo eficiência eu garanto investimento, mas por que o empresário vai investir quando o nível de consumo está baixo? Então, para vários economistas, o Brasil precisa de consumo para ter investimento.
Para a área ambiental, por que isso é importante?
Porque numa perspectiva de Terceiro Mundo não se pode dissociar a questão ambiental da questão do desenvolvimento. Eu me considero um economista de desenvolvimento. Trabalho com o desenvolvimento econômico porque essa não é a nossa agenda. Na agenda do hemisfério norte o nível de renda está dado, estão satisfeitos com o nível de renda atual e o problema é alocar. Precisam que o rico consuma menos e o pobre consuma mais. Que o cara consuma menos super-pickups e vá para o transporte coletivo. A questão de padrões de consumo é da agenda do norte. A nossa questão é outra: a gente precisa aumentar o nível de renda, aumentar o nível de emprego e conservar. Numa perspectiva de Terceiro Mundo, temos que pensar em crescimento com preservação ambiental. Por isso eu entendo toda essa agonia do Ministério do Meio Ambiente em querer mostrar na marra que isso é possível. Por exemplo, o PDBG (Programa de Despoluição da Baía de Guanabara). Vamos supor que o próximo governo do estado do Rio de Janeiro vai implementar de verdade o programa de saneamento e limpar a Baía de Guanabara. Isso vai gerar uma quantidade de empregos muito alta. A questão ambiental não restringe o crescimento. Ela envolve gastos, e numa perspectiva keynesiana se eu tenho gasto eu tenho meio de renda desde que haja mão-de-obra sobressalente. E o que mais temos aqui é mão-de-obra sobrando. Se aumentar o gasto com meio ambiente vai aumentar o emprego e a qualidade ambiental. O principal motivo do desmatamento é o peão, porque se cai o custo da mão-de-obra o sujeito sem emprego está disposto a se meter no meio do nada para tentar conseguir alguma coisa. Está disposto a ganhar qualquer 10 reais para entrar no desmatamento.
O “patriarca” José Bonifácio achava que, acabando com a escravidão, acabaria com o desmatamento.
Até hoje é assim, não é? Claro que os escravos não tinham nada a ver com isso, mas se não houvesse escravidão como mão-de-obra barata não teria havido essa insanidade da ocupação dos morros do Vale do Paraíba.
Por que um país como o Brasil não consegue ter uma indústria ambiental que gere riqueza e empregos?
O gasto ambiental está concentrado fortemente no setor público. O gasto privado não chega a 10% do gasto total em preservação ambiental. O gasto externo, embora seja importante para projetos livres, é cada vez menor e vem quase sempre na forma de empréstimo, quase nunca como doação. A área ambiental está amarrada ao setor público, e a crise fiscal é também uma crise ambiental. É uma crise geral e uma crise heterogênea. Onde a crise fiscal é menos sentida, o meio ambiente se ressente menos. O município do Rio de Janeiro é um bom exemplo de quem se deu bem e tem contas equilibradas. É um fato, o lixo no Rio é uma situação bem tratada. Já o Estado do Rio é um bom exemplo de estado quebrado, a agência ambiental do estado está quebrada. Assim você tem uma parceria entre o município e a União funcionando muito bem, no Parque Nacional da Tijuca, onde na verdade o município aloca muito mais recursos porque tem uma boa gestão, e do outro lado deveria ter uma boa parceria entre estado e município na questão do saneamento, mas não funciona, por outras razões que não somente financeiras. Em todo caso, eu bato muito nessa tecla: não me chamem para dizer que o crescimento atrapalha o meio ambiente e vice-versa. Tanto o crescimento quanto o meio ambiente são atrapalhados pela mesma coisa: a crise econômica. Eu não acho que a curva de Kusnetz…

Curva de Kusnetz?
Você conhece a história do bolo? O bolo da economia que tinha que crescer para poder dividir? A teoria do bolo é uma versão grosseira da curva de Kusnetz, um russo que emigrou para os Estados Unidos e observou que historicamente nos países desenvolvidos a renda concentrava durante o processo de industrialização para depois desconcentrar. E não disse mais nada. O economista bota a mão naquilo e faz besteira. Em vez de ser uma relação histórica observada no passado, eles fizeram uma lei geral. Nos países mais ricos a renda é desconcentrada, nos países mais pobres a renda é desconcentrada, nos países do meio a renda é mais concentrada, daí a curva de Kusnetz tradicional. A curva de Kusnetz ambiental é uma visão diferente do bolo: é preciso primeiro sujar o bolo para crescer, e depois você limpa. Ou seja, você teria a necessidade de piorar as condições ambientais para depois melhorar. Empiricamente isso não se aplica a todas as variáveis, só a algumas, como aquelas ligadas à urbanização. O processo de aglomeração urbana é escatológico, e depois que chega ao nível do insuportável você começa a investir. Por isso, em alguns tipos de poluentes locais dá para se observar uma relação de curva de Kusnetz. Aí você não precisa se preocupar: primeiro se cresce e depois, espontaneamente, a situação melhora. O problema é que, para uma série de outros poluentes, a biodiversidade não anda para trás. Não tem como melhorar a biodiversidade depois que piorou. Essa teoria mascara o problema, da mesma forma que a teoria do bolo mascarava a necessidade de políticas concretas para se ter distribuição de renda. A curva de Kusnetz ambiental gera a impressão de que você primeiro tem de priorizar o crescimento. É como se o ambiente fosse uma questão de luxo, e o ambiente não é uma questão de luxo…
Esta curva se aplicaria ao crescimento das favelas do Rio?
Minha leitura é outra. Não sou um economista que acredita que as coisas venham naturalmente. Por formação eu tendo a acreditar que a economia não vá a lugar algum. Eu creio que ela vai para onde o momento histórico apontar. Não é coincidência que o maior país escravocrata tenha recebido a maior desigualdade de renda. Tem um passado, uma história, um institucional. O que é preciso é de soluções concretas, um tipo de política que simultaneamente resolva o problema de renda e emprego do sujeito. Porque se ele tiver opção, vai viver melhor. Eu acredito na racionalidade das pessoas. Agora se criou essa ficção de que a política ambiental é forte o suficiente para atrapalhar o crescimento. Eu até gostaria que fosse, que tivesse essa capacidade, seria um sinal de competência. Nós queremos compatibilizar crescimento com meio ambiente, mas quem não deixa ter crescimento são os economistas. São problemas da política econômica que têm atravancado as condições de renda e emprego, e desse jeito eu não consigo ver uma solução para as políticas ambientais. Eu não sou um ambientalista de unidade de conservação, e sim um ambientalista no sentido mais geral. Eu gosto de praia, logo quero ver a minha praia limpa. Fui à praia terça-feira e ela estava toda suja. Eu sabia que aquela sujeira tinha vindo de falta de limpeza, falta de saneamento, de lixo que vazou. Esse problema só vai ser resolvido se forem dadas condições objetivas para a sociedade responder à cidadania. O tema maior é resolver a exclusão social e a ambiental. O favelado não é excluído apenas economicamente ou socialmente, ele é ambientalmente excluído. Quem pega hepatite é ele, quem está com rato morando ali do lado é ele. Nessas comunidades de favelas, a propensão de doenças por vias hídricas, por exemplo, é altíssima. O que falta é sensatez mesmo, um pouco de bom senso para resolver simultaneamente crescimento e preservação, porque pobreza gera degradação ambiental. Não quero aqui crucificar o pobre, mas é uma questão econômica.
E a curva de Kusnetz?
Não. O que estou dizendo é que existe uma relação entre pobreza e crescimento. Não estou dizendo simplesmente que crescendo se resolve. Na visão da curva de Kusnetz ambiental eu não precisaria me preocupar com políticas ativas. Naturalmente o mercado responderia.
E essa relação não é de mão dupla?
É. O sujeito que está excluído vai ter muito menos cidadania. Estou escrevendo um texto para a revista Ciência Hoje com a Maria Cecília Lustosa, que foi minha orientanda da tese de doutorado, em que a gente tenta resgatar aquela velha discussão do desenvolvimento latino-americano, da necessidade de transformar. Citando os velhos mestres, o Celso Furtado tem uma frase maravilhosa: “Aí é que começa a fantasia organizada”. É o momento em que a sociedade acredita que seu futuro é pelo menos parcialmente dependente de si própria. A gente precisa construir uma fantasia porque a vivemos num momento de muita desilusão, de se resolver as coisas em curtíssimo prazo. A gente precisa pensar longe.
O Brasil não está vivendo num regime de utopia zero?
Está. Utopia zero e fome de idéias absolutas. A idéia de inclusão é absoluta. O processo de exclusão social se manifesta plenamente, em todas as dimensões, e nada mais natural que na dimensão ambiental também se manifeste. Esta é mais uma característica que vai separar o sujeito da favela do resto da sociedade e vai transformá-lo num pária.
Sem degradação ambiental o Brasil teria fome?
Não sou um especialista em fome. Acho que fome, no sentido literal da palavra, existe em um número tão ínfimo de pessoas que qualquer presidente, em qualquer gestão, resolve. Até o Garotinho resolve. Mas o modelo de 500 anos de ocupação do território definitivamente não resolveu os problemas de carências básicas, porque é muito concentrador e expulsa mão-de-obra. A ocupação da zona da mata alagoana tem 450 anos. Se este modelo tivesse algum benefício de longo prazo ele já teria se manifestado nas áreas de ocupação mais antigas. A zona da mata em Pernambuco, em Alagoas, na Paraíba… são regiões com um nível de desenvolvimento alto, mas onde a pobreza rural é comparável à pobreza das áreas mais desfavorecidas do semi-árido. A escravatura foi um sistema de exclusão absoluta. Não consigo imaginar um sistema mais empobrecedor do que o escravocrata e a origem da pobreza no Brasil está aí. Criou-se em 1888 uma legião de despossuídos. Então passaram a contratar mão-de-obra mais barata, começou um processo de expulsão e veio a escassez da mão-de-obra. O problema da escassez agora refletido não na questão da pobreza, mas sim na questão da opulência. Esta nova opulência mostrada pela revista Veja, dos novos ricos do Cerrado, não é solução para os problemas de pobreza e meio ambiente. Vejo o processo de exploração e concentração se repetir, e de novo todos sendo afetados.
É o Vale do Paraíba do século XXI…
É mais ou menos por aí, mas sem precisar do escravo. Agora o sujeito que está sendo empregado é quase um funcionário agrícola. O operador de máquina colheitadeira que usa GPS não é um indivíduo que você vai tirar do morro. Está acontecendo um processo de expansão capitalista naquela região, um processo de concentração fundiária que resulta na expulsão do pequeno produtor familiar. O IBGE mostra que perdemos 2,5 milhões de postos de trabalho na agricultura brasileira de 1990 a 2002, que foi provavelmente o período de maior expansão da agricultura nos últimos 50 anos. É um processo de acumulação primitiva de capital. Não consigo usar outro termo.
Este discurso da onda de opulência é que vai abrir as novas fronteiras…
Com certeza parte desses excluídos vai se meter no meio da mata. O custo de oportunidade deles é baixíssimo. O que têm a perder? Ou vai ser um bóia-fria e virar um favelado rural, ou vai ser um bóia-fria e virar um favelado urbano.
O preço da comida não baixa com o aumento da produtividade?
A questão do alimento barato é uma discussão antiga de economia. A importância de manter os salários de subsistência baixos, o fornecimento de alimentos baratos e investir na agricultura para manter a mão-de-obra barata. Seria um argumento verdadeiro se essa produção se destinasse essencialmente ao consumo doméstico. Mas não vejo muita afinação hoje entre a expansão da fronteira no Cerrado e a produção de alimentos para a população brasileira. A última safra brasileira, considerando somente os grãos, foi de 125 milhões de toneladas. Somos quantos brasileiros? Uns 175 milhões. Divida um pelo outro, dá uns 700 quilos de grãos por cabeça ao ano. Agora divida por 365, dá uns 2 quilos de grãos ao dia. Ninguém come 2 quilos de grãos por dia.
O preço da comida está subindo menos que a inflação?
Isto não é porque a fronteira está se expandindo. O preço da comida está relacionado com a tarifa dos produtores de Teresópolis, no Rio, de Cotia, São Paulo. Nossa alimentação é de outra natureza. Ela é bem intensiva de mão-de-obra. Você cobra na realidade produtos de hortifruti, e pouco de feijão e arroz. Talvez o que esteja barato no Brasil seja a carne, de fato a gente tem carne muito barata. Mas será que eu preciso converter desta quantidade brutal de área? Não vejo uma necessidade tão evidente de expandir a fronteira, porque temos um enorme território e já estamos gerando dois quilos de diários de grãos por habitante, sem contar fruta, carne, ovo… O que não falta é comida. Fome zero, num país que produz dois quilos de grãos por dia para todo habitante, não é um problema de falta de área para plantar.
Qual é a saída para o setor agrícola?
Hoje, toda a política comercial brasileira é voltada para a expansão da fronteira agrícola, na expectativa de que esta fronteira vai gerar empregos. Vai gerar até divisas, nisso eu acredito, mas emprego não vai gerar. Existe um outro tipo de agricultura, que talvez não seja tão insensível com a mão-de-obra como foi no passado, e com certeza é mais sensível com a mão-de-obra do que esta. É uma agricultura que diferencia o produto, que coloca o produto com um preço maior. Na minha aula de economia, eu perguntei para os alunos se eles pretendem ter filhos, e quantos deles acham que na hora de comprar papinha para os filhos vão procurar saber no rótulo se o produto foi geneticamente modificado ou não. Um número considerável respondeu que sim, que pagariam um pouco mais por um produto diferenciado. Embora vá ser intensiva também em tecnologia, em capital e em máquina, essa agricultura será mais intensiva em mão-de-obra. Principalmente em relação ao grande gerador de desmatamento, que é a pecuária. Na pecuária extensiva, de fazendas gigantes, um boi ocupa não sei quantos hectares, numa área em que você poderia estar produzindo de forma intensiva, adicionando qualidade. Então tem que ser decidido se vamos competir num mercado de soja transgênica mecanizada e de custo mais barato – e certamente o preço não vai subir no mercado internacional, já está até caindo – ou vamos disputar num mercado de café orgânico que tem uma característica diferente e é mais caro. Essa é uma pergunta que os produtores rurais estão se fazendo. Tem gente investindo nessa outra agricultura. A mesma coisa na questão da pecuária: qual o tipo que eu quero? Eu posso transformar a Amazônia numa imensa pastagem e vai ter churrasco para todo mundo no final de semana, mas emprego não. Vai ter carne barata, mas é esse tipo de modelo que eu quero?O keynesiano verde – Parte II
Carolina Elia, Eduardo Pegurier, Manoel Francisco Brito, Marcos Sá Corrêa e Sérgio Abranches
Esta é a segunda parte da entrevista com Carlos Eduardo Young ‒ ou melhor, Cadu, um economista que, muito cedo na carreira, desviou sua atenção para os assuntos que a maioria dos colegas ignora ou faz de conta que não existem. No meio acadêmico, ele reconhecer que virou “avis rara”. Ou seja, um professor que pode começar uma aula perguntando aos alunos se eles sabem o que acontece nas entranhas da cidade quando apertam a válvula de uma descarga. O exemplo é concreto. E provocou certo embaraço, menos pelo assunto, do que pela falta de alguém que levantasse o braço para dar uma resposta. Como ele queria demonstrar, vivemos todos num mundo onde a economia está de costas para a natureza.
Nesta rodada final da conversa com O Eco, Cadu fala da oportunidade que o Brasil já deixou passar de tirar o melhor proveito possível do Protocolo de Kyoto. Revela suas dúvidas sobre a eficácia do extrativismo para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Desafia o senso-comum, absolvendo os madeireiros do maior peso da culpa pelo desmatamento do país. Mas aponta para um futuro em que a conservação ambiental acabará, mais cedo ou mais tarde, prevalecendo por simples racionalidade econômica. Ou seja, porque é um bom negócio.
Como vai no Brasil a política ambiental?
Um problema pouco discutido é o pacto federativo. Em algum instante da República brasileira acordou-se que o governo federal deve se meter em floresta e temas complexos, como energia nuclear e áreas costeiras, mas que a gestão do dia-a-dia, do homem e do espaço urbano, não é de competência federal. A gestão do nosso espaço é estadual e municipal. Quem concentra a maior parte das tarefas ambientais talvez sejam os estados. A agenda municipal é muito mais específica. Quando a prefeitura está bem organizada e estruturada, este tema é bem tratado. Quando não é bem tratado, você tem um prejuízo brutal, inclusive regionalmente. Enfim, há um desequilíbrio das competências. As agências estaduais controlam, por exemplo, a poluição da água. O governo federal se mete na questão do abastecimento, mas não em saneamento.
Isso distribui bem as coisas?
Não. Funciona de forma muito desigual. A alocação de recursos do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Pode ser vista por dois critérios fundamentais: um é a área e o outro é a população. O Sudeste tem 40% da população e recebe mais ou menos 40% da verba. O Norte tem quase 50% da área e quase 50% da verba. Mas Nordeste está sub-representado na alocação de recursos do Ministério, tanto no critério territorial quanto no critério populacional. Existe um vínculo forte entre a pobreza e meio ambiente. Ou melhor, a solução da pobreza passa pela conservação ambiental. Então é óbvio que teríamos que privilegiar o Nordeste. Por que o Nordeste fica de fora? Aí entra outro problema, que é o financiamento. A maior parte dos recursos livres para conservação vêm de fora. O que fazer com o dinheiro da conservação? “Põe tudo em floresta”, dizem os financiadores. Aí vai tudo para a Amazônia.
A transposição do rio São Francisco não entra nessa conta?
Se é para levar a água de um lugar a outro, mais água não é sinônimo de mais desenvolvimento. Se fosse, as regiões periféricas de Belém e Manaus seriam muito ricas, porque o que não falta ali é água. O problema não é levar água, e sim desenvolvimento, estrutura social. Levando água e molhando o Nordeste você vai ter um ex-semi-árido. Ou seja, vai ter um Maranhão. Ele apresenta padrões de pobreza diferentes dos do Nordeste? Não. No entanto, chove no Maranhão à beça.
Desmatar é bom negócio?
O desmatamento está associado a uma forma de ocupação que, no curto prazo, é sem dúvida lucrativa. Porém é lucrativa para quem detêm aquele ativo, e em geral isto se dá por apropriação de terras públicas. É o que está acontecendo agora com a demarcação da reserva indígena Raposa Terra do Sol, em Roraima. Terra do governo de graça eu também quero. É o que eles estão fazendo lá: transformam em reserva indígena terras que pertencem à União. Os índios querem privatizar a terra, querem a doação de títulos de terras devolutas, o que é uma forma de expansão, um faroeste. É a luta pela terra, pelo direito de propriedade. O cara ocupa aquilo ali pelo direito de propriedade e pela acumulação. Há um ciclo que começa como fronteira social e se transforma em fronteira comercial à medida que são estabelecidos os direitos de governo, de garantia de propriedade, de acesso à estrada, de ter um posto de saúde. Aí o preço da terra sobe e aquele agricultor comercial que não estava a fim de assumir o risco de ir para a fronteira começa a se interessar. Como ele tem acesso ao capital e tem as máquinas, e com isso pode ter uma produtividade maior, está disposto a pagar mais pela terra. É isso que empurra o colono para novas fronteiras. O colono vai entrando não porque está fracassando, como a gente aprendia, ou porque o solo é ruim e a terra não dá. Ao contrário, a terra é boa e ele vende.

E onde entra o madeireiro?
Vou falar uma coisa polêmica: eu acho que o madeireiro, quando é madeireiro mesmo, não tem nada a ver com o desmatamento completo, o desmatamento que transforma floresta em pasto e pasto em terra degradada. Quer dizer, tem a ver, mas não é o principal responsável por ele. O que faz o madeireiro? Vamos supor que tenho uma ilha e vou tirar pau-brasil. Identifico as árvores de pau-brasil, corto, e as que estão longe demais não vou cortar porque existe um custo que é crescente, vou ter que abrir estrada e tudo mais. Então não vou cortar qualquer madeira, vou identificar aquelas que têm mais valor para mim. Em áreas remotas o madeireiro é naturalmente seletivo, não porque seja bonzinho ou preservador, mas porque para ele mão-de-obra custa dinheiro. O que acontece numa área de extração de madeira é a alteração da composição florestal. Foi o caso do pau-brasil, que ficou praticamente extinto na costa brasileira. Mas nem por isso acabou com a Mata Atlântica.
Dá para levar ao pé da letra que madeireiro não desmata?
O problema é que há um conluio nessa história. O madeireiro abre caminho, cobrindo um dos custos mais importantes de ocupação da floresta, que é a entrada na floresta. O pecuarista não quer botar fogo na Amazônia, porque é caro. As árvores lá têm um alto teor de umidade. Para colocar fogo numa floresta úmida é necessária uma grande quantidade de calor que não nasce sozinha. O madeireiro que está no processo de ocupação da fronteira na Amazônia não age sozinho. Atrás dele vai o pecuarista, vai o agricultor, vai sobretudo o grileiro. Para diminuir os custos, eles fazem um acordo com o madeireiro: “Você pode tirar todas as espécies que quiser, desde que limpe aquela área para mim”. Esse tipo de madeireiro sabe que sua atividade não é sustentável e que seu ciclo vai ser curto. Em 1995 eu fui a Paragominas, no Pará. Era uma cidade estranhíssima, que tinha uma rua gigantesca de terra batida, bares em todos os lados. Quando cheguei lá me disseram: “Se te chamarem do que quer que seja, não responde, porque aqui se resolve tudo na bala”. A cidade tinha pouco tempo de existência, tinha crescido com a exploração da madeira, e em pouco tempo á estava começando o seu declínio. Agora, Paragominas deve ter um quarto da população que tinha.
E hoje, onde mora o perigo?
O grande risco para a Amazônia é quererem asfaltar a estrada Cuiabá-Santarém. Se o problema lá era o custo de transporte, ao reduzir este custo você está induzindo a ocupação, que é claramente não sustentável nem competitiva. Nem vamos falar de sustentável, vamos falar de economia: a ocupação não é competitiva porque aquele cara que vai plantar soja na Cuiabá-Santarém não terá acesso ao mercado de primeira. Vai ter que vender seu produto de porta em porta.
O manejo florestal é uma alternativa?
É. Hoje existe um movimento de serrarias e de exportadores de madeira que chegaram à conclusão que não dá para prosseguir neste modelo de destruição da floresta. Eles precisam investir em equipamentos e técnicas, para ter qualidade. Isto sem falar na certificação. Sempre vai ter um eco-chato dizendo que a certificação da FSC, que é o selo principal, não é suficientemente forte, que tem trapaça. Mas, aos olhos de um economista, que vê a grande figura, ela é um grande avanço. A certificação está se tornando uma necessidade, porque o consumidor vai ficando mais exigente, não só ambientalmente mas também na qualidade. A madeira vem da selva pelo rio e, se você não tem um bom processo de secagem, ela não é bem aproveitada. Investindo em equipamentos, a fábrica precisa ficar fixa, e como a fronteira vai expandindo o custo de transporte aumenta. Por isso essas madeireiras querem fazer manejo florestal. Claro que muitas ainda não estão neste patamar primitivo, mas o setor madeireiro é um dos únicos que acreditam na floresta em pé. O mercado madeireiro vive de floresta. Pecuarista e agricultor vivem de terra.
Como devemos ler os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE?
Aquilo não é uma pesquisa do IBGE, mas sim informações condensadas de outras fontes. Há um tempo atrás não tinha nada do IBGE que sintetizasse as informações de natureza ambiental. Aí o Guido Gelli montou uma equipe, liderada pelo Wadih João Scandar Neto, que é uma ótima pessoa, e eles começaram a fazer uma coisa que ninguém tinha feito antes: agregar numa mesma publicação tudo o que havia disponível de informação estatística na área ambiental. Por isso não surpreende que não haja nada extraordinariamente novo. Nos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável aparecem, por exemplo, dados sobre desmatamento na região da floresta atlântica, que o IBGE não levanta. Quem levanta é o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais), junto com a ONG S.O.S. Mata Atlântica. É um compêndio de praticamente tudo. O que se sabe sobre o assunto no Brasil. Mas uma coisa curiosa é que nele não há quase nada sobre poluição. No máximo, há números sobre a concentração de poluentes no ar em áreas urbanas, levantada pelas estações de medição. Existe um buraco nas estatísticas ambientais sobre poluição, que é você não saber quem polui o ar.
Acha os dados sobre desmatamento confiáveis?
Foi importante ter saído o Atlas da S.O.S. Mata Atlântica. É um trabalho sério. Mas ainda existe uma dificuldade de identificar a vegetação, principalmente numa área antropizada. Uma vegetação cheia de imbaúbas, como é que se classifica? Vista de cima é uma mata, então deve acabar classificada como Mata Atlântica. A Floresta da Tijuca é ou não é Mata Atlântica? E aí entra o próprio conceito de Mata Atlântica. Ele é aceito para floresta secundária também? Uma floresta secundária fechada, como é o caso da Floresta da Tijuca, já estável, é Mata Atlântica? Eu não sou um purista. Acho que a árvore nacional é a mangueira. Pode ter vindo da Ásia, mas é a única que você encontra em qualquer lugar.
Acredita no extrativismo como solução ambiental?
Coitado do extrativista… Se descobrem um frutinho do açaí que dá mercado, ele vai plantar açaí, mas aí não terá como concorrer. Se existe uma planta medicinal na Amazônia que vai curar o mau hálito, você acha que o laboratório vai ficar dependendo de mateiro ir no mato pra pegar uma fruta de um tamanho, outra de outro? Claro que não. Ele vai tentar produzir de forma controlada, homogênea, se possível clonada. Do ponto de vista de mão-de-obra, sim, o extrativismo é rentável. Na floresta antiga, vamos colocar assim, na gigantesca floresta amazônica que tinha três ou quatro famílias numa área muito grande, o fator escasso era a mão-de-obra. Com a expansão da fronteira, o fator escasso deixa de ser mão-de-obra e passa a ser terra. Você troca um modelo que era muito rentável por família mas pouco rentável por área, por um modelo que é muito pior em termos de produtividade por família, mas é mais rentável por área. Resultado da história, conflito. O grande agente econômico que pode e está a fim de ajudar é o setor madeireiro. Até porque está faltando madeira tropical. No mundo acabou a madeira tropical e hoje você tem cada vez mais madeira plantada no Brasil. Há um espaço de valorização e uso econômico para essa madeira. Com a concessão de exploração em algumas florestas nacionais, você impede que haja a grilagem de terras públicas. Uma política positiva deste governo é a questão das florestas nacionais. O manejo é uma solução. É viável você ter a floresta e uma atividade econômica, e quanto mais de longo prazo for este manejo, menos intervenção você terá na floresta. O problema é que a interferência pública de longo prazo para abrir uma porta como essa na prática torna muito difícil abri-la.
Ainda há o que tirar da Mata Atlântica?
Ninguém tem mais uma serraria de escala na Mata Atlântica. A floresta tropical é heterogênea. Cada tipo de madeira exige um tipo de serra, de material. Montar toda a linha de produção para cortar dois troncos de jacarandá não é negócio. E já chegamos no ponto em que a rigor não há mais Mata Atlântica. A que sobra é pouco e por isso rende pouco. E a terra de onde ela saiu está desvalorizada, tem tão pouca perspectiva que o cara vai garimpar. Faz literalmente um garimpo de recursos. A última coisa que sobra, que é aquela mata de encosta, ele vai converter em carvão. Nada é pior que essa porcaria do carvão vegetal. Ao contrário do madeireiro, que só se interessa pela árvore de maior porte, o carvoeiro pega qualquer toco. Este é o problema em Minas Gerais e no Espírito Santo. Eu vi uma matéria muito boa no Globo Rural sobre a Serra do Cipó, mostrando claramente como o desmatamento para fazer carvão está afetando o lençol freático. Depois, ele aluga a terra para um pasto de baixíssima produtividade, mas ainda ganha um trocado. O benefício financeiro dele é positivo individualmente, mas se você pensa na sociedade como um todo, aquilo está gerando um prejuízo enorme.
Dá pra reverter essa história?
Eu acho que dá. Sou otimista quanto ao reflorestamento da Mata Atlântica. O benefício econômico de conservar e expandir o que sobrou é muito maior que o benefício financeiro de manter como está ou desmatar. Há uma crise de água – enchente, falta de água – e há uma enorme discussão entre os cientistas se é ou não um mito o negócio de que ao se conservar a floresta você protege os recursos hídricos. Sinceramente, não conheço um proprietário rural que não acredite nisso. E eles, no fundo, são pessoas racionais.
Os créditos de carbono são um incentivo ao reflorestamento?
Não, o que se espera ganhar com o crédito carbono é relativamente pouco. Quem vai se beneficiar são os grandes plantadores de eucaliptos e pinus para a produção siderúrgica e de papel e celulose. Mesmo com ratificação do Protocolo de Kyoto, você não tem crédito de carbono com floresta em pé, não tem crédito de biodiversidade. Ninguém vai pagar por água da Amazônia. Uma derrota imensa para o Brasil foi que o desmatamento evitado ficou de fora dos créditos de carbono.
Por quê?
Por uma concepção muito atrasada de quem faz a gestão da mudança climática. Ou seja, por ainda acreditar naquela velha teoria de segurança nacional, de que defender floresta é colocar em risco o desenvolvimento e a integridade do território nacional. Por incrível que pareça, eu fui obrigado a ouvir essas coisas ao explicar por que o governo brasileiro seria o maior beneficiário em receber créditos de carbono. Quem paga 90% dos esforços para deter o desmatamento é o povo brasileiro. São dados do governo federal. Não é o gringo que vem aqui, coisa nenhuma. Quem paga o Ibama é o meu salário. Quem está lutando para tentar deter a expansão da fronteira, portanto, somos nós. O Brasil emite pelo menos duas vezes mais carbono por mudança do solo e queimada do que pela queima de combustíveis de origem fóssil. Por isso, evitar as queimadas e o desmatamento deveria ser nossa principal fonte de créditos de carbono. Mas as pessoas que conduzem as discussões sobre mudança climática dizem que proteger a floresta é “colocar cerquinhas nas fronteiras”. O termo pejorativo que eles usam é esse mesmo! E é um acinte para pessoas como o Adelmar Coimbra Filho, o almirante Ibsen Gusmão Câmara, todas as pessoas que passaram a vida lutando por conservação. O governo brasileiro foi e tem sido muito infeliz ao não lutar por crédito pela contenção do desmatamento. A nossa tendência concreta é o desmatamento. Nunca se desmatou tanto como hoje na Amazônia. É um dado absoluto, e mudar isso deveria dar crédito. Por que eu tenho que arcar com esse custo sozinho se o benefício é global? Não vejo perda de soberania nenhuma nisso.
O que está errado no Protocolo de Kyoto?
O Protocolo de Kyoto tem o mesmo pecado do apagão brasileiro. O sistema privilegia quem é ruim e quer melhorar, e não premia aquele que sempre foi bom. No caso do racionamento de eletricidade, quem tinha feito uma super-reforma para se tornar mais eficiente antes do apagão e conseqüentemente baixado sua conta de luz foi penalizado com uma cota menor do que aquele cara irresponsável, que deixava tudo ligado. Ou seja, quem mais consumia foi beneficiado recebendo uma cota maior. A mesma coisa com o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Ele é assimétrico, não trata da mesma forma projetos da área energética e projetos da área florestal. O mercado mundial de carbono vai ter uma primeira classe, com os países desenvolvidos, que vão comercializar carbono entre si. A segunda classe vai ser a dos processos de troca da fonte de energia. Por exemplo, a conversão de uma usina termelétrica a carvão para uma usina a gás reduz a emissão de carbono e isso gera crédito. Não haverá limites para essas operações. Na terceira classe, vão estar os projetos de plantio florestal. Para eles foi colocado um limite máximo. E abaixo da terceira classe está o desmatamento evitado. Esse nem entrou na conta, por culpa do governo brasileiro.
O Brasil não tem muita área desmatada para ganhar créditos com reflorestamento?
Tem. Mas olha só que paradoxo: eu ganho crédito plantando eucalipto, que demora a crescer, e não ganho nada evitando que uma floresta rica em biodiversidade e em seqüestro de carbono seja desmatada. Não ganhamos nada por evitar um desmatamento que vai resultar em 100 toneladas de carbono lançado na atmosfera por hectare ao ano, mas ganhamos para plantar uma floresta mixuruca, que vai retirar no máximo 3 ou 5 toneladas de carbono ao ano, e ainda leva uns 20 anos para chegar à mesma densidade da outra. O sistema é muito assimétrico.
Haverá créditos também para energia renovável?
No Brasil, não acredito. Mas, se houver, qual seria o risco dessa corrida para os créditos de energia renovável? O biodiesel, por exemplo. Que maravilha, está todo mundo gostando de biodiesel. Mas qual é a maior fonte de óleo vegetal no Brasil hoje? A soja. Então, você vai chegar ao paradoxo de desmatar para produzir soja e com ela biodiesel? Vamos produzir carbono para evitar o aquecimento global? O lobby da soja já está de olho nesse mercado. Querem fazer com a soja na Amazônia igual à cana no Pró-Álcool, que foi a facada final na Mata Atlântica…
Não aprendemos com o erro?
É muito mais fácil perceber a importância de um ambiente quando ele é perdido do que quando está inteiro. Se hoje acontece um incêndio de 100 hectares de Mata Atlântica isso vira notícia de jornal, mas um de 1.000 hectares na Amazônia passa despercebido até pelo jornal local. Por quê? Por causa da escassez relativa. É o drama dessa nossa alienação. Hoje dei uma aula interessante na faculdade, uma aula de esgoto. Perguntei o que acontecia quando se aperta a descarga. Para onde vai o seu esgoto? A maior parte dos alunos não sabia. Os alunos da Zona Sul, que acompanharam todo o problema do emissário submarino, nunca tinham parado para pensar para onde vai aquilo tudo.

Por quê?
Por alienação em relação ao espaço físico. Um pouco do ranço, como diz o Elio Gaspari, das pessoas que moram no andar de cima, em que tudo lhes é garantido, inclusive o ambiente. Se eu sou do andar de cima, vou morar numa casa legal, numa área ambientalmente protegida, no final de semana vou pegar meu carro e ir para a praia que eu escolho, aquela mais deserta, aonde os farofeiros não chegam, porque vou colocar uma barreira. Por pior que seja a praia de Búzios comparada ao que era antes, ainda é mais interessante que o Piscinão de Ramos.
Quem é quem na economia ambiental?
Existe uma coisa muito bacana que é a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (SBEE), que agrega um número muito grande de pessoas pelo Brasil. Tem encontros bienais, no ano que vem deve ser em Brasília. Lá tem gente interessante como José Eli da Veiga, Ademar Ribeiro Romeiro, Peter May, o Ronaldo Seroa da Mota, que agora está afastado mas esteve envolvido com a origem da Sociedade, o Jorge Madeira Nogueira. Esses são os grandes nomes. Recomendo também o livrinho “Economia do meio ambiente” (editora Campus), que era para ser um manual de curso. Ali estão os grandes temas da economia ambiental.
Como vocês, os ambientalistas da economia, são vistos pelos outros?
Eu me sinto como o heterodoxo da heterodoxia. Sou uma “avis rara” totalmente excêntrica, porque por formação já não me vinculo à linha tradicional de pensamento da Economia. Tenho uma visão heterodoxa e ainda escolhi um tema heterodoxo. Então sou duplamente heterodoxo.
Isso só acontece no Brasil?
Lá fora é muito comum ser heterodoxo no tema, mas não heterodoxo no método. Há uma enorme pasteurização da visão econômica. Essa história do pensamento único abunda na economia. No Brasil a gente ainda consegue manter alguns centros com visões alternativas. Lá fora, o cara não aprende outra coisa além da microeconomia de manual. Hoje um estudante de faculdade americana já ouviu falar de Marx, mas nunca leu. Ouviu falar que tem um cara chamado Keynes, um Schumpeter, mas nunca leu. Mas lá também existe uma sincera insatisfação com os modelos existentes. O que diferencia as duas agendas é que a agenda do sul, a nossa agenda, é efetivamente uma agenda de desenvolvimento, e não apenas ambiental. Esta é uma característica marcante nos poucos economistas ecológicos, uma característica própria do movimento ambientalista. Fico feliz ao prover meus alunos com uma coisa diferente. Minha contribuição marginal é muito maior falando de coisas que eles não conhecem, do que sendo mais um a discutir políticas monetárias, cambiais e fiscais.
Como eles reagem?
Quanto mais novo o aluno, melhor a recepção. Isso é legal, porque eles não esperam que na sala de aula alguém vá lhes perguntar o que acontece quando você aperta a descarga, ou que você vá associar política monetária com desmatamento. O Consenso de Washington é pouco atraente para um jovem de 20 anos. Quando falo do mercado de carbono ou da certificação ambiental, noto um interesse muito maior por parte deles do que quando falo de PIB ou inflação. Já encontrei ex-alunos trabalhando na área ambiental. E o resultado é bom não só para eles, mas também para os que vão trabalhar em outras áreas, e vão ficar mais atentos a essas questões.
Logo, o grupo dos excêntricos tende a crescer?
Vai crescer muito, por várias razões. Entre elas a demanda que vamos ter de civilização. Conservação é um pré-requisito para a civilização. Cuidar do espaço e do meio é uma demanda civilizatória, e essas relações vão se intensificar. Meu pessimismo não é com a questão ambiental, mas sim com o modelo econômico. É tudo muito diferente do tempo em que eu era aluno de economia, no início dos anos 80, quando ainda se discutia o modelo. Já fui a passeata contra o FMI. Havia um debate muito rico, que hoje acabou. A academia usa uma receita de bolo: existe um diagnóstico, um modelo, uma solução. Não tem o que inventar. Você tem que reduzir o déficit público, liberalizar, privatizar, interferir o mínimo possível e gerar educação. Isso resume tudo e serve para Tailândia e para Manaus.
*Editado às 23h11, do dia 06/03/2019, para melhoria da diagramação e recorte de fotografias. O texto não foi alterado.
Leia também

Desmatamento no Cerrado cai no 1º semestre, mas ainda não é possível afirmar tendência
Queda foi de 29% em comparação com mesmo período do ano passado. Somente resultados de junho a outubro, no entanto, indicarão redução de fato, diz IPAM →

Unesco reconhece Parna dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio da Humanidade
Beleza cênica e fato de os Lençóis Maranhenses serem um fenômeno natural único no mundo levaram organização a conceder o título →

Dez onças são monitoradas na Serra do Mar paranaense
Nove adultos e um filhote estão sendo acompanhados pelo Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar. Primeiro registro ocorreu em 2018 →