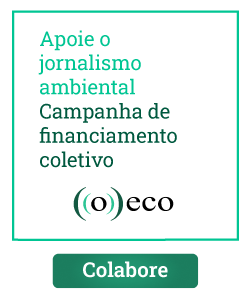Reorganizar a forma de existir no mundo, em que a sociedade conviva com a natureza e não esteja contra ela. É assim que o professor Celso Sanchez define o que é, para ele, a tarefa principal da educação ambiental. Em conversa com o geógrafo Bruno Araújo sobre o tema, para o podcast Planeta A – que foi ao ar em novembro do ano passado e republicado por ((o))eco –, Sanchez também apresenta o que envolve a educação ambiental, sua história e o que significa, nos dias de hoje, conviver em sociedade.
“A educação ambiental não pode ser algo descolado da história do mundo, da história das pessoas, da história dos povos, das tradições ancestrais… Porque como a gente está aprendendo muito bem com Krenak, o futuro é ancestral. E o futuro da educação ambiental também é ancestral. (…) Não adianta você preservar sem levar em consideração as pessoas que convivem com as espécies, com os biomas, com os ecossistemas”, disse.
Celso Sanchez é biólogo e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), atuando na Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Educação. Coordena o Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde el Sur, GEASur/UNIRIO. Além disso, é conselheiro do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena do Estado do Rio de Janeiro e diretor secretário da ADUNIRIO, seção sindical Andes.
Escute o episódio completo do podcast Planeta A no link.
Confira a entrevista abaixo:
Bruno Araújo: O que é a educação ambiental e quando ela começou a ser institucionalizada no Brasil? Queria que você falasse um pouco do histórico da educação ambiental.
Celso Sanchez: A educação ambiental é sinalizada pela primeira vez em âmbito internacional na Universidade de Kiel na Inglaterra, segundo um livro que é muito interessante de Genebaldo Freire Dias. Foi um livro que marcou uma época aqui no Brasil e se chama Educação Ambiental Princípios e Práticas. Ele tenta resgatar esse cronograma, essa cronologia da educação ambiental no mundo. Ele apresenta esse primeiro movimento Acadêmico, que reagia a uma demanda dos movimentos sociais dos anos 60 muito ligados à contracultura, os movimentos antinuclearização, antimilitarização, contra a guerra do Vietnã, entre outros, que se juntaram e entenderam a agenda ecológica ambiental como uma agenda que unificava muitos movimentos sociais. Em geral, a gente marca a educação ambiental a nível internacional neste momento.
Em 1972, a Conferência de Estocolmo já vai apresentar uma resolução que diz que a educação ambiental deve ser uma ação estratégica dos governos. E a partir daí já começa em 1975 um programa internacional de educação ambiental, o PIEA. Em 1977 nós vamos ter por exemplo a Conferência de Tbilisi que vai reunir os governos para pensar uma agenda de educação ambiental.
Isso vai criar acúmulos que vão se desembocar lá nos anos 90, no Brasil, a partir da Rio 92, que vai sediar esse encontro da ONU que foi o segundo encontro depois de 72. Em 92, foi aqui no Rio de Janeiro a discussão sobre meio ambiente, uma conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, como se chamou naquela época. A discussão ambiental da educação ambiental é a primeira apresentada oficialmente como uma importante ação estratégica dos governos e isso vai ajudar na institucionalização da educação ambiental no Brasil, que acontece em 1999 a partir da Política Nacional De Educação Ambiental, Lei 9795 de 1999.
O Rio de Janeiro é um dos primeiros estados que vão ter uma legislação estadual própria de educação ambiental. Uma ação que aconteceu porque aqui no Rio a gente tinha um acúmulo das lutas ambientalistas que trouxeram esse debate da educação ambiental muito forte.
Depois,a partir de 1999,a gente tem uma série de iniciativas muito importantes que vão consolidar a educação ambiental nos estados, como a criação das CIEAs, os Comitês Interinstitucionais de educação ambiental nos estados, e isso mais tarde vai ajudar quando ocorre no primeiro governo Lula a criação de um órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Esse órgão gestor organiza as diretrizes da educação ambiental brasileira, cria projetos institucionais, cria ações como escolas sustentáveis, cria uma série de iniciativas muito importantes que vão consolidar a educação ambiental brasileira. Inclusive publicam um livro muito importante que está disponível em PDF chamado “As identidades da educação ambiental brasileira” e mostra diferentes correntes de pensamento e perspectivas teóricas… É um momento muito efervescente da educação ambiental no Brasil e que coloca o país como referência internacional da educação ambiental. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre a história da educação ambiental, eu me lembro de uma vez que eu conversei sobre isso com povos indígenas, com o povo Guarani e com a nossa querida amiga Ivanildes, que é uma liderança Guarani. Ivanildes está lá em Ubatuba, nas aldeias de lá e ela é muito sábia. Conversando com ela sobre a educação ambiental, sobre seu histórico, ela disse: “ué mas isso aí o nosso povo já sabia há muito tempo”.
Então eu gosto de repensar no início da educação ambiental na Universidade de Kiel e problematizar com uma perspectiva nossa, dizer que talvez muito antes da universidade, os nossos povos originários, não só no Brasil mas em Pindorama ou em Abiayala, e talvez no mundo já tivesse conhecido o que é a importância de educar com a natureza, com o meio ambiente. Isso é muito importante para a gente lembrar que a educação ambiental não pode ser algo descolado da história do mundo, da história das pessoas, da história dos povos, das tradições ancestrais… Porque como a gente está aprendendo muito bem com Krenak: o futuro é ancestral. E o futuro da educação ambiental também é ancestral.
Eu quero fazer uma pergunta que dialoga com o histórico que você trouxe, que obviamente ao longo da institucionalização e do crescimento, o fortalecimento da educação ambiental no Brasil e no mundo, diversas linhas diversas e apropriações da educação ambiental aconteceram e diversas perspectivas da educação ambiental também. E eu queria que você, sem a intenção de esgotá-las, pudesse trazer aqui um pouco quais são as principais e quais são as que mais tem força.
Nós temos três marcos relevantes nesse debate: um a partir dos meados de 1990, por volta de 1995, 96, que é a necessidade de começar a construir tendências, observar tendências da educação ambiental, não só no Brasil, mas a nível global, nas diferentes orientações. Porque o que acontece é que muitos professores, profissionais, atores políticos, que foram se envolvendo com a educação ambiental, são oriundos do campo das ciências naturais, biólogos predominantemente num primeiro momento, numa determinada época, depois muda bastante esse perfil. Mas o que aparecia num determinado momento era uma educação para a conservação da natureza, uma educação para a construção de estratégias de conservação, porque isso era uma tradição. Você vê a IUCN, a União Internacional Para a Conservação Da Natureza, é de 1947, portanto, é claro que eles já tinham propostas pedagógicas de pensar o cuidado com a natureza, a preservação da natureza e a criação de parques. Isso vai criar uma cultura pedagógica de leituras, ações, construção de uma educação para a conservação da natureza. Digamos que é uma grande tendência da educação ambiental que foi mapeada por pesquisas muito importantes como da professora Lucie Sauvé no Canadá, que foi falar das correntes da educação ambiental e suas correntezas. Essa pesquisa reverberou muito no Brasil, eu mesmo tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre tendências da educação ambiental em 1995, 96, coisas obviamente muito desatualizadas atualmente. Não recomendo meus trabalhos, mas as pessoas avançaram nos debates do que a professora Lucie Sauvé havia apontado para a educação ambiental. Mais adiante, surge um trabalho muito importante do professor Gustavo Lima junto com o professor Philippe Layrargues, meu amigo, mentor querido, pesquisador de extrema importância para o campo da ecologia política e da educação ambiental. Surge uma percepção, até porque ele fazia parte desse movimento lá em 1992, que era a necessidade de a gente problematizar determinados aspectos dessa educação para a conservação da natureza que às vezes passava batido e que eram importantes da gente sinalizar e apontar. Naquela época havia uma preocupação de salvar uma espécie e não levar em consideração muitas vezes as pessoas que conviviam com aquela espécie. Então isso vai gerando uma necessidade de a gente fazer por um lado, a crítica à maneira como as empresas, o mercado, o capitalismo estavam absorvendo o debate ambiental de uma forma muito pragmática, muito objetiva, muito ligada às normatizações ambientais, à gestão ambiental, a esse universo da sustentabilidade que surge lá no final dos anos 80 e impacta, atravessa, todos os anos 90 e está aí até hoje. E, por outro lado, também fazer a crítica a essa visão conservacionista que não levava em consideração as pessoas. Não adianta você preservar sem levar em consideração as pessoas que convivem com as espécies, com os biomas, com os ecossistemas. Então essa visão mais socioambiental, que também era parte fundamental do debate, por exemplo, que Chico Mendes fazia. Então, o professor Gustavo Lima junto com o professor Philippe Layrargues vão organizar isso no que eles chamam de macrotendências da educação ambiental. Uma educação ambiental conservadora, que tem essas características próximas a esse primeiro momento de uma visão do ambientalismo, dos movimentos ambientais muito próximos à conservação, os movimentos conservacionistas. Isso que o professor Juan martínez num livro muito importante chamado “Ecologismo dos Pobres” vai chamar do culto ao silvestre, de uma maneira muito provocativa. Quer dizer que é uma etapa do pensamento ambiental muito mais presente nos países do norte, particularmente nos Estados Unidos e Canadá, achando que a preservação e a educação para a preservação vinha apenas do conhecimento científico, da conservação das espécies.
A problematização que se faz a partir dos movimentos sociais, que vão gerar uma crítica, um pensamento crítico e, paralelo a isso também, a incorporação pelo mundo do capital, das indústrias do mundo capitalista mesmo, do debate da ecoeficiência, do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, por aí vai… O professor Juan Martínez chamou isso de “evangelho da ecoeficiência” , o que é muito jocosa essa forma de construir essa problematização, eu gosto muito.
E a partir daí também o professor Gustavo Lima com o Philippe Layrargues eles vão chamar essa modalidade, essa macrotendência, de uma tendência mais pragmática. O pragmatismo também vai estar presente em outras práticas de educação ambiental muito pontuais, efêmeras, que são respostas às vezes até de movimentos mais populares, movimentos mais coletivos que colam numa certa forma de fazer campanhas de educação ambiental, mobilizações de educação ambiental, que são muito pragmáticas, mas não são críticas, como eles apontam e tentam consolidar aquelas discussões que a gente fazia desde 1992 problematizando essas abordagens numa macrotendência que eles chamam de “macrotendência da educação ambiental crítica”.
Então essas são as pesquisas que a gente vê nesse universo. Quem tiver interesse em se aprofundar sobre esses temas, é bom observar o que foram as leituras das diferentes correntes de educação ambiental apontadas pela professora Lucie Sauvé, mais tarde a apresentação das identidades da educação ambiental brasileira e mais recentemente uma percepção das macrotendências da educação ambiental, que vão acompanhar um pouco essa reflexão do professor Martinez que aponta essa corrente mais crítica, por exemplo, como oriunda dos movimentos por justiça ambiental. Então hoje a gente tem uma macrotendência da educação ambiental crítica atenta aos movimentos da ecologia política por justiça ambiental, procurando o tempo inteiro contextualizar a defesa do meio ambiente às pessoas que estão nessas lutas.
Com o aumento dos eventos climáticos extremos, o tema da educação climática ganhou força e diversos projetos de lei foram protocolados pelo país, em vários estados, municípios e também no Congresso Nacional. Eu queria que você falasse das aproximações e diferenças da educação ambiental e da educação climática.
Esse debate é fundamental. A gente precisa fazer esse debate. Primeiro ponto: é fundamental reconhecer os acúmulos da educação ambiental, de toda essa trajetória. É claro que desde o início todo debate climático está ali nas discussões ambientais e é claro que também o debate climático não está descolado de todo o debate ambiental como um todo. Falar de clima é falar de proteção das florestas, falar de água, falar de todas as correlações, as interdependências. Segmentar a discussão climática numa caixa específica para a educação climática é repetir um erro que o cartesianismo nos ensinou a repetir o tempo inteiro, que é achar que uma especialização ou uma dedicação exclusiva àquele tema, àquele currículo, àquele debate, vai dar conta de um problema complexo.
Então desde os estudos de complexidade de Edgar Morin lá dos anos 70, 80, até todas as reflexões de Fritjof Capra, das linhas de filosofias mais recentes, mais não humanas, toda a rede sócio-técnica do Bruno Latour, dos debates feitos pela Dana Haraway nas filosofias Animalistas e outras perspectivas filosóficas mais biocêntricas, mais biofílicas… Tudo isso vai apontar para a necessidade da gente ampliar o olhar e não especializar o olhar. Filosofias não especistas têm feito exatamente a abertura da questão da nossa cabeça para para esse tipo de busca de outros pontos de vista, de outras perspectivas.
Então para uma perspectiva teórica faz muito mais sentido falar de educação ambiental e climática ou educação ambiental para o combate às mudanças climáticas, educação ambiental e mudanças climáticas, enfim… O nome realmente não importa, mas é entender que a discussão climática está sendo necessária de ser ampliada a partir dos acúmulos da educação ambiental. Uma perspectiva da educação climática pura e simples é uma perspectiva, você vê nesse caso o nome importa, é uma forma de segmentar, de criar um espaço de debate que desconsidera esses acúmulos, por um lado. Por outro, ele deslocaliza e corre o risco de ser despolitizado, porque como a gente está vendo, o debate da educação ambiental foi ganhando complexidade porque ele foi entendendo a sua dimensão política, ele foi se politizando, saindo da mera educação para a conservação ambiental ou conservação na natureza e meio idílica, meio distante das pessoas, ele foi se politizando, entendendo que só vai ser possível a partir da relação com as pessoas, de uma ecossistêmica de luta, de uma ecologia de saberes, uma ecologia de ações, inclusive, de buscar interfaces e não o contrário.
Então eu acho que a educação ambiental hoje enfrenta o desafio de ver mais essa ameaça vindo desse discurso da educação climática descolada destes acúmulos e para mim o risco que há nisso é da despolitização do debate das mudanças climáticas. Entender, por exemplo, que as mudanças climáticas precisam ser discutidas no âmbito das vulnerabilidades socioambientais, da justiça ambiental e climática, das discussões das desigualdades socioambientais e climáticas… Todas as grandes empresas hoje têm setores de meio ambiente, mas isso não quer dizer que elas pararam de poluir. Ao contrário, não quer dizer que empresas que têm setor de meio ambiente sejam responsáveis com o meio ambiente. Engraçado, elas têm o setor de responsabilidade, mas não quer dizer que elas sejam responsáveis. Ao contrário, elas pioraram suas práticas ambientais. E é de uma contradição enorme porque, veja só que interessante: agora nas políticas internas da empresa, você tem o seu próprio copo, você tem as suas práticas de coleta seletiva dentro da empresa, as empresas chegam a ser até rigorosas demais com o trato do seu funcionário dentro do seu prédio e ao mesmo tempo essa mesma empresa está lá no campo invadindo áreas indígenas, expandindo sua área, sua planta industrial, sua área de plantio e exportando mais, produzindo mais e gerando mais resíduo, mais lixo, mais impacto do que nunca. Então é uma contradição que mostra que a ecoeficiência é uma falácia, é uma mentira.
Não que não seja importante a gente também fazer esse debate. Temos que ter ações de ecoeficiência, não há dúvida de que temos que ter, mas o compromisso não pode ser essa hipocrisia ambiental que a gente vê no discurso ecológico assumido por determinados setores empresariais, dentro do que o Martinez chamou de evangelho da ecoeficiência. Acho que esse é o risco que a gente tem quando falamos em educação climática, negligenciando esses acúmulos.
Inclusive, me parece que nos últimos nos últimos anos, com o boom das discussões sobre mudanças climáticas, há um descolamento do debate sobre a crise climática em relação à crise ecológica que se coloca no planeta hoje, a crise da biodiversidade, a crise dos ciclos, por exemplo do fósforo, de elementos naturais e outras crises e outros pontos de não retorno que a gente está avançando para superá-los, que ficam à margem dessa discussão, em que o foco está totalmente voltado para a questão climática. Me parece que há essa especialização para o clima. As COPs na verdade não são conferências para clima, são reuniões das partes e existe a COP da biodiversidade que tem uma cobertura muito menor do que a COP para mudanças climáticas. Então me parece que tanto do ponto de vista do mercado, quanto do ponto de vista das discussões internacionais, dos países, quanto do ponto de vista da sociedade, de nós também que estamos criando conteúdo, que estamos debatendo, que estamos fazendo a discussão pública, uma hiperespecialização na discussão climática em contraposição a uma crise ecológica que é muito mais ampla do que essa crise climática.
Exatamente. A gente não pode perder de vista a dimensão sistêmica da crise, porque veja só que é importante: quando a gente descola esses assuntos, e o sistema ONU ele tem essa tendência, já que os temas são muito vastos, é muito difícil fazer o debate, ele tem a tendência de resolver buscando especializações. Ele está repetindo um padrão de pensamento cartelístico, positivista, muito acadêmico por um certo aspecto, que é muito ruim. Isso mostra o quanto a ONU ouve pouco os movimentos sociais, como tem pouco diálogo social, como a gente precisa ampliar a participação social no sistema ONU. É fundamental esse debate para mostrar a necessidade da reforma das Nações Unidas, no sentido de que ela inclua mais espaços de participação de escuta da sociedade para que haja de fato uma reverberação das demandas sociais e não apenas só de alguns segmentos.
Aqui a gente está falando de um problema que demonstra a necessidade de uma reforma do pensamento também. Isso já está há muito tempo sendo dito. Acho que eu me lembro aqui sempre do Edgar Morin como um grande expoente do pensamento complexo sistêmico, o Fritjof Capra com a teia da vida, entre outros pensadores, que foram apontar a necessidade da gente ampliar nossas percepções sistêmicas, fruto de muitas reflexões, muitos debates ao longo de décadas e que vão mostrar por exemplo a dificuldade quando a gente segmenta, fragmenta e hiperespecializa, para usar uma expressão do próprio Edgar Morin. O risco da hiperespecialização, da cegueira da hiperespecialização, que ele escreve num livro chamado “O método”, lá no volume 2. Esse risco da hiperespecialização, essa cegueira que surge da hiperespecialização, não faz a gente entender as interseccionalidades. Nós estamos num momento de escutar pessoas e movimentos sociais que apontaram a necessidade dessa interseccionalidade: Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, as nossas pesquisadoras que falaram da América Latina, como fez Lélia Gonzalez que apontaram para a necessidade de compreender a indissociabilidade do patriarcado com o racismo, com a discussão de raça, gênero e classe interligadas. As mulheres negras brasileiras são fundamentais para o pensamento universal, para a reflexão sobre o Brasil e uma das imensas contribuições delas é a ideia de interseccionalidade. Isso vai reverberar o mundo afora com pensadoras como Patrícia Hill Collins e hoje a gente não pode falar de questão climática sem entender estas interseccionalidades, estas distribuições desiguais do dano ambiental oriundo das mudanças climáticas sobre diferentes populações. Está aí o racismo ambiental explícito, posto na nossa frente, que todos os momentos a gente vê em tragédias ambientais, eventos climáticos extremos ou crimes ambientais. A gente vê como recai desproporcionalmente sobre a população preta desse país e da América Latina, do sul global como um todo, sendo em outros lugares do sul global mais visível também a distribuição desigual em grupos periféricos indígenas, pescadores, populações tradicionais… Então essa desigualdade distributiva do dano ambiental, como vai nos falar o professor Henri Acselrad, as discussões todas do professor Rogério Haesbaert sobre como essas desigualdades vão ser apresentadas, como a violência ambiental vai ser desigualmente distribuída entre os diferentes oprimidos ambientais, como a gente trabalha lá no GEASur através do trabalho da professora Rafaela Uchoa com o professor Leonardo Castro e nós também. A gente vem vendo que é fundamental falar destas desigualdades e aí estão as interseccionalidades. A Carolina Oliveira, que fez doutorado conosco mostrando o impacto da as mulheres no fundo da Baía de Guanabara numa tese linda que chama-se “Cidades Mares e Marés – Educação ambiental de base comunitária no fundo da Baía de Guanabara” vai mostrar exatamente isso: As interseccionalidades nessas mulheres pretas periféricas, a desigualdade distributiva dos danos ambientais e a necessidade dessa percepção que é sistêmica, é complexa e nem é tão difícil assim. Porque quando a gente usa a palavra complexo, a gente às vezes mistura com difícil e não necessariamente, porque a gente está mostrando que talvez seja melhor falar interseccionalidade para dizer que o que é complexo. Às vezes é aquilo que relaciona as pessoas com as realidades sociais concretas, objetivas, ou seja, nós precisamos pensar na agenda oriunda da realidade social concreta, objetiva. Dali surgem os currículos, as práticas, as políticas e a ação necessária para transformar o mundo rumo a uma emancipação de fato. Então, para mim, a chave nesse momento da complexidade do debate é a interseccionalidade, tal como apontada pelas nossas pensadoras brasileiras como outras mundo afora.
Eu gostei da sua resposta. Me fez refletir sobre uma outra questão que é essa interseccionalidade. Ela é necessária justamente para fazer uma relação entre cultura e natureza, entre sociedade e natureza. No livro “O Bem Viver”, do Alberto Acosta, ele faz um panorama histórico dessa ruptura entre sociedade e natureza, a começar lá com os filósofos pré-socráticos na tentativa de explicar os fenômenos da natureza a partir de regras gerais, depois aparece na Bíblia a noção de dominai os peixes que nadam nas águas, os animais que rastejam em que caminho. Novamente aparece no século XV com o iluminismo, Francis Bacon e o pensamento cartesiano. Depois um novo aprofundamento durante a Guerra Fria, no século passado, em que os Estados Unidos apresentam o conceito de desenvolvimento como algo a ser buscado por todas as nações do globo. E como ao longo dessa história o caminho é sempre o de romper, e promover uma cisão entre sociedade e a natureza, nesse panorama histórico há um momento em que essa ruptura se apresenta de maneira mais explícita que é o período colonial que se explora pessoas e a natureza em nome de uma de uma ideologia, de um pensamento e sobretudo, da acumulação de riquezas. Então eu queria te fazer a pergunta: Qual o papel da educação ambiental para esse religamento, essa reaproximação, entre sociedade e natureza?
Nossa, muito bom, agora vieram outros nomes indispensáveis para falar de interseccionalidade: A Kimberley Crenshaw, Bell Hooks, Carla Cotirene que tem esse trabalho também muito importante… São pensadoras que têm ajudado muito a gente a se conectar com a perspectiva das mulheres negras para pensar a interseccionalidade, mas também a interdisciplinaridade.
Esse debate me faz refletir sobre qual é o nosso ponto de partida. Ainda pensando com elas, a gente tem, por exemplo, a discussão da nossa ancestralidade africana diaspórica, onde você tem os povos yorubá fazendo ou produzindo ou existindo a partir de outras cosmopercepções. Como diria a filósofa nigeriana Yumi Yoronk, que a Cláudia Miranda professora da Unirio, minha colega, minha professora mestra, é uma grande leitora e também interlocutora, as perspectivas, as cosmopercepções – veja só que não é só cosmovisão que tem outros sentidos envolvidos de povos africanos em diáspora, são cosmopercepções que vão levar a uma outra forma de habitar o mundo, um habitar com a natureza – Essa forma de habitar com a natureza a gente vai encontrar também com os povos originários desse país. Isso está presente na obra do Ailton Krenak o tempo inteiro, Davi Kopenawa, da Eliane Potiguara, nossa querida escritora indígena, está na obra da incrível artista plástica Yara Tucano, sou muito fã, completamente apaixonado pela obra dela. Claro, do Jader Disbel, que deixou um legado gigantesco no impacto da arte dele falando disso, dessa necessidade de questionar, essa maneira de habitar o mundo. Que, como diria o Malcolm Ferdinand, nesse livro incrível “Ecologia decolonial”: é um habitar colonial, é um habitar que repete o que eu chamo de monomundo, que é o mundo da monocultura da soja, da cana do café, do açúcar, mas também a monocultura das ideias Como diria a Vandana Shiva, monocultura da mente e das sementes, como ela diz no livro dela.
Então, para mim o monomundo, esse mundo monolítico, monocromático, monostático monogâmico, monotudo, onde você tem a monocultura como princípio e como meta, cuja finalidade é o enriquecimento de uns e não de outros, no fundo tem um supremacismo aí dentro do monomundo: a monoacumulação. E no fundo é para beneficiar alguns supremacistas como Elon Musk e esses bilionários que agora a gente está vendo que são pessoas muito estragadas, muito adoecidas e assim perigosas mesmo porque são promotoras do monomundo. Então a gente nesse monomundo tem uma monocultura muito perigosa de um povo, uma forma de habitar o mundo que é contra a natureza. O Sérgio Moscovici escreveu um livro muito bonito chamado “Sociedade contra a natureza”, onde ele tenta recuperar exatamente a origem psicossocial, a ecologia social dessa forma de estar com a natureza, que é uma forma de ser contra a natureza.
Eu acho que nesse habitar colonial que o Malcolm Ferdinand denuncia tem uma dimensão muito importante para a gente refletir, que é o fato de a gente construir a possibilidade de uma educação que nos faça romper com o monomundo, com esse habitar colonial, e a gente possa aprender com outros habitares ou outras formas de estar com a natureza, de ser sociedade com a natureza. Essa é a aliança que eu proponho com povos originários, com comunidades quilombolas, com comunidades tradicionais e muitas favelas também. A vida em comunidade revela muito isso, uma forma de estarmos uns com os outros em solidariedade. Eu aposto muito nisso, acho isso muito pedagógico. A gente aprende muito quando vê experiências comunitárias como cozinhas comunitárias, creches comunitárias, biblioteca comunitária, lavanderia comunitária… Essas são formas de existir com os outros, outras comunidades e com a natureza também. É muito importante isso.
Quais são os principais desafios para a educação ambiental hoje no Brasil?
Nossa, são muitos. Acho que agora a gente tem que enfrentar o desmonte, tem que recuperar o monte, literalmente. Recuperar o monte significa retomar todos os nossos acúmulos, significa disponibilizar todos os nossos acúmulos que eles tentaram apagar, significa recuperar toda a nossa memória e fazer com que ela esteja viva. Significa fomentar uma conferência nacional de educação ambiental, não apenas só de meio ambiente, mas uma conferência nacional de educação ambiental, onde a gente possa juntar escolas, comunidades, juntar todo mundo para pensar a política pública brasileira de educação ambiental e dar um exemplo para o mundo. A respeito disso, juntar empresas também com as boas práticas que algumas delas têm, não aceitar mais lavagem greenwashing, não aceitar mais o engodo do marketing ecológico, não permitir mais que campanhas ocupem o lugar da educação. Uma coisa é uma campanha, a outra é a educação.
Exigir que a educação ambiental realmente seja na centralidade do debate sobre o brasil, que o BNDES tenha um setor de educação ambiental, de fomento de ações de educação ambiental, que a gente tenha a educação ambiental em todos os órgãos de Estado: Na Polícia Federal, Na Polícia Rodoviária Federal… Outro dia eu falei isso, mas como assim? O pessoal que faz operação em favela pode ajudar a fazer passagens para fauna em estradas? Por que a Polícia Rodoviária Federal não pode? Se já está tão disponível para trabalhar invadindo favela e cometendo atrocidades, asfixiando pessoas no camburão deles, por que não trabalhar de fato e ir para as estradas evitar atropelamento de animais silvestres? Criar corredores de fauna? Enfim, a gente quer que eles trabalhem em defesa da Amazônia Azul, que eles trabalhem combatendo o garimpo ilegal, combatendo os invasores de terras indígenas, combatendo fazendeiros gananciosos que tentam invadir as aldeias indígenas, inclusive as demarcadas, como estão tentando fazer com o povo Guarani Kaiowá, que eu quero aproveitar para deixar a minha solidariedade, ajudando as aldeias Pataxó e Pataxó-rãrã do sul da Bahia hoje sob ameaça, ajudando o cacique Babá, os povos tupinambá contra seus agressores…
Nós estamos diante do colapso ambiental. A mudança climática já está aí, isso tem que ser feito para já. Eu não vejo mais outra alternativa. Inclusive o desafio maior agora é fazer com que as pessoas percebam que tem que plantar, plantar, plantar, plantar imediatamente. A sua rua passa pouco carro? quebra o asfalto e planta. A sua rua é um estacionamento? Quebra o asfalto, planta! Onde puder fazer canteiro, planta. Todos os rios urbanos do brasil serem renaturalizados. “Ah, vai ser caro”, vai nada. A gente tem dinheiro. A gente gasta dinheiro pagando juros de banco, pagando juros para investidor estrangeiro. Vamos parar de dar esse dinheiro para isso e vamos cuidar da nossa sobrevivência, vamos cuidar da nossa saúde, vamos resolver aqui. E determinados rios urbanos são plenamente possíveis de serem recuperados, é uma questão de mudança da ótica da gestão pública. A gestão das bacias hidrográficas na centralidade do debate de recuperação urbana, no sentido da recuperação ambiental, da recuperação da água é fundamental para a gente, para a nossa sobrevivência.
Por último, a tarefa é pensar uma educação que leve a ação, por exemplo, de reflorestar todos os espaços possíveis de serem florestas novamente. Tem um espaço, tem um morro vazio como, por exemplo, a Serra dos Pretos Forros, que é um território aqui no Rio de Janeiro de extrema relevância para a história. Ali vizinho tem uma outra comunidade, um bairro chamado Água Santa, do lado está Encantado. Reflorestar todo esse paredão da Serra dos Pretos Forros é absolutamente fundamental.
Então o desafio é pensar uma educação ambiental que nos leve a essa ação ambiental, a essa transformação ambiental no sentido do reflorestamento não só dos morros, mas também das nossas ideias, reflorestamento da nossa comida, do nosso vestir, do nosso pensamento, do nosso jeito de existir. Reflorestar o nosso habitar no mundo, a maneira como a gente mora, reflorestar esses condomínios… Parece que essa lógica de mercado que os apartamentos novos são cada vez menores que logo a gente mora, essa lógica louca. Por que não é floresta? Vamos viver em florestas, vamos florestar também o urbanismo, reflorestar a lógica de construir a cidade, reflorestar as cidades, renaturalizar os rios, reorganizar a nossa forma de existir no mundo no sentido de uma sociedade com a natureza e não contra a natureza. Essa, para mim, é a tarefa de educação ambiental.
E para finalizar eu gostaria de te pedir algumas recomendações. Você já deu várias recomendações de leituras, de autores e autoras, e eu queria te perguntar recomendações de filmes, séries, músicas. O que você está vendo? O que você está ouvindo?
Eu tenho ouvido muita música da América Latina. Tenho ouvido muito Ana Tiju, os movimentos da América Latina, os movimentos latino-americanos de resistência na música, como Ruben Patagônia, com Jeremias Schalke Maputes, lá da Argentina. Meus amigos queridos fazendo música de fronteira e de luta em defesa das sementes e das sabedorias ancestrais. Tenho acompanhado muito a produção audiovisual de pessoas incríveis como Clementino Júnior, do Cine Clube Atlântico Negro. O cinema negro brasileiro e latino-americano e africano potentes, fantásticos. Então a produção do Clementino Júnior na área do cinema é indispensável.
Tenho tido a oportunidade de acompanhar movimentos artísticos extraordinários, como o cinema no interior, que produz cinema a partir da realidade local das pessoas do interior desse país, principalmente no nordeste, e também artistas plásticos. Muita obra de arte indígena contemporânea, como a Daiara Tucano, Arissana Pataxó, pessoas extraordinárias que a professora Ludmila Duarte organizou até na tese de doutorado dela chamada “Corpo Paisagem: a luta das mulheres indígenas através da arte e a educação ambiental”. Então os movimentos de arte indígena como as performances da Uíra, são extremamente maravilhosas e instigantes. Então tem um movimento artístico muito pulsante a partir dessa juventude indígena, dos movimentos sociais, do movimento negro também que produz coisas maravilhosas como o Afrofuturismo da Lu Ainzayla. Um livro que eu queria recomendar muitíssimo é o Sancofonia, que é um livro onde tem essas histórias todas sendo contadas.
Não posso deixar de recomendar o Nego Bispo, que é fundamental para abrir a nossa cabeça, para uma contracolonização necessária. A obra do Luiz Rufino “Pedagogia das Encruzilhadas”. Na música, eu também queria aproveitar para recomendar a Disritmia in Blues, que é uma modesta banda muito ruim, cujo vocalista e gaitista é esse que vos fala. Então depois eu vou te mandar para você botar de fundo nesse podcast.
Arte, música, poesia de Eduardo Galeano, sempre, hoje e sempre é fundamental. Então é isso. Tem muita coisa que eu gostaria de recomendar para essa movimentação porque a arte ajuda a gente a olhar o mundo, a imaginar o mundo e a disputar a imaginação do mundo. Não permitir que eles dominem a nossa capacidade de sonhar. Nós temos a obrigação de seguir sonhando, inventando e imaginando outros mundos possíveis.
Leia também

Cultura oceânica nas escolas propaga conhecimento desde a infância
Leis municipais e projetos pelo Brasil estão promovendo o ensino sobre oceano dentro do currículo escolar no ensino fundamental →

É na Floresta que se aprende educação ambiental
Escola municipal localizada em Alter do Chão, em Santarém (PA), coloca meio ambiente e conservação no centro do projeto pedagógico →

Educação ambiental é a chave para evitar desastres, afirma pesquisador da UFRGS
Pesquisadores reforçam que governo precisa investir em sistemas de prevenção para que chuvas fortes não causem tantas vítimas humanas →