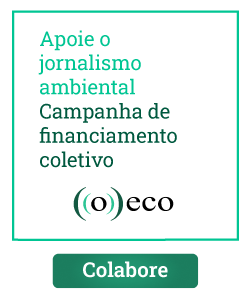Para que haja um processo de transição energética justa, apenas mudar as fontes de produção de energia não basta. É preciso também levar em consideração como as comunidades, territórios e ecossistemas serão impactados ou beneficiados com a questão. Isso é o que defende o biólogo e pesquisador de transição energética, Júlio Holanda, durante uma conversa com o geógrafo Bruno Araújo para o podcast Planeta A.
“Acho que é sempre uma necessidade do nosso campo, o campo crítico, dos movimentos sociais, dos pesquisadores, de delimitar melhor esses conceitos entre nós, para dizer que, falar de transição energética do ponto de vista da sociedade civil, das comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, moradores das periferias urbanas, não necessariamente é a mesma coisa que a Vale, que a Petrobras, que as grandes empresas, grandes petroleiras estão falando”, explica o pesquisador ao tratar do termo “transição energética justa” e suas aplicações.
Júlio Holanda é biólogo e tem experiência na área de Ecologia Política e Planejamento Urbano e Regional, com ênfase em aspectos físico-ambientais do planejamento, atuando principalmente em temas como ecologia política, energia eólica, energias alternativas e conflitos ambientais e geração de gás não convencional (fracking). “Acho que os países da Europa teriam essa economia de baixo carbono, mas às custas de muita exploração de trabalhadores e também da natureza aqui no sul global. (…) Então é muito preocupante, porque de fato se a gente for pensar do ponto de vista global, essa transição energética e de economia não está sendo de forma justa, com nenhum tipo de equilíbrio entre as duas partes”, comentou.
Escute o episódio completo:
Confira a entrevista abaixo:
Bruno Araújo: Nessa discussão sobre mudanças climáticas, a gente tem visto cada vez mais essa insígnia, esse slogan “por uma transição energética justa”. Esse slogan, inclusive, foi adotado pela Petrobras e isso vem sendo falado cada dia mais, seja pelas empresas, seja pelo Estado. E a pergunta que eu queria te fazer é: por que a gente precisa de uma transição energética nesse momento que a gente está vivendo?
Júlio Holanda: Eu acho que essa pergunta é fundamental, porque nos últimos tempos, de fato, aumentou esse tema, tanto do ponto de vista da teoria, nos artigos, nas publicações, nos livros, mas também nos jornais, em todo lugar que a gente vê, tem alguém falando sobre transição energética. Eu acho que quando a gente pensa de um modo mais popular, no geral, as pessoas costumam se referir a esse tema como uma transição, uma passagem de uma matriz energética basicamente baseada em combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão, para uma matriz baseada principalmente em fontes renováveis.
Então, assim, eu acho que esse é o senso comum, digamos, que é você sair de uma coisa para outra diferente do que a gente tem hoje. E eu acho que, de fato, a necessidade ou a importância disso é porque mundialmente, globalmente, os combustíveis fósseis são os grandes vilões do colapso climático que a gente vive hoje. Se a gente for pensar em termos de mundo, a queima de combustíveis fósseis, principalmente a emissão de CO2, dióxido de carbono, ela corresponde a quase 70% da nossa vida. Então, a gente precisa de uma transição energética global. A gente não está falando especificamente do Brasil, na verdade, quando a gente for ver o caso do Brasil é até um pouco diferente, mas em termos globais a gente precisa fazer isso para, de fato, atender a expectativa, que se formulou em 2015 no Acordo de Paris.
Na verdade, de um modo geral, os termos são muito apropriados sob diferentes perspectivas. Então se falar de transição energética, hoje você tem desde os movimentos de combustível, os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, muitos pesquisadores falam disso, mas como você bem falou no começo, a gente tem grandes empresas que também falam de transição energética, só que a gente percebe que as pessoas utilizam o mesmo termo, mas falam de coisas diferentes. Então acho que é sempre uma necessidade do nosso campo, o campo crítico, dos movimentos sociais, dos pesquisadores, de delimitar melhor esses conceitos entre nós para dizer que, falar de transição energética do ponto de vista da sociedade civil, das comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, moradores das periferias urbanas, não necessariamente é a mesma coisa que a Vale, que a Petrobras, que as grandes empresas, grandes petroleiras estão falando.
E eu acho que quando a gente coloca essa palavra, “uma transição energética justa”, é para dizer que, primeiro – da mesma forma como a gente já até tem visto, em outro episódio vocês trataram aqui sobre as emissões – da mesma forma que as emissões elas não são equivalentes, por exemplo, você tem países que são muito mais responsáveis pelas emissões do que outros países, setores dentro de um país que são muito mais responsáveis do que outros setores, então não há um equilíbrio, digamos assim, a gente não pode tratar esse equilíbrio de forma global. Quando a gente pensa também em transição, a gente também tem que entender que existe uma grande desigualdade no mundo, ou seja, existem países que por serem mais responsáveis pelas emissões, eles também são mais responsáveis por garantir uma transição energética, enquanto que outros países, sobretudo países da periferia do capitalismo, sul global, países do continente africano, etc., são países que ainda não conseguiram, inclusive, o básico. Países que muitas vezes não têm energia para garantir e viabilizar condições básicas de vida. Então a gente tem uma desigualdade mundial.
E aí eu acho que tem uma segunda questão. A segunda coisa que entra, o “justo” é que a transição energética do norte global, dos países da Europa em especial, ela não pode acontecer com uma série de violações de direitos humanos, de direitos ambientais, com uma série de despossessão, destruição de territórios no sul global, que é o que a gente tem observado. Temos observado uma transição energética do norte global, às custas de muito, de muita expropriação de territórios tradicionais, principalmente em países como o Brasil, países aqui do sul global.
Há diversos tipos de energias que são consideradas limpas, ou seja, que não utilizam recursos finitos para gerar energia. Entre elas a gente tem a hídrica, a eólica, a solar, a biomassa e a energia proveniente do hidrogênio verde. Queria que você fizesse uma análise em geral sobre cada uma delas. Como é que você observa cada uma delas dentro desse cenário de transição que a gente precisa construir?
Eu acho que, primeiro, o Brasil tem uma elevada participação de fontes renováveis. Vamos entender o que é o renovável – eu fico pensando em alguém que está ouvindo a gente aqui, que não é dessa área, talvez se confunda com tantos termos.
Mas quando a gente fala fonte renovável, é uma “fonte inesgotável”, ou seja, é uma fonte que “vai estar ali para todo sempre”, entre aspas. Uma fonte não renovável é essa que, por exemplo, tem um esgotamento, tem um limite, que são, por exemplo, os combustíveis fósseis, que a gente tem. As reservas globais, em algum momento, se você utilizar tudo ela vai se acabar. Então o Brasil, ele de fato tem uma elevada participação de fontes renováveis na matriz energética. Hoje o Brasil tem quase 50% de fontes renováveis, enquanto que a média mundial é de 14%. Então, de fato, a gente já tem uma matriz com uma participação muito importante dessas fontes. Se a gente vai para a matriz elétrica, que é a geração de eletricidade, a participação dessas fontes é ainda maior. Agora, em 2024, esse ano, a gente está com quase 85% da nossa matriz elétrica a partir de fontes renováveis. É um número muito impressionante, assim. E aí a gente vê, por exemplo, uma participação menor da hidrelétrica. Se a gente pegar 10 anos atrás, a hidrelétrica correspondia praticamente 90% do que era produzido de energia de fontes renováveis. Hoje a participação da hidrelétrica é de 54%. Isso se deve a que? A gente produziu menos eletricidade por hidrelétrica?
Não. Isso significa que a gente expandiu, ampliou outras fontes renováveis na nossa matriz, incluindo outras fontes, por exemplo, as eólicas. As eólicas em 2014, há 10 anos atrás, elas respondiam a 3% da nossa matriz, era cerca de 4 gigawatts de energia instalada. Hoje, 10 anos depois, as eólicas respondem pouco mais de 15% da matriz. Cerca de 30 gigawatts já instalados de eólicas. A ideia é que até o final, até 2030, a gente tenha cerca de 55 gigawatts. Ou seja, a ideia é que a gente consiga duplicar o que a gente tem hoje de produção por essa fonte. E a energia solar também tem uma participação muito importante hoje, são quase 28 gigawatts instalados de solar descentralizado. Inclusive, a fonte solar que era uma demanda de muito tempo dos movimentos sociais. O que eu penso sobre as fontes é que eu acho que todas elas geram, de alguma forma, impacto. Eu acho que há muito tempo se falava em energia limpa para se referir às eólicas, principalmente às eólicas e à solar. Mas eu acho que esse termo, ele acaba negligenciando aspectos muito importantes. Porque no Brasil se falava de energia limpa, aquela que não emitia CO2. E, de fato, se você for comparar, a energia eólica e a solar tem uma emissão muito pequena, muito baixa, né? Sobretudo no processo produtivo de geração de eletricidade. Mas aí a gente negligenciava ou deixava de lado outros aspectos. Por exemplo, aspectos ambientais, aspectos territoriais, aspectos sociais…
Então, o que a gente tem observado é que a instalação dessas usinas, sobretudo usinas eólicas que hoje é uma participação expressiva na nossa matriz. Ao se instalarem, ao serem instaladas nos territórios, elas também chegam com uma série de impactos graves e impactos importantes ali. E que, por muito tempo, foram negligenciados. Eu acho que esse olhar começou a mudar nos últimos cinco, seis anos. Mas a gente tem aí um passivo, digamos assim, de usinas que foram instaladas em cima ou nas proximidades de campos de dunas, de manguezais, de restingas… Que são ecossistemas extremamente frágeis e que cumprem funções ecológicas muito importantes. Isso do ponto de vista ambiental, mas se a gente for pensar do ponto de vista social, os impactos também são enormes, de desestruturação do modo de vida daquelas comunidades, de uma série de impactos do ponto de vista de gênero. As mulheres são mais afetadas quando essas usinas chegam nos territórios. Então, eu queria dizer assim: se a gente for pensar uma transição, eu acho que não basta pensar apenas nas fontes, ou seja, como a gente produz energia. Eu acho que é uma pergunta muito importante, de fato. Acho que a gente precisa de uma fonte que seja com baixa emissão de CO2, óbvio. Mas só isso não basta. Eu acho que esse é o debate que os movimentos sociais e as comunidades que são afetadas por esses empreendimentos têm colocado. A gente precisa incluir outros elementos, outros critérios, de avaliação sobre essas usinas, mesmo de fontes renováveis. A não emissão de gases de efeito estufa já não é suficiente.
Não basta não emitir gases de efeito estufa. Eu acho que a gente precisa repensar, inclusive, qual é a finalidade da utilização da energia que a gente está produzindo. Hoje, a energia produzida é majoritariamente direcionada para alimentar as indústrias, as fábricas e fazer circular as mercadorias criadas por esse modo de produzir a vida. Vale a gente observar essas mercadorias produzidas e fica fácil entender que essas mercadorias, a maioria delas, são mercadorias inúteis do ponto de vista da utilidade para a manutenção e reprodução da vida. Então, são produtos fúteis e inúteis que essa sociedade se organizou para produzir. E que essa produção gera muita energia. E aí eu queria que você comentasse justamente sobre esse aspecto, que é a necessidade de ter uma redução na quantidade absoluta de energia que é consumida. Porque o que a gente vê historicamente nos dados é um aumento cada vez maior e mais intenso da quantidade absoluta de energia consumida que é direcionada para a produção dessas mercadorias. E eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco nessa discussão, para tentar entender que, se não basta não emitir, também é preciso que a gente pense para que a gente está usando essa energia.
Cara, eu acho que esse é o grande debate. Acho que esse é o grande debate sistêmico de desafio enquanto sociedade, de manutenção da vida na Terra. Por exemplo, ao que parece, para mim, a transição realmente necessária para impedir um colapso climático planetário, ela tinha que ser bem mais radical do que uma simples mudança das fontes de energia.
Isso para mim está muito nítido nos meus estudos, nas conversas que eu faço com as comunidades, com as pessoas, no que eu escuto. Ou seja, tem que ser muito mais radical. Em que termos? A gente tem que ter uma transformação, como diria aí, uma inspiração muito intensa e talvez também inspiração dos autores indígenas. O Ailton Krenak fala muito isso, por exemplo, uma transformação da forma como a gente se relaciona com o mundo, da forma como a gente interage entre seres humanos, da forma como nós, seres humanos, interagimos com a natureza.
Então, a gente tem uma lógica, seja pelo mito do desenvolvimento, o mito do progresso e etc., que nos coloca como à parte, à parte dessa natureza. A gente não se coloca enquanto pertencente a ela. É sempre uma coisa apartada. A natureza lá e a gente aqui. Então, viver enquanto perdurar esse pensamento, que para mim é uma lógica muito desenvolvimentista e do mito do progresso mesmo, a gente segue nesse desafio. Acho que, de fato, precisa romper. Ou seja, romper com uma lógica de funcionamento da nossa sociedade, que entende que os rios são locais onde pode ser poluído, que entende que as dunas podem ser suprimidas para instalar um empreendimento, que as matas, as florestas podem ser desmatadas.
Como a gente tem vivido muito nesses últimos anos, se intensificando cada vez mais o aumento das queimadas, o aumento do desmatamento. Então, acho que tudo isso responde a essa lógica. Não basta a gente ficar só na ponta do iceberg, que para mim é a ponta do debate, que é qual fonte de energia a gente precisa, que é aquela pergunta de como gerar energia. É uma pergunta extremamente importante, mas acho que a gente tem que dar luz ao que está embaixo d’água desse iceberg, digamos. Ou seja, a maior parte, a parte considerável, que é o que está embaixo, que está ali submerso e que muitas vezes até se vê, se fala, mas não se entra nesse debate.
Ou seja, a gente precisa fazer um debate muito sério, um debate sobre decrescimento, por exemplo, um debate sobre redução das forças produtivas em alguma medida, readequação dessas forças produtivas, do nosso parque industrial. Eu acho que é um debate difícil, porque ao passo que a gente tem, se a gente for pensar o tema da matriz energética, a matriz energética existe para atender a um modelo de desenvolvimento, a um modelo de vida, de consumo, de produção. Não existe um modelo de matriz energética no abstrato. Então, essas duas coisas precisam estar em sintonia. E você mexer na matriz energética, você reduzir a matriz energética, você teria que reduzir o modo de vida das pessoas. Como é que faz isso? Acho que esse é um baita de um desafio.
Mas eu queria dizer, antes de entrar mais nesse desafio, eu queria só trazer um pouco do como se debruçar sobre esse desafio não é nem mais importante ou urgente, mas é necessário. Se a gente ainda quiser ter alguma sobrevida enquanto espécie nesse planeta.
Um dado também que eu gosto muito, Bruno, para a gente pensar nesse agravamento, é que de 1960 a 1969, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera se deu em uma taxa média de 0,85 partes por milhão. E de 2015 a 2020, essa mesma taxa foi medida e a taxa média passou de 0,85 partes por milhão para 2,55 partes por milhão. A gente não precisa se atentar a essa medida de partes por milhão, vamos pensar nos números absolutos. A gente tinha um aumento de concentração desse gás na década de 1960 a menos de 1, e a gente mais do que duplicou esse aumento no final dos anos 2015 a 2020.
Existem vários indicadores, eu poderia citar outros tantos aqui, que deixam muito nítido esse agravamento de uma relação predatória com a natureza. Então, realmente, não basta a gente falar somente de transição, de mudar a matriz, se a lógica de relação com a natureza não for transformada. E aqui a gente não está falando de uma transformação superficial. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, porque aí é uma transformação de fato radical. É uma transformação do modo como a gente vive, do modo como a gente pensa a natureza.
Eu acho que temos experiências muito incríveis, Bruno, de geração de energia popular, inclusiva, com justiça social, com justiça ambiental. A gente tem experiência, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a solarização de favelas, que é um projeto ds RevoluSolar, em duas comunidades, expandindo para outros territórios. Na Babilônia, no Chapéu Mangueira, que é uma experiência comunitária de geração de energia a partir da fonte solar. A gente tem uma experiência incrível no semiárido mineiro, que é um projeto capitaneado pelo movimento dos atingidos pelas barragens, o MAB, que eles conseguiram construir uma usina solar flutuante, inclusive ressignificando uma barragem que existia na região. Essa é a maior usina da América Latina flutuante, ela fica em cima do lago, fica localizada no lago de uma barragem, na época era uma pequena central hidrelétrica.
É uma experiência muito incrível. A gente tem uma experiência muito legal também no sertão paraibano, de produção coletiva, comunitária, de geração também solar, de uma padaria comunitária. Só que assim, são experiências muito pontuais. Eu acho que esse é o grande dilema. Como é que a gente transforma essas experiências em política pública? Como é que a gente transforma essas experiências em transformação real de pensamento, de transição energética? E aí eu acho que tem contradições. Ao passo que a gente tem experiências muito incríveis sendo realizadas no Brasil inteiro, eu acho que é bom também a gente dar voz, dar visibilidade a essas experiências. Não é só coisa ruim acontecendo. Mas existe uma contradição com o que o próprio governo, o próprio Estado, tem feito nos últimos anos.
Por exemplo, foi anunciado em 2023, no ano passado, o novo PAC, que é um projeto gigantesco, de muito dinheiro, para uma série de obras, e que a gente tinha, para a energia eólica e solar, uma previsão de 60 bilhões. É um valor muito grande, muito absurdo, 60 bilhões. O que na época deixou todo mundo muito animado. Só que se a gente for ver o que o mesmo projeto, o novo PAC, tem de previsão para combustíveis fósseis, esses 60 bilhões praticamente se transformam em uma coisa irrisória. A gente tem, só para combustíveis fósseis, a previsão de 360 bilhões de reais dentro do mesmo projeto que a gente está falando. Ou então, tem um estudo que foi feito pelo Inesc, também muito interessante, que fala sobre os subsídios nos últimos cinco anos, tanto para fontes renováveis como para combustíveis fósseis.
Eu não vou lembrar aqui os dados, mas a diferença é mais de cinco vezes de mais subsídios para combustíveis fósseis e para fontes renováveis. Não dá para eu falar só de coisas boas de forma pontual, de forma isolada, de ações individuais, se esses projetos não caminharem juntos com política pública, que pense isso a longo prazo, que pense isso de forma mais ampliada. E eu acho que essa é a contradição do que a gente tem vivido hoje.
Mas a contradição real, quando a gente fala de transição energética, eu acho que existe um mito de transição energética, essa é a minha leitura. Eu acho que a gente tem, na verdade, uma ampliação das fontes dentro da matriz. Isso de fato aconteceu, não dá para negar, a eólica e solar estão aí para mostrar isso, mas isso não implica em redução de combustíveis fósseis, isso não implica em aumento real, a gente tem aumento proporcional de renováveis com relação aos combustíveis fósseis. Mas em termos absolutos, a gente tem uma contradição porque a gente continua explorando muito combustível fóssil e a gente não vê, por exemplo, uma redução disso, tudo bem que a gente não pode parar tudo agora, mas nem que seja uma projeção. Você vê, por exemplo, nos planos decenais que o Ministério de Minas e Energia produz, se tivesse para 2025, 2030, 2050, uma perspectiva de redução… Mas não é verdade.
O Plano Nacional de Energia de 2050 prevê que a gente tenha um aumento de quase praticamente o dobro [de fósseis] do que a gente teve nesse ano. Então, se projeta a duplicação da produção de petróleo para 2050, que para mim é uma grande contradição. Então, eu acho que essas contradições precisam ser resolvidas de alguma forma para a gente conseguir, de fato, apostar e pensar em falar de transição energética no Brasil. E aí, eu acho, Bruno, além dessas contradições que eu já mencionei, eu acho que tem uma outra cara que para mim, é mais latente, que eu fico pensando. Um dos episódios que vocês gravaram, que eu acompanhei, foi muito bom, que falou das emissões, quem acompanhou vai lembrar, quem não acompanhou, vai lá visitar esse episódio, é um dos primeiros.
É o segundo episódio, com a Miriam Garcia do World Resource Institute.
Esse episódio é fantástico, gente, assim, porque ele mostra, por exemplo, que no Brasil, a nossa matriz de emissões de gás de efeito estufa, ela é muito diferente da matriz de emissões global, dos demais países. Ou seja, eu falei lá no comecinho aqui, se globalmente 70% das emissões é proveniente dos combustíveis fósseis, do uso, da queima desses combustíveis fósseis, o caso do Brasil é completamente diferente. A gente tem a participação de energia nas emissões nacionais cerca de 20%, 23%, o maior vilão, digamos assim, do Brasil, das emissões brasileiras, é a mudança e uso do solo, que é basicamente desmatamento, mais de 40%, e mais 20% com agropecuária.
Então, agropecuária e desmatamento, e que são coisas que caminham juntas no Brasil, no modelo do agronegócio, são responsáveis por quase 70% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil. Então,a gente fala de transição energética para atender as nossas metas, que foram as NDCs, que são as metas nacionais voluntárias do governo brasileiro, se a gente tá dizendo publicamente que a gente quer atender as NDCs, essas metas, elas não podem estar falando apenas de transição. Na verdade, o nosso maior desafio, o nosso maior gargalo no Brasil é zerar o desmatamento, é reduzir a exploração da floresta, a destruição dos ecossistemas, a partir desse modelo do agronegócio. Então, os desafios são muito maiores desse ponto de vista do que do ponto de vista da transição.
A leitura que eu tenho é que, de fato, do ponto de vista da transição, a gente tá fazendo nosso papel, nosso dever de casa muito bem. A gente tem uma matriz globalmente, em termos comparativos com o resto do mundo, com a participação incrível de fontes renováveis, a gente tem perspectivas de mais crescimento, porque a gente tem a perspectiva de ampliação das eólicas agora pro alto mar, ou seja, eu acho que a questão não é muito mais de fonte, é muito mais, assim, de como essas energias estão sendo produzidas. Eu acho que esse, na verdade, deve ser o gargalo do Brasil, o desafio do Brasil para pensar as fontes de energia. Mais do que falar da forma que vamos produzir, é olhar mais atentamente pros territórios, sabe, Bruno?
Eu acho que tem uma certa lógica que eu penso sobre fontes renováveis, que é assim, “se é fonte renovável, tá ótimo, é melhor do que combustíveis fósseis”. Isso não é mais suficiente, isso foi suficiente talvez lá atrás, quando a gente não tinha um passivo de uma série de territórios, uma série de comunidades, comunidades tradicionais, pescadores artesanais, pequenos agricultores, completamente desestruturados com o seu modo de vida, com a sua economia local, com a sua cultura, com os seus mais diferentes modos de vida desestruturados. Então eu acho que, pra isso que o Brasil tem que ser, tem que jogar luz, tem que se debruçar, como mitigar isso? Como se antecipar esses impactos? Como esses impactos podem ser reduzidos, revertidos? Inclusive pensar em áreas livres, territórios que sejam livres, que possam ter autonomia para decidir quais empreendimentos serão instalados nas proximidades, porque às vezes a gente fala de projetos de energia, mas a gente não tem nenhuma ideia do que é morar próximo de uma usina hidrelétrica, o que é morar próximo de uma usina eólica, de uma usina solar, e eu acho que são essas pessoas que tinham que ter mais voz, assim, no planejamento energético.
Falar de transição energética sem incluir essas pessoas, pra mim, acaba que a gente chega numa outra contradição, que é não incluir as pessoas que têm sido mais diretamente afetadas. E aí, voltando a um tema que a gente já conversou, quando a gente fala de transição energética justa, também tem a ver com isso. Tem que ser justa com justiça social e ambiental, inclusive pras pessoas que são diretamente afetadas pelos empreendimentos ditos renováveis, ditos sustentáveis, ditos limpos. O que a gente observa é que, na verdade, não tem nada de limpo, eles têm gerado muitos impactos ali nos territórios.
Agora, uma coisa que eu queria te perguntar tem a ver com isso que você comentou dos empreendimentos energéticos em alto mar. Isso provavelmente é uma coisa que você que está nos ouvindo não tenha domínio, não tenha sabido dessa informação, que é de fato um empreendimento megalomaníaco. Quando a gente olha o mapa de licenciamento ambiental do IBAMA, desses diversos empreendimentos, é uma coisa estratosférica. Eu queria que você comentasse um pouco dessa ideia de fazer, então, a exploração de energia eólica ou solar em alto mar.
Esse mapa do IBAMA está disponível na internet para quem quiser olhar, para ilustrar essa minha fala, é só jogar no Google: eólicas offshore ou eólicas em alto mar IBAMA, vocês vão observar esse mapa mostrando todos os mais de 90 projetos previstos para se instalar em alto mar. São mais de 15 mil, se a gente for somar os aerogeradores, a torre mesmo, cada unidade daquela torre são mais de 15 mil unidades, quase 15 mil aerogeradores que têm previstos para serem instalados em alto mar. E o que eu acho mais curioso, em termos de números, é que toda energia que está prevista para ser gerada pelas usinas eólicas em alto mar equivale a toda energia elétrica produzida no Brasil hoje, a partir de todas as fontes de energia que você quiser incluir, termoelétrica, hidroelétrica, eólica, solar, tudo que se produz.
Hoje, existe uma expectativa de produzir a mesma quantidade de energia somente com essas 90 usinas em alto mar. Ou seja, a gente duplicaria a nossa base de geração de energia, se todos esses empreendimentos, obviamente, fossem instalados. Ou seja, é uma expectativa de muita geração. E aí eu deixo essa pergunta: para que tanta energia? Se a gente tem ainda muitos locais, muitas comunidades, que não tem eletricidade? Então não é tanto para atender a eletricidade das pessoas, porque a gente já tem eletricidade suficiente para isso. O que a gente tem observado é que você tem uma expectativa muito grande, inclusive, de transformar isso em mercadoria de exportação, de empresas que vêm para o Brasil para produzir energia dessa forma.
E aí, Bruno, eu queria fazer uma brincadeira aqui, um exercício contigo, para pensar assim, se a gente pegasse, por exemplo, as principais petroleiras do mundo, a Shell, Chevron, Total, as estatais chinesas… O que você acha que elas têm em comum, além de serem grandes petroleiras a nível mundial? Elas têm muitas outras coisas em comum, é óbvio, mas dentro do tema que a gente está conversando, elas têm uma outra coisa em comum. Você arriscaria dizer, meu amigo?
Estou pensando. Elas são financiadas por bancos.
Também são financiadas por bancos, mas pensa um pouco sobre o que a gente tem conversado agora. Tem uma coisa em comum dentro desse tema que a gente está falando.
Elas têm se transformado em produtoras de energia, não somente a partir do combustível fóssil, elas têm diversificado a sua produção, a sua matriz.
Exatamente. Todas, sem exceção, todas, todas as petroleiras globais têm projetos de transição energética, projetos de geração de energia eólica e de energia solar, principalmente no sul global. E aí, o que chama atenção é que essas empresas não abandonam seus projetos de combustíveis fósseis, de exploração de petróleo, e eles passam a investir, como você falou bem, ampliam o seu leque de produtos, incluindo as fontes renováveis. Então, se a gente pegar esses mais de 90 projetos de eólicas em alto mar, que eu mencionei, a gente vai ver várias dessas grandes empresas, sejam elas próprias ou subsidiárias dessas empresas de eletricidade, de energia, porque estão vendo aí um novo mercado.
A gente não tem nenhum projeto instalado no Brasil hoje. Em 2024 [a entrevista foi ao ar em novembro de 2024] , a gente tem só os projetos com o Ibama, em diferentes fases de licenciamento, mas a gente tem apenas a previsão. E aí existe uma expectativa. Inclusive, uma certa expectativa, alguns autores até falam de uma certa bolha que foi criada, uma certa especulação gigantesca que foi criada em torno desse setor, desse mercado, que pode não se efetivar. De fato, tem muitos outros elementos que entram em jogo, da economia global, da correlação de forças entre essas capitais, etc. Mas, o que é importante colocar é que existe uma previsão muito grande. E aí, eu queria mencionar só um caso, um exemplo, para ilustrar um pouco isso que eu estou colocando.
Agora do ponto de vista dos territórios, é que a gente teve, desses mais de 90 projetos, a gente tinha um projeto aqui no estado do Ceará, o projeto mais avançado em termos de licenciamento ambiental, que iria ser instalado no município de Caucaia, no estado do Ceará, e que esse projeto teve a emissão da licença negada pelo Ibama. O Ibama deu um parecer contrário à instalação da usina que iria ser instalada ali em Alto Mar. Abriu um precedente gigantesco, porque era o empreendimento que estava com muita expectativa de ser licenciado, e o Ibama deu um parecer negativo.
No parecer do Ibama, ele cita, dentre outras coisas, os riscos à pesca artesanal daquele município e dos municípios do entorno, sob dois aspectos: O primeiro é que, quando a gente fala de usina em Alto Mar, para quem está ouvindo, pode imaginar que essas torres, os aerogeradores, serão instalados de helicóptero, vindo do céu e instalado bonitinho lá em cima da água, da lâmina d’água. Na verdade, não. Você precisa de uma infraestrutura na terra. São muito importantes os estudos ambientais dessas usinas em Alto Mar porque eles têm uma previsão de uma infraestrutura gigantesca na terra, esses aerogeradores precisam chegar em Alto Mar, eles não vão chegar do céu. Então, você tem uma infraestrutura muito grande prevista para isso. Diferente da Europa, a previsão dessas usinas em Alto Mar no Brasil, elas não são usinas flutuantes, elas serão fincadas no oceano e isso gera uma série de impactos muito preocupantes para a vida marinha.
Por exemplo, um dos problemas ambientais do ponto de vista marinho recente é a introdução de espécies invasoras, espécies exóticas dentro do nosso ecossistema. A gente tem alguns exemplos, mas vou citar o coral sol e o peixe leão, que são duas espécies de animais que têm se alastrado pelo nosso litoral, têm destruído e têm dizimado espécies nativas nossas e que existe uma expectativa de que a instalação dessas infraestruturas possam ampliar a migração de espécies exóticas, que acaba vindo pela água de lastro dos navios, pelos empreendimentos, pelo maquinário. A gente tem riscos aos mamíferos marinhos também, do ponto de vista dos animais marinhos, mas a gente tem também e está isso previsto lá no relatório do parecer do Ibama, é um risco à pesca artesanal.
E aí o relatório do Ibama cita um caso que aconteceu na Bélgica, que ele fala de que cada aerogerador lá nesse país criou uma área de exclusão de um raio de 500 metros. E aí se você somar cada raio de exclusão de cada aerogerador, você tem um grande raio de exclusão no entorno dessas usinas em alto mar. E aí a pesca artesanal, sobretudo no Ceará, no Rio Grande do Norte, que tem uma pesca artesanal que ela é de jangada, ela faz um trajeto em zigue-zague, você respeitar os limites de uma usina que se instalou nesse território, é muito difícil. Então existem riscos muito graves, tanto do ponto de vista dos animais marinhos, como também do ponto de vista da pesca artesanal.
Então a gente vê, Bruno, tanto do ponto de vista da pesquisa, mas também dos movimentos sociais com muita preocupação. Porque a gente tem previsto usinas eólicas do Rio Grande do Sul ao Nordeste inteiro, passando pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, previsão em todo o litoral mesmo, de norte a sul do país, e com nenhum rigor ou preocupação maior com a pesca artesanal e com os animais marinhos.
Queria que a gente observasse agora então uma outra escala da discussão sobre a transição energética que tem a ver com a geopolítica da energia. Tem uma frase do antropólogo Jason Hickel que fala assim: capitalismo verde significa tornar o sul global uma área de sacrifício para que ricos dos Estados Unidos e Europa possam andar de SUV elétrico. E, de fato, do ponto de vista da dinâmica internacional e dessa divisão internacional de responsabilidades, diante da produção das mercadorias e da energia, o que tem ficado para o sul global é a responsabilidade da produção de energia sob uma matriz mais limpa, mas sem o questionamento do modo de vida destruidor, impactante e poluidor do norte global. Então, entra naquela discussão anterior que a gente estava tendo, não basta mudar só a forma como se produz energia. A gente precisa repensar o modo como a sociedade se estrutura. E eu queria que você fizesse uma análise breve justamente sobre essa geopolítica da energia. O que está envolvido nessa escala global de discussão?
Você citou, por exemplo, os carros elétricos, os SUV elétricos na Europa. Eu acho que isso é um grande dilema que talvez seja, inclusive, um gargalo do ponto de vista da transição energética. No Brasil, a gente tem hoje, do setor de energia, que não é o principal setor de emissão de gás de efeito estufa, cerca de 20%. Mas nesses 20% de participação de geração de energia, a maior parte é do setor de transporte. Mais da metade, na verdade, é do setor de transporte. E, de fato, o nosso transporte, pensando no Brasil e no mundo, é um transporte ainda muito fóssil, como a gente fala, muito baseado nos combustíveis fósseis. Então, beleza. A gente tem que pensar, por exemplo, transporte de massa, ônibus, VLT, metrô, enfim, os mais diferentes transportes, e também, em alguma medida, carros que não sejam baseados em combustíveis fósseis.
E aí, qual é o dilema disso? É que a maior parte desses carros, segundo um estudo da Agência Internacional de Energia, que faz uma estimativa que cada carro elétrico tem uma demanda de cerca de seis vezes mais toneladas de minérios do que um carro convencional. E aí, onde é que estão esses minérios? A gente está falando de minérios que não estão localizados no norte global. Esse aqui é o grande dilema. A gente está falando de cobre, cobalto, lítio, alumínio, nióbio, tantos minérios que estão, basicamente, em países fora do norte global. Ou seja, tem uma coisa assim, que para atender a demanda de transição energética, mas também de transição para uma economia de baixo carbono nos países do norte, existe uma demanda de exploração, e aqui eu estou citando o exemplo dos minérios, uma demanda de exploração do sul global, países de África e América Latina, do sul em especial.
Então, esse é um grande dilema. Não tem como produzir carros elétricos se não for ampliando, intensificando a exploração de minérios. Estamos dizendo, então, que a tendência é que a gente amplie, aumente os conflitos de um setor que a gente já sabe que é um setor, principalmente no Brasil, com muitos casos de violações de direitos, de violações de direitos humanos, mas também direitos ambientais, da natureza. Vamos pensar, por exemplo, nos grandes crimes que aconteceram nesse país nos últimos anos, ligados à mineração. Entende como é um gargalo pensar a transição para uma economia de baixo carbono sob essa perspectiva? Então, eu acho que essa é a primeira questão que a gente precisa compreender.
Um segundo exemplo, você citou bem no comecinho uma fonte de energia, que a gente acabou não falando tanto dela aqui, que é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, na verdade, é a produção de hidrogênio e a utilização do hidrogênio para as mais variadas formas de geração de eletricidade, de energia e tal. E ele tem essa tecnologia verde porque seria produzido a partir de fontes renováveis. Você utiliza eletricidade para quebrar a molécula da água, o H2O, e você pega o hidrogênio desse H2O a partir da quebra da molécula de água. De fato, você vai quebrar ela. Só que você quebra ela – olha que loucura – você quebra essa molécula de água utilizando bastante eletricidade.
O que me mostra o dilema que é o debate sobre energia no mundo é o fato de gerar uma fonte de energia, produzir uma energia utilizando muita energia para que ela seja gerada. E aí ela se torna verde, o hidrogênio, quando eu uso eletricidade a partir de fontes renováveis para quebrar a molécula de água. Se eu estiver usando, por exemplo, termoelétrica ou qualquer outra fonte, ele deixa de ser hidrogênio verde e vai ser hidrogênio de outra cor. O hidrogênio cinza, etc. E aí a gente tem várias propostas de instalação de usinas para a produção de hidrogênio verde no Brasil, em especial nos estados aqui do Nordeste, do Brasil, e esses acordos, que a gente chama de memorandos, que as empresas assinam com os governos estaduais e com o governo federal, está lá escrito que a principal justificativa desses empreendimentos é utilizar esse hidrogênio verde para exportação, para atender a demanda do norte global, dos países da Europa em especial.
Então assim, pensando agora nessa geopolítica, como você fez a provocação da pergunta: garantir uma transição energética nos países da Europa significa garantir a transição para uma economia de baixo carbono, o que significaria ter mais carros elétricos e mais energia de fontes renováveis. Só que o minério que vai ser utilizado nesse carro não vai ser explorado na Europa, ele vai ser explorado na América do Sul e nos países de África, e a eletricidade renovável também não vai ser produzida na Europa, ela vai ser produzida principalmente no sul global, aqui na América do Sul. Então os benefícios são alocados no norte global, são transferidos para lá, que são os carros elétricos, uma economia de baixo carbono, etc. Aquela frase “para inglês ver” nunca ficou tão bem encaixada quanto aqui.
Acho que os países da Europa teriam essa economia de baixo carbono, mas às custas de muita exploração de trabalhadores e também da natureza aqui no sul global. Isso a gente já tem observado, tanto do ponto de vista do que já está sendo implementado, dos empreendimentos já em execução, mas também do que a gente está vendo nos projetos que estão sendo assinados, nos acordos que estão sendo promovidos entre empresas e governos. Então é muito preocupante, porque de fato se a gente for pensar do ponto de vista global, essa transição energética e de economia não está sendo de forma justa, sem nenhum tipo de equilíbrio entre as duas partes. Tem um lado que está ganhando muito e tem um lado que está perdendo bastante. Então essa balança está muito desproporcional a meu ver.
A pergunta diretona que todo mundo quer fazer é: carros elétricos são a solução?
Uma resposta direta seria não. Não são a solução. Eu acho que eles entram numa série de iniciativas que são importantes mesmo, nessa corrida global para a gente ter economias de baixo carbono. É uma iniciativa, sim, mas ela sozinha não resolve. O hidrogênio verde sozinho não resolve, a gente tem eólicas, aquelas usinas eólicas, mais de 90 usinas em toda a nossa zona costeira, nas praias, em alto mar, não resolve. Fazendo uma analogia com quem está ouvindo, talvez com uma coisa que já foi mais difundida pelo movimento ambientalista crítico, pelo movimento da educação ambiental crítica, que assim, é importante eu separar meu lixo, é importante eu economizar a água que eu utilizo no banho?
É óbvio que é importante. Mas isso sozinho resolve? Não resolve. Se a grande torneira, digamos assim, vamos pensar em Brasil, a grande torneira de água que é o agronegócio, que utiliza mais de 70% dos recursos hídricos do país, se essa torneira continuar aberta, jorrando água da forma como está, não adianta cada indivíduo na sua casa fechar a sua torneirinha individual, porque não vai resolver. Eu acho que todos esses exemplos de ações individuais são muito importantes do ponto de vista pedagógico. Tem aquela frase muito conhecida que diz que as palavras ensinam, convencem, mas é o exemplo que arrasta. Então eu não posso estar aqui falando uma série de coisas, se de fato no meu dia a dia eu não faço essa transformação que eu quero para o mundo.
Eu acho que isso tem a ver com o que a gente falou lá no comecinho, de uma transformação da relação que a gente tem com a natureza e que ela passa por uma perspectiva individual sim, também. A gente precisa repensar a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente lida com o nosso corpo, com a natureza, com o ambiente ao nosso redor, com os demais animais, com as demais espécies, então passa por isso. Mas ela, de fato, não é suficiente. Então, eu acho que os carros elétricos agravam o problema em uma medida, porque a gente está falando de extração de mais minérios, a gente está falando de uma série de coisas. Por outro lado, ele amortiza quando a gente fala que vamos ter combustíveis fósseis a menos sendo produzidos.
É difícil dizer que só isso resolve, porque não vai resolver se a gente continuar tendo a mesma demanda energética a nível global para produzir muitas mercadorias, muitas delas úteis, como você mesmo mencionou, mercadorias que funcionam cada vez por menos tempo, que alguns autores chamam de obsolescência programada, obsolescência induzida, que é o quê? Nada mais, nada menos que eu comprei o meu telefone celular, meu computador, hoje. Daqui a um ano, dois anos, ele foi projetado, programado, para parar de funcionar. E aí produzir mais mercadorias, demandando mais energia, mais minério. Eu acho que é isso que resolve, uma transformação radical, que de fato repense o nosso lugar no mundo e a forma como a gente interage com esse ecossistema.
E acho que tem uma coisa também nessa discussão sobre carros elétricos, que é, de fato, o transporte é um dos pontos cruciais de emissão de gases do efeito estufa. E a solução não são os carros elétricos, então a gente não vai mais se locomover? Não, me parece que a solução passa por investimento nos transportes de massa, em ônibus elétricos, mas sobretudo nos metrôs, nos trens, nas barcas, em outros modos de transporte que são menos emissores e que carregam mais pessoas. Então, por exemplo, quando a gente fala que tarifa zero é muito importante, e a tarifa zero é uma medida de combate à crise climática, a medida que fortalece o transporte público, reduz o uso do automóvel e a gente, então, tem uma alteração na matriz de transporte das cidades.
Vou complementar, Bruno, que se a gente for pensar, por exemplo, do ponto de vista do veículo individual, você pode pensar: “ah, Júlio, mas aí vocês são contra o veículo individual. Eu quero ir para o trabalho sozinho, sem ter que cruzar com as pessoas”. Ok. Acho uma pena esse individualismo todo, mas tranquilo, porque a gente não investe e não adapta as nossas cidades para que elas possam ser amigáveis para o ciclista, por exemplo. Estou falando, por exemplo, de cidades com ciclofaixas, ciclovias, ciclorotas, e que possam ser cidades arborizadas,. Aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente tem uma malha cicloviária muito importante, de fato, integrada, é uma das maiores do Brasil. Mas, você se deslocar no sol de meio dia no Ceará não é para qualquer pessoa, você precisa de cidades mais arborizadas, cidades que consigam ter locais para que o trabalhador, a trabalhadora, o estudante, a pessoa que está indo para um equipamento público de cultura, para uma praça, que ele possa chegar lá e ter um local seguro para guardar a bicicleta, que ele possa chegar lá e de repente ter um local que ele possa se trocar, tomar um banho, enfim, é pensar demais? Acho que não. Existem muitas experiências incríveis, se a gente for pensar no transporte individual, e eu concordo contigo, acho que a meta é a gente conseguir transportes de massa, mas a gente também consegue ter isso. Não é uma contraposição ao transporte individual, a gente está falando de uma contradição a um veículo gigantesco que cabem cinco, seis, sete pessoas, um carro, e que normalmente tem uma, duas pessoas naquele automóvel, gastando, consumindo energia, enchendo a cidade de veículos, diminuindo os espaços para os pedestres, então acho que passa por uma lógica que também não é só uma lógica de “vá lá, compre sua bike e vá dar seus pulos”, não, de fato passa por um planejamento muito maior, que envolve política pública. A gente tem experiências incríveis lá fora, e algumas aqui inclusive no Brasil também, mas acho que a gente ainda está muito atrás, a gente tem uma perspectiva muito interessante de ter cidades de fato com sistema cicloviário funcionando de forma muito interessante, com pessoas, famílias, com muita segurança. E eu acho que também é um modo de você se deslocar que além de tudo isso promove saúde, você tem um contato diferenciado com a cidade, com os espaços públicos, é incrível Eu como sou adepto da bicicleta, sei que você também Bruno, eu penso muito isso também como futuro, não que todo mundo vá andar de bicicleta, é óbvio que não é sobre isso, mas porque eu acho que pensar uma cidade para pedestres e ciclistas é pensar uma cidade adaptada para uma outra lógica de relação com a natureza e de relação com as pessoas. Eu acho que é disso que a gente precisa.
Queria te pedir algumas recomendações. O que você está assistindo, o que você está lendo, o que você está ouvindo?
Eu sou uma pessoa muito eclética, eu escuto tudo. Então antes de falar do nosso tema, queria convidar todo mundo aqui a ouvir os episódios anteriores do Planeta A que é o melhor podcast ambientalista das plataformas de áudio, aconselho mesmo. Eu tenho acompanhado, tenho gostado, muito tenho aprendido muito, Então primeira dica aí, escutem o podcast Planeta A.
Tem muito artista brasileiro que eu queria indicar, que eu acho que tem muitos tipos aí de ansiedade climática de caos e tal, mas tem muita gente produzindo conteúdo massa que faz a gente pensar, sei lá, viver de outra forma. Então eu queria citar o disco da Liniker, que é um disco que estourou nesses últimos tempos e que é um disco que não fala sobre transição energética, mas fala sobre outro tipo de vida. Então eu super indico o disco Caju.
Mas sobre o que a gente está falando aqui, eu estou pensando de cabeça, mas me veio algumas coisas, eu gosto muito do efeito audiovisual, acho que ele ajuda a gente a se apropriar desses temas, então eu queria indicar uma websérie que foi produzida pela Caritas que se não me engano o nome é “Para Quem Sopram os Ventos”, tem acho que cinco ou seis episódios no Youtube. Acho que ela tem uns dois ou três anos mas eles falam muito dos impactos das usinas eólicas. Tem duas ou três publicações da Agência Pública sobre hidrogênio verde e eólicas no Nordeste, que eu também indico, e tem um documentário, um longa acho que deve ter próximo de uns 45 minutos, de 2023. A direção é de um amigaço meu, João do Vale, da Comissão Pastoral da Terra, que foi quem produziu esse vídeo, que chama “Vento Agreste”. É um filme fantástico, contando um pouco da transição energética do ponto de vista das comunidades afetadas. Eu acho legal porque estou falando de comunidade afetada e nada melhor do que as próprias comunidades que estão vivendo isso na pele, comparem com a sua própria voz. Então deixo aí a sugestão.
Eu queria fechar com essa, que é uma publicação que foi feita em parceria do CPA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com a Fundação Rosa Luxemburgo que é uma publicação que fez um apanhado muito incrível desde os aspectos envolvendo a geopolítica e mercado de carbono, que a gente chama de financeirização da natureza, à transição energética. Também tem um capítulo meu, tem um capítulo de outras pessoas também, pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de compartilhar dessa publicação que traz um apanhado geral. O nome desse documento se chama “Em Nome do Clima”, é um documento crítico e é uma publicação que faz um apanhado bem completo desse tema transição energética e financeirização da natureza é muito demais a leitura.
Leia também

A educação ambiental para além das escolas
Planeta A aborda a história da educação ambiental no mundo, sua importância nos dias de hoje e formas ampliadas de enxergar a vivência em sociedade →

O papel das mulheres no combate à crise climática
Clima também é questão de gênero – Podcast Planeta A aborda como os impactos das mudanças climáticas atingem homens e mulheres de forma diferente →

A crise climática tem cor e CEP, diz integrante do Greenpeace Brasil
Conversa em podcast discute o lado político das mudanças climática, as diferenças de impactos em cada território e a importância do trabalho em conjunto entre sociedade e poder público →