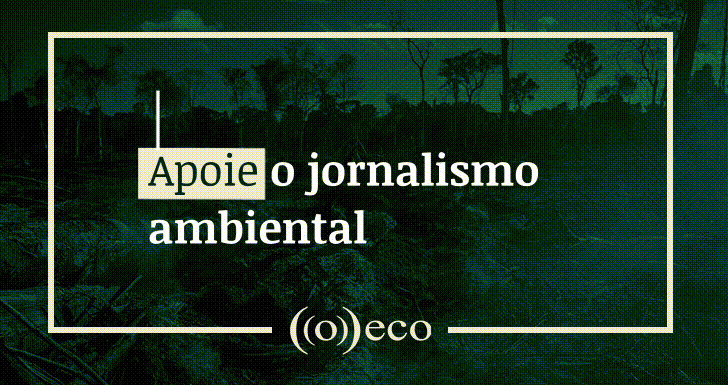Trabalhar num site onde escreve Maria Tereza Pádua tem, além de tudo, esta vantagem: das sobras de suas colunas dá para tirar várias outras. Como esta, aproveitando as críticas que ela fez aqui outro dia às “consultas públicas” sobre o destino das unidades de conservação no Brasil, para invocar o exemplo do Parque Nacional de Olympic, uma península no estado de Washington onde montanhas nevadas, glaciares, florestas úmidas e praias selvagens se debruçam sobre o oceano Pacífico, no norte do Estados Unidos.
Trabalhar num site onde escreve Maria Tereza Pádua tem, além de tudo, esta vantagem: das sobras de suas colunas dá para tirar várias outras. Como esta, aproveitando as críticas que ela fez aqui outro dia às “consultas públicas” sobre o destino das unidades de conservação no Brasil, para invocar o exemplo do Parque Nacional de Olympic, uma península no estado de Washington onde montanhas nevadas, glaciares, florestas úmidas e praias selvagens se debruçam sobre o oceano Pacífico, no norte do Estados Unidos.
Não poderia haver nome melhor para um lugar como aquele do que Olympic, escreveu recentemente na revista National Geographic o veterano John Mitchell. Olímpico, como “o trono dos deuses gregos”. O planeta não pode ficar melhor do que aquilo ali, diz Mitchell, com a autoridade de quem já viu muita coisa. Nem por por isso a decisão de preservar sua paisagem foi simples ou consensual, desde que o primeiro cara-pálida botou os pés na região em 1885. Esse pioneiro foi um tenente do Exército chamado Joseph O’Neil, que trouxe da expedição a idéia de transformá-lo em reserva.
Mas o que saiu dois anos depois foi o decreto do presidente Gover Cleveland, fechando metade da península às serrarias. As restrições caíram pouco mais tarde, quando o sucessor de Cleveland, Willian McKinley, abriu os ouvidos e o território ao lobby das madeireiras. Começou assim uma interminável queda de braço, segundo Mitchell, entre a turma que gosta de árvore em pé e a que prefere árvore deitada, “on the rocks”. A reserva só veio em 1909, sob o presidente Theodore Roosevelt, um caçador que virou padroeiro dos parques nacionais americanos, cultuado como um urso de pelúcia, o Teddy Bear. Puxa daqui, estica de lá, o parque só ficou pronto no fim da década de 30.
É claro que, depois de tanto tempo tratando o lugar como se fosse delas, as madeireiras se ofenderam com a intromissão do governo federal em seu “paraíso arbóreo”. E 15 anos atrás, o ressentimento ainda continuava no ar, quando Mitchell passou lá numa reportagem sobre o corte da floresta nas bordas do Olympic. A “gente da terra” se dizia “em pé de guerra”, ele conta. Em Forks, um vilarejo que se denomina orgulhosamente a Capital Lenhadora do Mundo, ele encontrou na época moradores que sabiam contar nos dedos os empregos que a salvação das matas lhes haviam custado.
Uma década e meia depois, tudo parece mudado. Para melhor. “Em motéis e restaurantes pelo caminho, mal ouvi resmungos contra a presença federal na península, embora fosse visível pela relativa escassez de clareiras e caminhões de troncos que a safra de madeira estava em declínio”, disse Mitchell. Mudara a opinião pública porque dobrou em Forks o número de hotéis e pensões na última década. A cidade agora vive do parque, e não contra ele. “A comunidade andou se reinventando nos últimos dez anos”, disse-lhe um entrevistado. Outro declarou que “as queixas ficaram para trás. O parque se tornou um vizinho muito bom. Estamos progredindo”.
Bem em tempo, porque o parque abriu este ano à “consulta pública”, para resolver o que vai ser dele daqui para a frente. Contar com a boa-vontade de quem mora a seu redor não deixa de ser uma segurança numa hora dessas, quando estão em jogo decisões vitais, como saber se ele deve ter mais ou menos estradas franqueadas aos turistas, até que ponto irá aumentar ou diminuir suas áreas de acesso restrito e em que circunstâncias dará preferência às plantas, aos bichos ou aos visitantes. Trata-se de formular agora um plano de manejo “para próximos 15, 20 anos”, avisava a direção do Olympic, numa carta publicada na internet.
E aí é que está a diferença: lá, a consulta é realmente aberta. Está todo mundo formalmente convidado a opinar. Dá palpites quem se considera interessado no assunto, e não quem faz parte da confraria dos desinteressados, como costumam ser no Brasil os conselhos formados nos municípios que um parque, em alquma medida, desapropriou ou vai desapropriar. Esses vizinhos, como se viu no caso do Olympic, vão levar ainda anos, talvez até gerações, para enxergar as vantagens pessoais do que se está decidindo agora. Por isso mesmo, não podem decidir sozinhos. Afinal, se trata de parques “nacionais”. Ou não?
Se são nacionais, no Brasil eles não parecem, como mostrou Maria Tereza. “Desde o advento da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), no ano 2000, se tornou extremamente difícil a criação ou ampliação de unidades de conservação de proteção integral, ou seja, em especial os parques nacionais ou estaduais, devido à exigência de “consultas públicas” prévias à decretação da unidade pelo Poder Executivo”. Aqui, as audiências públicas “de caráter local ou regional” têm a prerrogativa de decidir, sozinhas, “contra o interesse nacional”.
Muito mais “democrático” e “justo”, diz ela, seria ouvir também “representantes de outras partes do país… mas isso é praticamente impossível”. Será? A revisão do plano de manejo do Olympic incluiu um calendário de reuniões, em cidades à sua volta. Mas ao mesmo tempo o debate foi escancarado na internet. Depois, basta tirar a média do que vem pela rede com o que se diz nesses fogos do conselho para saber o que a opinião pública quer fazer com o parque. Não chega a ser tão mais caro assim. E é muito mais democrático.
Leia também

Guerra e clima: o custo ambiental da violência
A destruição ambiental provocada pela guerra demonstra que a segurança ecológica é parte integrante da segurança humana →

Fundo Casa abre chamada de R$ 2,5 mi para apoiar projetos na Mata Atlântica
O edital nacional prevê financiamento de até 42 iniciativas comunitárias voltadas à restauração florestal, geração de renda e adaptação climática no bioma →

Exposição imersiva sobre crise climática chega ao Rio
Exposição gratuita do Coral Vivo reúne experiências sensoriais e conteúdos científicos para mostrar como a crise climática já afeta oceanos, ecossistemas e sociedade →