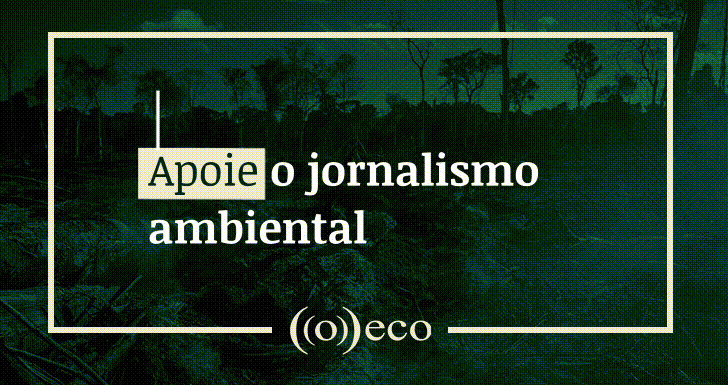Agora que o presidente Lula pediu perdão aos africanos pela escravidão e o ministro Márcio Thomaz Bastos pediu perdão aos índios pela violência colonial, os brasileiros bem que poderiam fechar a semana de aniversário do Descobrimento juntando-se num pedido de perdão coletivo a esta terra por 505 anos de maus tratos.
E, antes de irmos em frente, convém esclarecer que não é preciso pedir desculpas pelo uso da palavra “descobrimento”. Ela pode até soar mal aos ouvidos de quem já tinha ancestrais aqui muito antes de chegarem os europeus. Mas está mais atualizada do que nunca no léxico do ambientalismo, porque é exatamente isso o que temos feito com o Brasil há cinco séculos: descobri-lo.
Quer dizer: destapá-lo, tirando-lhe de cima aquele arvoredo “tanto, tamanho, tão basto e de tanta qualidade de folhagem” que não deixou o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral descrever ao rei D. Manuel I o que havia embaixo daquelas copas. “A estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa”, informou Pero Vaz de Caminha, lavrando nesses termos a profética certidão de nascimento de um futuro recordista mundial de devastação.
Da floresta que os portugueses viram em 1500 – a mata atlântica – sobram pequenos retalhos cada vez mais esparsos, picotados ao longo da costa. Hoje os brasileiros mal se lembram do que Caminha disse do tal arvoredo, inclusive de seus “muitos e bons palmitos” que a tripulação levou para bordo. Mas sabem de cor aquela frase que, textualmente, não consta da carta. A da “terra em que plantando tudo dá”.
Árvore, como se vê, não é mesmo o nosso forte. Temos sempre outras urgências, como as prioridades sociais que inspiraram a homologação, na segunda-feira passada, da reserva Raposa Serra do Sol. Seus “um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro hectares, setenta e oito ares e trinta e dois centiares” são um gesto histórico de largueza com os índios. Mas as 73 palavras que nele resolvem o destino do Parque Nacional do Monte Roraima são um exemplo clássico de má vontade com o patrimônio natural de todos os brasileiros.
Elas engaiolaram na Terra Indígena uma Unidade de Conservação do Governo Federal. Lá dentro, o parque fica “submetido a regime de dupla afetação”, atendendo simultaneamente à “preservação do meio ambiente e à realização dos direitos constitucionais dos índios”. Trocando em miúdos, servirá para a proteger a fauna e a flora de um lugar onde os índices de endemismo chegam a 50% das espécies, e ao mesmo tempo garantir o direito de seus novos gestores a exercerem suas prerrogativas de caça e coleta, que também compõem o acervo de “usos, costumes e tradições” que o Artigo 231 da Constituição lhes assegura.
Isso não é impossível. Mas também não é exatamente um parque nacional. Eu mesmo ouvi em Roraima há mais de uma década, quando a campanha pela demarcação da Raposa Serra do Sol ainda engatinhava, um chefe Macuxi citar a caça entre as necessidades vitais de seu povo, que reserva viria prover. Pela Constituição, ele estava absolutamente certo.
A nota falsa de sua entrevista não estava no conteúdo, mas na locação. Ele me recebeu sentado no estribo do trator que a cooperativa de sua aldeia usava para empurrar a fronteira agrícola sobre os campos naturais típicos do estado, dono uma paisagem inigualável de savanas. Ao fundo, enquanto conversávamos, pastava o gado da tribo. Era parte do rebanho de sete mil cabeças que a Diocese de Boa Vista distribuíra entre as comunidades indígenas através de doações italianas.
Diante desses troféus da aculturação, perguntei-lhe se a caça não seria supérflua. Ele respondeu, sem a menor hesitação, que ela encarnava para a cultura Macuxi valores espirituais inalieváveis . E acertou na mosca. Mas tudo isso tornava impossível para um forasteiro enxergar os limites, inclusive internacionais, da herança Tucuxi.
Naquele tempo, vendia-se em Boa Vista o livro “Índios de Roraima”, publicado pela Diocese em parceria com o antropólogo Emmanuelle Amodio. Integrava o arsenal retórico do movimento pela demarcação da reserva. E no entanto informava que, em 1772, os frades Benito de la Garrida e Tomás de Mataraó exploraram o rio Branco sem encontrar os Macuxi. “Temos notícias de que, já em 1753, foram contatados ao norte da atual Guiana pelo Diretor Geral do Essequibo (inglês)”, dizia o texto.
Diga-se de passagem que, embora escritas no calor da campanha, suas 106 páginas têm argumentos para qualquer ponto de vista que se debruce sobre o caso Raposa . Por exemplo: “Alguns velhos macuxis contam que foram os padres da Guiana que criaram o cargo de tuxaua. Outros dizem que foi o general Rondon quem nomeou os primeiros tuxauas, dando a alguns deles a farda militar uma trombeta”.
Quando o país concorda em alguma coisa, as pequenas dúvidas não abalam suas grandes certezas. E esse é, aparentemente, o caso da Raposa Terra do Sol. Tanto que em 1993 o boletim da Associação dos Povos Indígenas de Roraima-APIR começava a a história da “luta, independência e tenacidade de um líder” com esta frase: “Nascido em 27 de agosto de 1966, em Monkey Mountain, Guiana Inglesa”.
Tratava-se de Alfredo Silva, presidente da APIR. Ele veio para o Brasil aos cinco anos, “quando seus pais emigraram com destino à Venezuela e acabaram por se estabelecer na localidade de Sorocaima, hoje Sorocaima II”. Na família, dos “nove irmäos, três mulheres e seis homens”, ele sobressaiu desde cedo pela audácia e inquietação”. Fez o primário na Escola Casemiro de Abreu, depois na Escola Ana Libória de Boa Vista e enfim no “Internato de Surumu, onde terminou o 1º grau”. Passou pela Escola Técnica de Mineração em Manaus. E aos 18 anos elegeu-se tuxaua.
Segundo o folheto, ele só voltou a Roraima em 1990. E, quatro anos depois, “consciente de que sua abnegada atuação” tinha “ajudado a sociedade indígena a conquistar um importante espaço no cenário político de luta”, Alfredo Silva renunciou à presidência da APIR “e o cenário de luta, para cuidar de sua mäe, que é doente, indo viver seguramente entre os seus familiares na Gran Sabana, Venezuela”.
Foi esse estado novo como Roraima, que foi criado em 1988, até hoje parece que não ficou pronto e de vez em quando ainda surpreende o país com produtos locais como o ministro Romero Jucá, que o governo escolheu para experimentar a “dupla afetação” de um parque nacional. Pelo decreto, a Funai, o Ibama e a Comunidade Indígena Ingarikó formarão ali um triunvirato.
Nesse condomínio gerencial, a causa dos índios já sai ganhando do time ambientalista por 2×1. Mas não é isso o que importa. Equilibrar o jogo com essa veneranda receita de crises políticas só pode parecer muito simples para um governo cuja peça de resistência na política de meio ambiente chama-se “reserva extrativista”. O nome, feito com duas palavras contraditórias, em si mesmo é “um oxímoro”, como ensinou o historiador Kenneth Maxwell. Para ver como isso funciona, só vendo o que acontecerá daqui para a frente em Roraima. Se é que o resto do Brasil consegue ver o que acontece em Roraima.
A fórmula da “dupla afetação” pôs uma novidade no lombo de um retrocesso. Novidade, por não estar prevista na lei 9.985, que regula (mal, mas regula) o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Adotada nos confins de Roraima, mesmo antes de provar que deu certo tende a contagiar outros parques, onde de uns anos para cá os índios se aboletaram, em nome de seus direitos ancestrais ao território brasileiro.
Entre eles o parque do Monte Pascoal, na Bahia, que os Pataxó invadiram e desmataram. Quando o parque foi criado no cenário do Descobrimento, havia nos arredores 152 Pataxó. Em suas décadas, sua população cresceu 1.192%. Não admira que anos atrás, desbastado os 8.627 hectares em que Brasília acabou reconhecendo a invasão como fato consumado, eles tomaram o resto. Se a moda da Raposa Serra do Sol pegar, as Unidades de Conservação do Governo Federal, que andam caindo aos pedaços, podem mudar de mãos e de regime.
E não era isso que estava na cabeça dos militantes que fizeram a cabeça constituintes em 1988. Eles imaginaram as reservas indígenas e extrativistas como um complementos dos parques nacionais. E não que eles servissem de trampolim para conquistá-los. É aí que está o retrocesso. Parques nacionais talvez não pareçam, mas são uma invenção política radical do século XIX. Veio para substituir os campos privativos de caça, onde a natureza conservava os usos, os costumes e as tradições da aristocracia européia. Eles também são um produto da era das revoluções que, pelo visto, no Brasil já vai passando.
Leia também

Fundo Casa abre chamada de R$ 2,5 mi para apoiar projetos na Mata Atlântica
O edital nacional prevê financiamento de até 42 iniciativas comunitárias voltadas à restauração florestal, geração de renda e adaptação climática no bioma →

Exposição imersiva sobre crise climática chega ao Rio
Exposição gratuita do Coral Vivo reúne experiências sensoriais e conteúdos científicos para mostrar como a crise climática já afeta oceanos, ecossistemas e sociedade →

Albardão não é de nenhuma pessoa. É, finalmente, deles
O Parque Nacional representa mais do que uma vitória política, técnica ou institucional. Ele representa uma rara decisão civilizatória: a de dizer que o mundo não existe para ser usado →