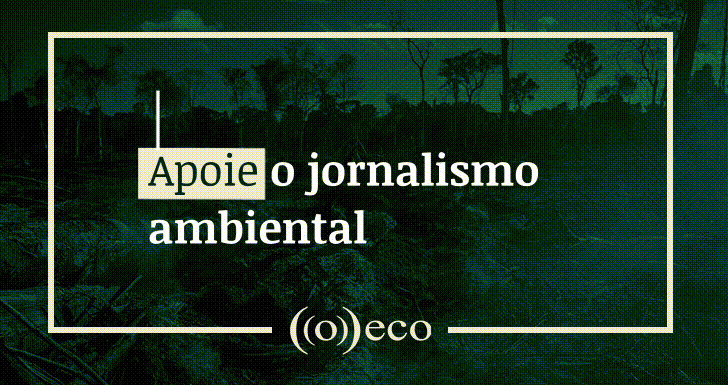(…leis elementares nunca pedem desculpas)
Walt Whitman
Um novo conflito vem emergindo ultimamente no nosso mundo já tão cheio deles: produção de alimentos versus biocombustíveis. Com o preço do petróleo a níveis estratosféricos, e o aquecimento global como uma realidade a cada dia mais óbvia, os biocombustíveis parecem uma alternativa muito tentadora aos combustíveis fósseis. Com isso, a demanda por biocombustíveis, e conseqüentemente sua produção, vêm crescendo de forma exponencial nos últimos anos. Qualquer substituto menos poluente para os combustíveis fósseis parece em princípio ser muito bem vindo. No entanto, vozes começam a surgir, inclusive na ONU, para nos alertar que infelizmente essa questão não é tão simples assim. Estamos, lembram essas vozes, num planeta já superpovoado, onde a demanda por alimentos cresce cada vez mais, e onde cada área agrícola é necessária e valiosa. Quanto mais terras agrícolas forem perdidas para terras para produzir biocombustíveis, mais dificuldade a produção de alimentos terá em atender à demanda, e mais tenderão a se agravar a subnutrição e a fome, que já afetam tanta gente nesse planeta.
No entanto, há quem minimize o problema, ou mesmo negue sua existência. O próprio presidente Lula tem dito que o etanol brasileiro, obtido a partir da cana-de-açúcar, não compete com a produção de alimentos. Ele e outras vozes oficiais têm nos tranqüilizado de que é perfeitamente possível aumentar ao mesmo tempo a produção de alimentos e de biocombustíveis, tudo isso conciliado com a conservação da biodiversidade.
Gostaria muito de conseguir me convencer disso. Mas infelizmente – ou felizmente – não consigo. Cada vez que ouço este tipo de argumentação, penso em Newmark, na relação espécies-área, e em z.
William Newmark era um biólogo à procura de um bom tema para sua tese de doutorado, na Universidade de Michigan, em meados da década de oitenta. Durante seu mestrado, no qual estudara a fauna do Parque Nacional de Yellowstone, ele tivera acesso aos arquivos daquele parque e notara que havia registros de espécies que haviam sido observadas nas décadas anteriores, desde a criação do Parque, e que não eram mais vistas havia alguns anos. Essas espécies aparentemente haviam se extinto no Parque por uma razão ou por outra. Ele pensou então: será que isso acontecia em outros parques? O senso comum parecia dizer que não – afinal eram áreas muito bem protegidas – mas, como veremos abaixo, a teoria ecológica dizia que sim. O que estaria certo?
Juntando à sua curiosidade científica uma boa dose de espírito aventureiro, Newmark lançou-se à estrada. Passou os meses seguintes percorrendo a metade oeste dos Estados Unidos, e também o sul do Canadá, com sua velha perua Toyota, dormindo no banco de trás do carro. Newmark decidiu se concentrar em mamíferos de médio e grande porte, um grupo do qual havia bons registros. Foi a cada reserva importante naquela vasta área, e ao chegar a cada uma, ele se dirigia à administração e pedia para ver os registros de ocorrência de espécies de mamíferos, desde que a reserva tinha sido estabelecida. Dessa forma, ele conseguiu ter acesso aos dados de presença – e de desaparecimento – de mamíferos de 14 reservas ou agregados de reservas.
Os resultados confirmaram dramaticamente as expectativas baseadas na teoria ecológica. Naquelas 14 reservas, nas poucas décadas desde que elas haviam sido demarcadas, tinha havido nada menos que quarenta e duas extinções locais de mamíferos de médio e grande porte. Nenhuma dessas era uma extinção global; mas, por exemplo, a raposa tinha desaparecido de Bryce Canyon e de Sequoia-Kings Canyon; a lontra de Crater Lake e de Sequoia-Kings Canyon, o lince de Mount Rainier, e por aí vai. As perdas tinham sido maiores nos parques menores. O mais perturbador era que todos esses desaparecimentos eram independentes da ação direta do homem – Newmark tinha removido cuidadosamente da lista as extinções causadas por caça ou medidas de manejo (erradicação do lobo em Yellowstone por exemplo). As espécies haviam desaparecido sozinhas, sem causas óbvias. Mistério? Não exatamente, e isso era o mais fantástico de tudo! Pouco depois, no início de 1987, Newmark, então um desconhecido recém-doutor, publicou seu trabalho nada menos que na Nature, uma das duas revistas científicas mais importantes do mundo. Esse estrondoso sucesso, se pensarmos bem, não foi porque os resultados eram inesperados, mas exatamente pelo contrário, porque eram esperados.
Deixe-me explicar. Um dos padrões da natureza mais bem conhecidos pela ecologia é o das relações espécies x área, descrito pela primeira vez em ilhas. Já em 1778, o naturalista alemão Johann Forster tinha escrito com todas as letras que ilhas maiores tinham mais espécies. Mais espécies de qualquer coisa: aves, mamíferos, plantas, insetos, o que fosse. Embora o grau de isolamento de cada ilha – sua distância para a costa por exemplo – ajudasse a explicar o número de espécies encontrado nela, cedo se descobriu que a área de cada ilha explicava muito melhor seu número de espécies (ou, numa linguagem um pouquinho mais técnica, área era um determinante muito mais forte do número de espécies que a distância). Tamanho, para uma ilha, definitivamente é documento.
À medida que a ecologia foi se tornando uma ciência cada vez mais quantitativa no século XX, o entendimento progrediu da simples constatação da existência da relação entre número de espécies e área para uma descrição da forma dessa relação. Para isso foram formulados modelos empíricos, ou seja, que procuravam descrever da melhor forma possível os padrões revelados pelos dados de campo, mostrando de que forma o número de espécies variava com a área. Dentre esses modelos de relações espécies-área, o modelo conhecido como função potencial (“power function”), apresentado pelo botânico sueco Olof Arrhenius em 1921, é até hoje o que melhor descreve os padrões encontrados no Mundo real.
Não vou descrever esse modelo em detalhe aqui; se você quiser uma exposição acessível a respeito, sugiro o quarto capítulo do meu livro, “O Poema Imperfeito” (Editora da Universidade Federal do Paraná / Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, Segunda Edição, 2004). Se você quiser se aprofundar mais, não só no modelo de Arrhenius como indo mais fundo em relações espécies-área em geral, sugiro o excelente livro de Michael Rosenzweig, “Species Diversity in Space and Time” (Cambridge University Press, 1995). Para nossos propósitos aqui, basta dizer que o modelo de Arrhenius tem uma constante, “z”, que é uma das coisas mais importantes que a Biologia da Conservação têm a nos ensinar, e crucial para entender a situação de biocombustíveis, produção de alimentos e biodiversidade. A constante “z” mostra a taxa pela qual o número de espécies aumenta com o aumento de área das ilhas, por exemplo dentro de um arquipélago. A imensa, gigantesca, crucial importância disso para a conservação pode ser melhor vislumbrada se pensarmos ao inverso: “z” é a taxa pela qual o número de espécies das ilhas diminui, com a diminuição da área.
O valor de “z” é uma constante em cada relação espécies-área (por exemplo, para um dado grupo taxonômico em um dado arquipélago) mas varia dentro de uma faixa estreita entre diferentes relações espécies-área (por exemplo, entre arquipélagos, ou entre grupos taxonômicos). Os numerosos estudos feitos até hoje em ilhas têm encontrado valores de “z” na natureza variando quase sempre entre 0,20 e 0,35. Para permitir visualizar melhor o que quer dizer isso, por exemplo, um “z” “típico” de 0,30 corresponde aproximadamente a que irmos para uma ilha dez vezes maior corresponde a encontrar o dobro do número de espécies, ou, ao inverso, que irmos para uma ilha dez vezes menor corresponde a encontrar metade do número de espécies.
Era isso que Newmark tinha em mente quando foi aos Parques Nacionais perguntar pelos registros de espécies. Hoje aqueles parques são como ilhas de vegetação separadas por um mar de áreas transformadas pelo homem de diversas formas. Mas no passado, tudo aquilo eram imensos ecossistemas naturais contínuos. Portanto, o número de espécies original em cada um daqueles parques deveria ser correspondente a uma área gigantesca, mas após o isolamento, a relação espécies-área prediria que o número de espécies presente em cada parque deveria cair até se ajustar ao novo número de espécies, correspondente à área de habitat natural remanescente em cada lugar. Ou seja, extinções locais, em cada parque, eram esperadas independentemente de qualquer intervenção humana direta (como caça por exemplo), mas simplesmente porque a área dos parques tinha ficado pequena demais para comportar o número original de espécies. Por que o trabalho de Newmark teve um sucesso tão espetacular? Exatamente por causa de nossa desconfiança em teorias. Uma coisa era ver escrito num pedaço de papel que extinções locais deveriam acontecer com a redução de área de habitat disponível, como vários ecólogos já tinham escrito com todas as letras muito antes de Newmark. Outra coisa muito diferente era ver aquela predição se materializar, com bichos reais, no Mundo real, diante de nossos olhos.
Repare que eu não falei nada sobre as causas biológicas por trás das relações espécies-área. Explicações existem, e a mais popular delas, a teoria de biogeografia de ilhas proposta por Robert MacArthur e Edward Wilson em 1967, é provavelmente o trabalho científico mais citado da história da ecologia. É uma teoria espetacular e fascinante, e é tentador discuti-la aqui, mas resistirei à tentação. Para o ponto específico que estou discutindo, as causas da relação espécies-área não são relevantes. Para o nosso ponto de vista, o que importa é que elas existem: a existência de uma relação entre o número de espécies e a área é um forte padrão empírico (ou seja, baseado diretamente em observações do mundo real). Esta relação se aplica muito bem não só a ilhas reais, como também a “ilhas de habitat” como os parques de Newmark ou fragmentos florestais em geral. Há diferenças entre as relações espécies-área entre fragmentos e ilhas, mas pelo menos em escalas espaciais relativamente grandes relações espécies-área também se aplicam, para qualquer grupo taxonômico, a conjuntos de fragmentos florestais. Moral da história: relações espécies-área são um forte padrão empírico do Mundo real, que pode ser visto como uma “lei” da natureza, menos precisa mas quase tão onipresente quanto a lei da gravidade. Leis naturais funcionam a cada dia, quer as percebamos ou não, quer gostemos delas ou não.
Voltemos então aos biocombustíveis, à produção de alimentos e à conservação da biodiversidade. O governador Blairo Maggi, o desmatador-mor, disse esta semana no Globo que “há estudos que mostram que em 50% da área é possível ter todas as espécies preservadas”. Não, não é – e só imagino que tipos de “estudos” são esses! Quanto mais área se perder, mais biodiversidade se vai perder, mesmo se não houver nenhuma intervenção humana futura como caça ou exploração, pelo simples fato de não ter conservado área o suficiente.
Vamos agora pensar no planeta como um todo. A conversão de áreas antes utilizadas para a produção de alimentos em áreas de plantio para biocombustíveis leva, todo o resto sendo igual, à redução na oferta de alimentos. Com a redução da oferta, por uma outra lei muito simples – a da oferta e da procura – o preço dos alimentos sobe, estimulando novos plantios. Novas áreas agrícolas, claro, são abertas a partir da destruição de mais algumas áreas naturais remanescentes. Isso, por sua vez, através de relações espécies-área, vai inevitavelmente gerar perdas de biodiversidade.
O Brasil não está, de modo nenhum, imune a isso. Posso até concordar que de modo geral a produção de etanol brasileiro a partir da cana-de-açúcar não compete com a produção de alimentos. Claro, mas a área onde está hoje a cana no nordeste brasileiro era toda de Mata Atlântica, portanto essa produção de biocombustível só é possível por causa de um desastre ambiental já feito. Magro consolo. Menos consolo ainda quando se pensa que a perda de áreas agrícolas para biocombustíveis em qualquer lugar do Mundo e o conseqüente aumento dos preços dos alimentos são fatores que aumentam inexoravelmente a pressão pela abertura de novas áreas agrícolas em qualquer outro lugar do Mundo – inclusive aqui. A Amazônia e o Cerrado, claro, são as bolas da vez.
Se há soluções possíveis, naturalmente passam pela tecnologia agrícola permitindo aumentos de produtividade – o que já está por trás de muito do recente crescimento do agronegócio brasileiro. Mas mesmo esse tipo de solução é um paliativo que só pode varrer os problemas para baixo do tapete do futuro. Não nos enganemos com pseudo-soluções imediatistas e fáceis. Soluções reais não passam por um crescimento econômico baseado na produção de “commodities” agrícolas – um modelo de desenvolvimento do século XIX. Soluções reais requerem bem mais planejamento e investimento e passam necessariamente por eficiência, inclusive energética, que nos permita aprender a produzir sociedades estáveis, onde a demanda seja estabilizada ou reduzida – a única possibilidade real da tão falada sustentabilidade num planeta finito. Se queremos futuro, temos que pensar mais em ter cidades planejadas para o transporte público, por exemplo, do que simplesmente em trocar o combustível do nosso carro de um que causa aquecimento global para um que exige terras. O planeta é finito. Terras para qualquer utilização vêm de algum lugar. Tirar mais área de ecossistemas naturais é sempre a “solução fácil”. Mas aí, ninguém venha me dizer que isso é perfeitamente possível de conciliar com a conservação. “Z” vai agir sem remorso. Leis elementares nunca pedem desculpas.
Leia também

Fundo Casa abre chamada de R$ 2,5 mi para apoiar projetos na Mata Atlântica
O edital nacional prevê financiamento de até 42 iniciativas comunitárias voltadas à restauração florestal, geração de renda e adaptação climática no bioma →

Exposição imersiva sobre crise climática chega ao Rio
Exposição gratuita do Coral Vivo reúne experiências sensoriais e conteúdos científicos para mostrar como a crise climática já afeta oceanos, ecossistemas e sociedade →

Albardão não é de nenhuma pessoa. É, finalmente, deles
O Parque Nacional representa mais do que uma vitória política, técnica ou institucional. Ele representa uma rara decisão civilizatória: a de dizer que o mundo não existe para ser usado →