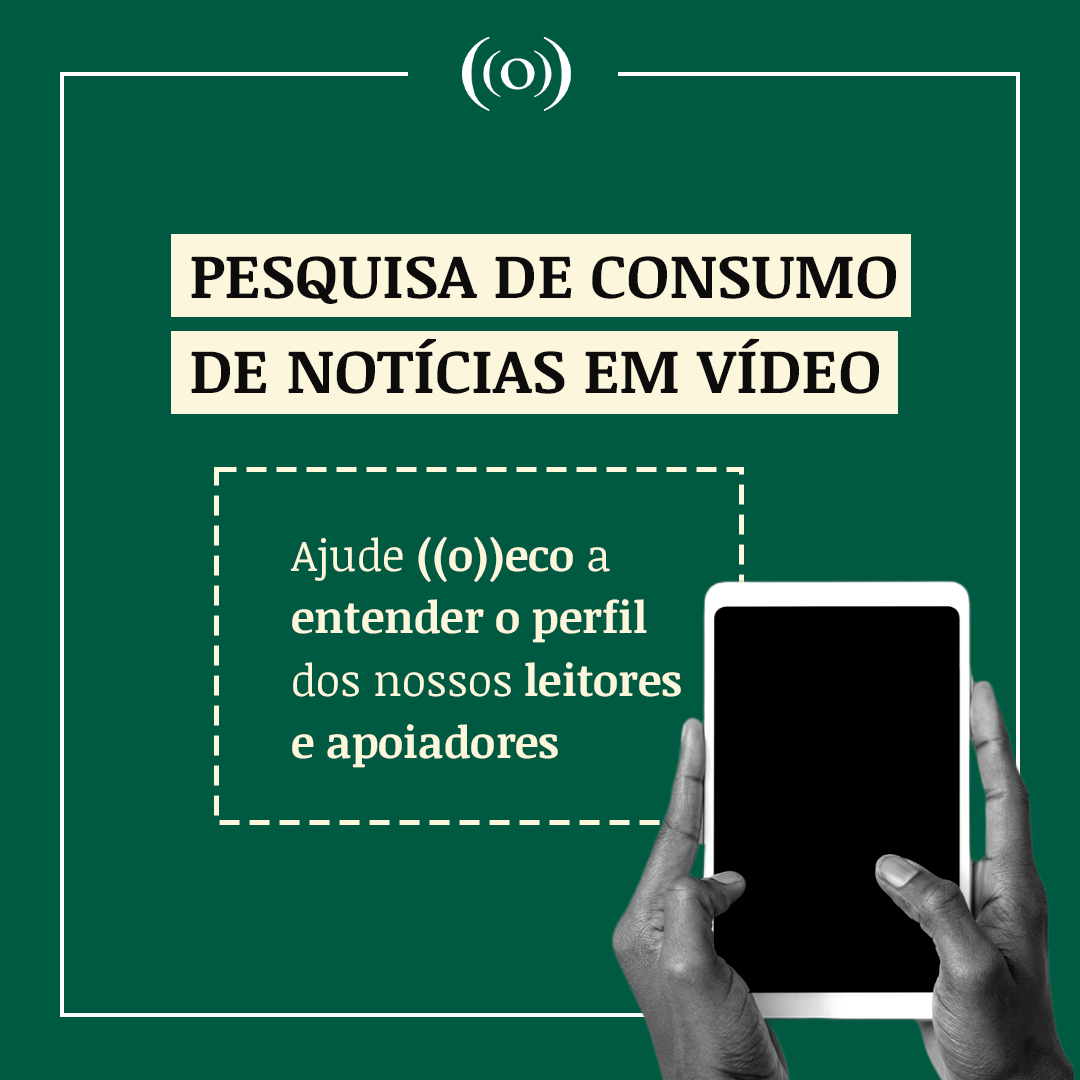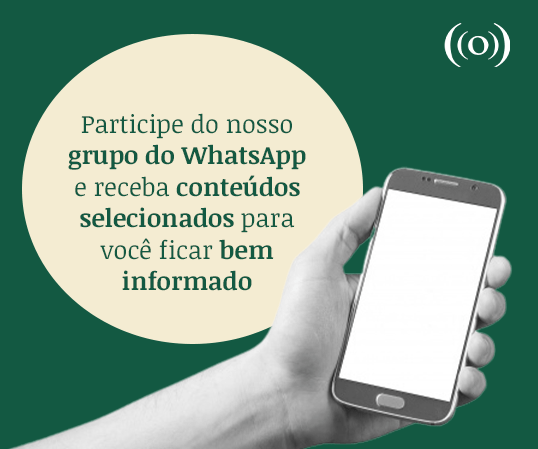Retornei a pouco de minha terceira viagem à Nigéria, onde visitei novamente o Parque Nacional Yankari, agora estadualizado como Yankari Game Reserve e foco de um projeto de fomento turístico. Yankari fica na savana sudanesa, caracterizada pelos baobás, e é lar de uma das maiores populações de elefantes de savana (os de floresta são outra espécie) da África Ocidental, infelizmente ameaçada pela retomada do comércio de marfim. Comércio alimentado por debilóides, a maioria na China e nos USA, que acham bonitinho ter estátuas ou empunhaduras de armas feitas de marfim.
Em Yankari reencontrei uma velha conhecida, pela qual nutro enorme respeito. O lugar é cheio de moscas tsé-tsé. Sugadoras de sangue que atacam em nuvens para desespero dos visitantes (Exposix resolve), as tsé-tsés são vetores de tripanossomos (um causa a doença de Chagas) fatais ao gado e cavalos, e que causam a doença do sono (que não ocorre em Yankari) em humanos.
Fatais para humanos, gado e cavalos, os tripanossomos são inofensivos para os antílopes e outros ungulados, numa bela relação co-evolutiva. Além de sangue, as tsé-tsés também gostam de sombra e precisam de savanas arborizadas, o que explica porquê povos guerreiros que dependiam da cavalaria, como os Fulani, nunca fizeram grandes avanços ao sul do Sahel. Parasitas determinam o rumo da história.
Embora um aborrecimento e um perigo, as tsé-tsés são as grandes responsáveis por alguns dos maiores tesouros naturais do continente. Sem elas o mundo seria muito mais pobre.
Em 1889 um carregamento de gado trazido para alimentar tropas italianas que invadiam a Etiópia trouxe o vírus da peste bovina (rinderpest) para a África sul-sahariana. A epidemia resultante varreu o continente, eliminando populações de búfalos, girafas e elands, além da maior parte dos antílopes menores, warthogs (os Pumbas) e outros animais de casco. No leste da África, onde a epidemia chegou em 1890, 95% dos búfalos e gnus morreram em dois anos.
Dominó ecológico
O gado doméstico também sofreu seriamente: estima-se que pelo menos 95% do rebanho africano morreu entre 1889 e o fim da década de 1890. Com o crash do rebanho bovino houve a redução das populações humanas que delas dependiam, tanto pela fome como por epidemias alimentadas por corpos enfraquecidos. Micro guerras entre povos que roubavam o pouco gado um do outro trouxeram mais mortes, tanto diretas como resultantes do impossibilidade de cultivar as terras sem ganhar uma lança nas costas.
Povos pastoralistas, como os famosos Masai e os Fulani, mais militarizados e dominantes sobre vizinhos agricultores, perderam seu poder. O que foi ótimo para os imperialistas europeus que repartiam o continente.
Estima-se que 2/3 dos Masai morreram de fome como resultado da epidemia e, no Serengeti, a fome continuou até 1920. O fim os rebanhos bovinos não apenas enfraqueceu a capacidade dos africanos resistirem à invasão colonial, mas também sua habilidade de reocupar áreas antes exploradas.
A virtual extinção dos ungulados selvagens teve repercussões ecológicas importantes. As tsé-tsés, sem comida, desapareceram. Os leões, sem comida, passaram a comer pessoas. Na África do final do século XIX poucas coisas eram mais efetivas em encorajar que pessoas procurassem outro lugar para viver que leões antropófagos na vizinhança. O que levou ao abandono de grandes áreas mesmo por agricultores com pouco gado.
O pastejo pelo gado, e o fogo ateado regularmente por seus pastores, asseguravam que o pasto era mantido baixo e nenhuma árvore ou arbusto cresceria mais que alguns centímetros, embora desenvolvessem grandes sistemas radiculares. Sem o gado e seus pastores as plantas mantidas como bonsais rapidamente compensaram o tempo perdido e o que era um pasto quase limpo se transformou em uma pastagem arborizada. Habitat ideal para as tsé-tsés.
Ao mesmo tempo, a maioria dos ungulados selvagens desenvolveu imunidade à peste bovina e por 1910 muitas populações estavam em franca recuperação. Conforme as árvores e as populações de antílopes & cia cresciam, as tsé-tsés recuperaram seu império perdido nos milênios anteriores em que humanos dizimaram tanto seu habitat como suas presas. Com o retorno da tsé-tsé a doença do sono, antes mera endemia, se tornou epidêmica. Em Uganda, antes um dos reinos mais prósperos da África, a doença matou cerca de 200 mil pessoas até 1906. 2/3 das que sobreviveram a fome, epidemias e guerras que assolaram o país na década anterior. Após a peste, a fome, as guerras e os leões, as moscas continuaram a pressionar as pessoas para fora de grandes áreas.
Menos gente, mais bichos
A epidemia de peste bovina no final favoreceu a fauna. Regiões antes com densas populações de pecuaristas e agricultores se tornaram savanas cheias de tsé-tsés habitadas por populações crescentes, e espetaculares, de antílopes, girafas, elefantes & cia. A maioria destas se tornou reservas cujos nomes hoje são sinônimo dos tesouros naturais mais preciosos do continente. Nomes como Serengeti, Masai Mara, Ngorongoro, Tsavo, Selous, Luangwa, Okavango, Kruger, etc.
O que ocorreu na África dos séculos XIX e XX também ocorreu na América dos séculos XVI a XVIII, quando epidemias de doenças européias dizimaram os indígenas e permitiram que populações animais antes mantidas deprimidas atingissem seu potencial completo. Como testemunhado pelos europeus que depois encontraram (e massacraram) milhões de búfalos e bilhões de pombos-passageiros na América do Norte, manadas de milhares de veados-campeiros nos Pampas, rios entupidos com tartarugas, jacarés e peixes-boi na Amazônia, etc. Charles Mann, no livro 1491, descreve o fenômeno como um desequilíbrio ecológico. Eu o vejo como o mundo voltando ao que deveria ser.
O sofrimento humano resultante foi imenso e é impossível não se colocar no lugar dos que pagaram o preço de hoje termos a “África Selvagem” dos documentários. Ao mesmo tempo, a vida na Terra seria muito mais pobre – com savanas vazias como as brasileiras – se aqueles desastres não tivessem acontecido.
Estes experimentos naturais são mais uma das muitas evidências de como a vida floresce quando saímos de cena. E fazem meditar sobre o papel que escolhemos ocupar no mundo.
O declínio das populações humanas resultou em algumas das mais importantes áreas naturais da África não apenas em termos de biodiversidade, mas também em retorno econômico. O turismo, atividade que não podia ser prevista quando aquelas terras foram despovoadas, hoje é um dos pilares de várias economias. Em países como África do Sul, Zambia, Kenya, Tanzania e Uganda, as áreas reconquistadas pela vida selvagem graças às tsé-tsés respondem por parte significativa da economia nacional.
Economia sustentada porquê as manadas de turistas querem ver manadas de animais silvestres, e não favelas no meio do mato com gente usando um adesivo de “índio” ou “quilombola” grudado na testa. Por sinal, para os que acham que áreas protegidas engessam a economia, vale ler este estudo, que mostra que as UCs às vezes são boas demais para a economia para seu próprio bem.
Ignorando o óbvio
Na discussão atual sobre como conservar as grandes áreas naturais que restam acho sintomático da auto-imagem ilusória que se esqueça que barreiras representadas por ausência de infra-estrutura de transportes, falta de serviços públicos, doenças e outros fatores que tornam a ocupação desagradável e atividades agropecuárias e extrativas anti-econômicas têm sido muito mais efetivas na conservação de grandes áreas que qualquer política pública.
A mesma discussão também tem muita desinformação. Quem diz que é preciso desenvolver primeiro para conservar depois é ignorante ou mau intencionado. Há bom corpo de estudos mostrando como a porcentagem de áreas degradadas, de habitats perdidos e de espécies extintas ou ameaçadas cresce junto com os indicadores econômicos e com a população. Dêem uma olhada na Europa e USA, onde hoje se gastam milhões para recuperar o que foi perdido. E na bagaça que é a China, campeã do modelo de desenvolvimento admirado por aqui e que irá morrer na praia até o fim da próxima década. Desenvolvimento deve ocorrer junto com conservação.
Até a pouco a febre amarela, a malária e outras doenças bloquearam a ocupação amazônica, como a turma da Madeira-Mamoré sentiu na pele. Antes que nos tornássemos mais sábios a medicina moderna removeu estas barreiras, permitiu um explosivo crescimento populacional e agora estamos queimando a maior floresta tropical no altar de um desenvolvimento duvidoso. Quem conhece o sul do Pará, Rondônia ou o oeste do Maranhão deve matutar se vale a pena ter meia América do Sul transformada naquilo. Eu acho que não.
No entanto, o discurso do “desenvolver para conservar” continua contra todas as evidências. Eu ficaria grato se alguém me mostrasse um caso onde a promoção da agropecuária resultou na conservação de florestas. Em troca gostaria de lembrar os exemplos dos igualmente superpovoados Haiti (99% desmatado e um PIB ridículo) e Japão (67% coberto por florestas, com 53% por naturais. O PIB você sabe). Qual caminho vamos seguir ?
Desenvolvimento sustentado existe apenas no discurso dos que fazem jogo de cena estilo Rio 92, da mesma forma que Papai Noel existe apenas nas historinhas que enganam as crianças. O que existe no mundo real são incentivos econômicos positivos ou negativos se confrontando com o impulso humano básico de ter e consumir mais. Todas as experiências de “uso sustentado” de recursos naturais nas florestas brasileiras não têm resistido ao desejo das pessoas de melhorar seu padrão de vida e, consequentemente, retirar da natureza mais do que ela pode oferecer.
Desperdício e incompetência
Está aí o fracasso das reservas extrativistas, que um dia juraram que iriam fazer milhões com produtos florestais não madeireiros e hoje avançam firme na criação de gado, retirada de madeira, tráfico de animais e outras coisas que não estavam no contrato.
Tornar anti-econômica a predatória agropecuária amazônica, cortando os subsídios que a alimentam, como estradas que só servem a interesses de empreiteiras e grileiros (BR 163, BR 319, etc), seria mais eficiente que as eternas operações de emergência crônica que o MMA promove a cada ano. Exceto…
Exceto se nesse país houvesse governança e império da lei, as mesmas coisas que permitiram ao Japão reverter a perda de suas florestas (leiam Colapso, de Jared Diamond) e amestraram povos para que tomassem o rumo da civilização, aquele conceito que implica no respeito ao espaço do outro e ao do que é de todos. E que ensina que o preço de rasgar o contrato social não vale a pena ser pago.
Temos 50 milhões de ha de pastagens degradadas no Brasil. E, apenas na Amazônia, desmatamos uma área maior que a França para sustentar a economia de uma população que é 1/3 a daquele país. Isso ameaça serviços ambientais que valem algumas vezes o PIB da região, embora nossa economia burra lhes atribua valor zero. Como somos eficientes !
O enorme estoque de terras degradadas na Amazônia é prova maior da ineficiência de nossas políticas para a região. É para estas áreas já destruídas que atividades econômicas devem ser direcionadas e fomentadas, e não para as regiões ainda íntegras. Nestas deve-se é desencorajar aquilo que incentiva a permanência humana.
Incentivos econômicos adequados atrairiam parte daquelas populações metidas no meio mato que tanto dano causam, embora florestas vazias de bichos não sejam detectadas pelos satélites. E teremos menos candidatos a neo-índios e noveau-carambolas querendo privatizar parques nacionais sob os auspícios de ONGs que vivem como gigolôs de “povos tradicionais”.
Cenoura econômica e porrete ambiental
Uma possibilidade de incentivo econômico positivo é o fomento do plantio (familiar e industrial) de palma para produção de biodiesel de dendê. É, de longe, a cultura mais eficiente para esse fim e uma das poucas opções para gerar emprego e renda na escala que bangladeshs (que combinam miséria com mão de obra sem qualificação) como o oeste do Maranhão e o leste paraense precisam.
O plantio de palma na Amazônia implicaria, dizem, ocupar áreas que foram desmatadas além do limite da reserva legal. Há ONGs que batem o pé que estas devem ser reflorestadas. Curiosamente, estas incluem algumas que fizeram campanha contra a inclusão do desmatamento evitado do Protocolo de Kyoto e ajudaram no seu fracasso. Ou que financiaram serrarias em reservas extrativistas e assim semearam um desastre em andamento.
Não sei se é ignorância ou são más intenções. Ninguém pagará pela recuperação das áreas desmatadas sem uma fonte de recursos definida e amarrada. Também é fato ser ambientalmente melhor ter um palmeiral – ou seringal ou cabruca – que uma pastagem degradada. Se as idéias pró-dendê irão exigir mudanças no Código Florestal, este é o momento de negociações voltadas para resultados, e não para teatro, e amarrar condicionantes baseadas em boa Ciência.
Ciência como a que mostrou que as áreas de preservação permanente associadas a cursos d’água na Amazônia devem ter pelo menos 400 m de largura para funcionar como corredores ecológicos efetivos. No Brasil raramente se lembra de transformar o que os cientistas naturais descobrem em política ambiental, mas se é rápido em adotar asneiras politicamente corretas.
Despovoar áreas de ocupantes humanos que exploram a agropecuária ou o extrativismo é a melhor (embora menos popular) forma de manter e recuperar ecossistemas ricos e diversos, como mostrado tanto pela ascensão da tse-tsé na África como por Chernobyl. Isso não exclui a possibilidade de usos mais benignos como o turismo, mas é óbvio que este tem um limitado potencial de gerar empregos. Ainda mais em regiões onde a qualificação da mão de obra é medíocre. Para quem não vai à escola, resta a enxada.
Uma política de desocupação das áreas naturais íntegras que ainda restam – e que são uma pequena fração do território nacional – combinada ao uso otimizado das áreas degradadas deveria fazer parte do cardápio de estratégias para conservar os grandes biomas que restam. Isso nos ajudaria a manter algo das nossas florestas e cerrados como reservas para o futuro. Quando, espero, os brasileiros serão mais civilizados.
E irão desprezar, ao invés de escolher como representantes, figuras que acham que desenvolvimento é sinônimo de pilhagem.
Leia também

Desmatamento no Cerrado cai no 1º semestre, mas ainda não é possível afirmar tendência
Queda foi de 29% em comparação com mesmo período do ano passado. Somente resultados de junho a outubro, no entanto, indicarão redução de fato, diz IPAM →

Unesco reconhece Parna dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio da Humanidade
Beleza cênica e fato de os Lençóis Maranhenses serem um fenômeno natural único no mundo levaram organização a conceder o título →

Dez onças são monitoradas na Serra do Mar paranaense
Nove adultos e um filhote estão sendo acompanhados pelo Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar. Primeiro registro ocorreu em 2018 →