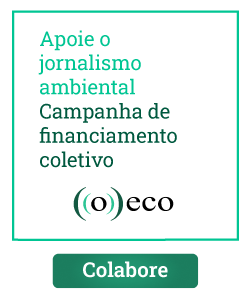Um pouco da história das negociações internacionais em relação às mudanças climáticas e os limites das relações multilaterais foram um dos temas principais da conversa entre o geógrafo Bruno Araújo e a coordenadora do Programa de Justiça Socioambiental da Fundação Heinrich Böll Brasil, Maureen Santos, para o Podcast Planeta A. Além disso, movimentos sociais na luta climática e atuação dos BRICS também foram tópicos da discussão.
“Os atores da destruição são os atores da solução. Isso embaralha muito na cabeça das pessoas. Então a sociedade civil é importante para a denúncia e para o anúncio também. O que a gente traz de proposta concreta para mexer com esse modelo”, disse Maureen ao tratar da presença de empresas poluidoras em eventos como a COP e da importância do papel da sociedade civil nestas conferências.
Segundo ela, nos últimos anos a questão climática passou a ser algo no qual empresas estão olhando com a visão capitalista e mercadológica, o que dificulta ainda mais as discussões internacionais. “Então isso tudo gera um negócio, a questão do clima deixa de ser algo ligado a uma agenda ecológica, de crise ambiental, e passa a ser uma agenda mais voltada para os negócios. E essa agenda que acaba gerando esse tipo de mecanismo como a gente falou há pouco tempo, sobre a emissão líquida, sobre o mercado de carbono, transições que não têm fim, soluções tecnológicas que se tiram… parece um mágico tirando o ilusionismo do papel”, argumentou.
Maureen Santos é cientista política e ecologista. Além de coordenadora do Programa de Justiça Socioambiental da Fundação Heinrich Böll Brasil, é professora da graduação em Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e pesquisadora da Plataforma Socioambiental do BRICS Policy Center. De 2003 a 2013, dedicou seu trabalho à Ong FASE (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional), realizando formação de base, educação popular e construção de redes e articulações sobre comércio internacional, integração regional, meio ambiente e mudanças climáticas. Monitora as negociações da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) desde 2008, em especial o tema de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD) e Agricultura.
Escute o episódio completo do podcast Planeta A no link.
Confira a entrevista abaixo:
Bruno Araújo: A discussão ambiental hoje ganhou muitos contornos, muita relevância. O impacto de um evento climático extremo no Rio Grande do Sul reacendeu no Brasil essa discussão. Mas quando e por quais motivos a questão ambiental passa a se tornar algo relevante que merece a atenção dos agentes internacionais?
Maureen Santos: Tem um período durante a Primeira, Segunda Guerra e com a Guerra Fria, a discussão de segurança internacional sempre era o mainstream dentro das relações internacionais. Então, não se tinha muita chance dos países, ou mesmo das Nações Unidas, pautarem temas como combate à pobreza ou redução da fome.
E a própria discussão ambiental ficava sempre como algo não tão importante. E isso começa a mudar de figura já no fimzinho da Guerra Fria. Ainda que a gente tenha um marco importante, que é a Conferência de Estocolmo de 1972, que foi uma primeira tentativa de que os países pudessem também encarar essa perspectiva ambiental, do ponto de vista das tragédias, dos desastres, da perda de recursos – ainda com esse nome – de recursos naturais e outros temas que estavam preocupando, inicialmente, muitos países do Norte, que naquele momento se chamava ainda países do Primeiro Mundo. Mas os países do chamado Terceiro Mundo ainda não estavam muito ligados nessa agenda, até porque se tinha uma prioridade muito principal, que já era em relação ao debate da economia, do crescimento, do desenvolvimento, eles tinham outras questões.
Então acho que tem esse marco do final dos anos 60 com um debate a partir da academia relacionado a isso. A criação de grandes organizações não governamentais ligadas à temática do preservacionismo, como o Greenpeace, WWF, entre outros, criados nos anos 70, além de partidos políticos como o Partido Verde na Alemanha, que também foi criado nessa época. E marcando mais as Nações Unidas mesmo, já na década de 90, com o fim da Guerra Fria, temos um marco mais preciso, ainda que 72 seja um momento para a governança muito importante.
O que é a Conferência das Partes da ONU? Qual foi a primeira? Quando foi a primeira? Conta um pouco deste histórico.
Depois de 1972, 20 anos depois, no Rio de Janeiro, houve uma Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a Rio 92. Nessa conferência, os países, aprovam três convenções, e uma dessas convenções é a Convenção do Tratado Internacional, que ele é ratificado pelos membros que assinam essa convenção, e ela dita uma norma dentro do direito internacional. Então, uma das convenções foi a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Essa convenção, então, é assinada em 92, e a primeira COP dela é em 95, a primeira Conferência das Partes. E aí, o que é essa COP que está todo mundo falando agora? Parte de quê? São essas partes da Convenção de Clima.
Então, atualmente, acho que são praticamente todos os estados do mundo, são 196 países, se eu não me engano, que são as partes desta convenção e ela tem um órgão máximo, que é a COP. Então, para você tomar qualquer decisão dentro do processo da convenção e dos seus tratados subsidiários, dos seus tratados de implementação, no caso da UNFCCC, que é essa convenção, é o Protocolo de Quioto, que está terminando, já era para ter terminado seus trabalhos, mas está finalizando, e o Acordo de Paris. Então, numa COP, você reúne as partes da convenção, as partes do Protocolo de Quioto, e as partes do Acordo de Paris.
E é justamente sobre esses grandes acordos, essas conclusões, esses documentos finais dessas conferências que eu quero te perguntar agora. Porque algumas dessas conferências são muito marcantes. Por exemplo, a Rio 92 fez a Agenda 21, o Protocolo de Quioto na COP3 em 1997, o Acordo de Paris na COP21 em 2015. Do que tratam esses acordos e como é que eles contribuem, ou não, para o enfrentamento à crise climática?
A Rio 92 foi uma Conferência das Nações Unidas, ela não é uma COP. Isso é importante de diferenciar. Dentro dessa Governança Ambiental, você tem o Marco de 72, que é a Conferência de Estocolmo, aí tem 92 com o Rio de Janeiro, depois tem Joanesburgo, depois tem a Rio mais 20, que foi no Rio de Janeiro de novo. Então, isso tudo são Conferências das Nações Unidas, no qual a Assembleia Geral, vai propor e os seus espaços de Governança Ambiental, que agora é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que mudou na Rio mais 20, eles vão implementar uma Conferência e ali podem ser abordadas novas tratativas.
Então, em 92 foram assinadas essas três, como eu mencionei, e uma delas é de Clima, as outras, uma é de Desertificação e outra é de Diversidade Biológica. Nessa de Clima, o órgão máximo é a COP, as outras também são. Então, já temos 29 COPs. E não necessariamente em toda Conferência das Partes, tem que se assinar um tratado. Primeiro que demora a negociação. E o tratado serve para quê? Quando ele está dentro de uma Convenção, ele serve para implementar a Convenção. A Convenção é como se fosse quando você tem uma lei, você aprova a lei, mas você precisa de instrumentos para implementar essa lei.
Então, é a mesma coisa, a Convenção é como se fosse a lei geral e você precisa de outros tratados para você poder implementar partes fundamentais dessa implementação. No caso do Protocolo de Kyoto, ele foi considerado como se fosse um tratado intermediário. Por quê? Porque ele só tinha obrigação vinculante para uma parte dos membros devido ao princípio de responsabilidade histórica. Então, esse reconhecimento fazia com que esses membros que poluíram mais e que geraram a crise climática, eles deveriam assumir primeiro responsabilidade de financiamento, responsabilidade de meta, de redução de emissão, transferência de tecnologia. E o Acordo de Paris, ele traz já uma obrigação vinculante para todos os membros, ainda que seja através de metas voluntárias. Mas é uma meta voluntária que, a partir do momento que você entrega, ela fica vinculante, já que esses países precisaram ratificar a sua entrada no acordo.
Falando em COP, ainda, o resultado acumulado da COP 28, que foi realizada em 2023 em Dubai, leva o planeta a um aumento de mais de 2 graus Celsius na temperatura média. Muito acima do que, na verdade, é o limite do Acordo de Paris. Já foram 28 conferências, em quais aspectos você acha que a gente caminhou mais?
Para as relações internacionais, eu nunca vou para uma COP com grandes expectativas de resultados, a não ser que aquela COP seja igual a de Paris, em que realmente se tinha um objetivo de sair com um acordo dali. Assim como foi em Copenhague 2009, onde você também tinha uma expectativa de sair com um acordo global. Teve um fracasso, de certa forma, em Copenhague, mas em Paris eles conseguiram aprovar.
Mas todo ano, quando você tem uma conferência, ela vai dialogar muito mais sobre os pontos, seja da implementação, seja de revisão, seja de regras que vão precisar ser aprofundadas… Então não se tem grandes mudanças de cenário. O que efetivamente precisa se atacar é a questão da vontade política. Até que ponto aquelas partes têm uma vontade política expressiva para propor algo que seja muito ambicioso e mudar aquele quadro geral? Mas efetivamente, pelos limites da própria formulação dessa convenção e por ser um órgão, ainda que seja um tratado internacional, assim como todos os outros ambientais, você tem uma obrigatoriedade se ele for ratificado, mas ao mesmo tempo você não tem.
As medidas de observância deste tratado são muito frágeis, muito relativas, não existe uma grande, com exceção de talvez criar constrangimento público. E o tema do clima é muito complexo, diferente de outras convenções internacionais, como por exemplo a convenção sobre a proteção da camada de ozônio, que é a convenção de Viena. Quando foi criado o protocolo de Montreal, ele foi antes do protocolo de Quioto. O protocolo de Montreal era muito focado, você tinha algumas substâncias que geravam a redução da camada de ozônio, essas substâncias iam começar a entrar num processo de proibição. Então para você parar de usar o CFC, ia ser proibido, ia ter lá um cronograma de transição, essa transição industrial deveria ser feita nos países e eles receberam dinheiro de um fundo multilateral para isso. Então isso é muito focado, muito concreto.
Na discussão de clima, você tem vários debates, tem mitigação, tem adaptação, tem transferência de tecnologia, tem meios de implementação… Então assim, você vai aglomerando tantas camadas, e numa forma, e num debate que, isso eu acho que tem a ver com a sociedade como um todo, que não consegue olhar a questão ambiental como uma prioridade, não só ambiental, socioambiental, como uma prioridade que tem a ver com a vida das pessoas. É sobre você, a sua sobrevivência como uma espécie nesse planeta. Eu sempre brinco quando eu vejo que as pessoas às vezes colocam “vamos salvar o planeta”. Não, você não vai salvar o planeta, você vai salvar a humanidade e outras espécies que estão em risco com a mudança do clima, porque o planeta, ele vai continuar.
Ele pode não continuar com as mesmas características que possibilitam esse tipo de vida dessa espécie, mas ele vai continuar. Essa consciência às vezes fica no nível muito da consciência individual, ela não serve para pensar coletivamente como você vai mudar, porque você precisa dos estados. Não dá para você ter só iniciativas, que esses estados não vão tomar alguma consequência. E você precisa também de ações que vão levar os atores que estão provocando esse problema. Então a gente fala, quem são os principais emissores? São os estados. Mas o que tem dentro do estado que provoca essa emissão? As corporações. Então se o estado não toma medidas concretas para taxar a corporação, para acabar com certos setores de exploração de bens comuns e uma série de outras medidas, como vai resolver o problema?
A gente vê muitas críticas aos acúmulos dessas convenções, tanto ao mercado de carbono quanto ao RED, a financeirização da natureza e os outros dispositivos que não saem, os fundos, etc. Se os tratados fossem cumpridos à risca pelos países, estaríamos num cenário melhor, mas a gente estaria num cenário que nos tiraria do caminho da barbárie, na sua opinião?
Eu acho que ainda está muito longe. Mesmo o acordo de Paris cria um objetivo de um grau e meio, na verdade, esse nem é o objetivo dele, o objetivo é dois graus, com esforços para se limitar em um grau e meio, que já é um esforço que a gente já atingiu no ano passado, já teve dias que a média da temperatura global chegou nessa medida. Então esse target, essa meta, ela já está com dias contados.
Mas ao mesmo tempo, você tem outros processos que deveriam também ser focados nessa direção. E tem um eixo, que você até mencionou, a financeirização da natureza, eixo que talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem, porque se fala muito da ambição dos países, mas aí tem um debate de fundo. Que ambição? O que é ambição? É uma ambição que vai gerar energia renovável, mas vai destruir uma série de comunidades? Ou é uma ambição que vai gerar energia renovável para alimentar indústria siderúrgica e de alumínio, e as pessoas que precisam de energia elétrica ainda não têm direito a acessar essa energia? Então, qual é essa ambição? De que tipo de ambição climática a gente está falando?
E aí, esse eixo das soluções, e não necessariamente, às vezes, a gente precisa de tratado vinculante para incluir, várias dessas propostas são acordos, né? As COPs vão aprovando acordos e alguns deles são necessários, como o Acordo de Paris. A própria questão do RED, que tem um marco de Varsóvia sobre redução de emissões por desmatamento e degradação, isso tem sido implementado. O Brasil é um dos países que têm políticas de RED desde o fundo Amazônia, que na verdade até anterior ao marco de Varsóvia, que apoiam pagamento por resultado e você tem também o mercado de carbono que foi oficializado no protocolo de Kyoto.
Diferente desse marco de RED de pagamento por resultado, quer dizer, você recebe recurso e você mostra o resultado de redução de desmatamento. No caso do protocolo de Kyoto, ele vem com argumento de transição. No sentido de que países precisam de um tempo para poder cortar as suas emissões reais e ter uma ambição, só que essa transição me parece que é uma transição eterna. Porque ele foi criado na convenção, já no protocolo de Kyoto, e a gente continua falando disso como se fosse uma novidade política nessa implementação dessa convenção. O acordo de Paris incorpora isso no artigo 6. Além de incorporar no artigo 6, você tem agora as emissões líquidas zero, que a grande parte desse debate de emissão líquida zero é através de utilização de compensação por mercado de carbono.
Então, é compensação florestal. Você está emitindo de um lado, nível industrial, você compensa aquela emissão com florestas. Então, isso tudo acaba trazendo um adiamento. Então, pode ser que a ambição daquele país seja grande, mas se essa ambição é líquida, porque ela é baseada numa emissão líquida, não necessariamente aquela ambição ela vai ser feita por aquele país. Ele pode estar dando mais trabalho para outros países fazerem. E esses outros países, em geral, são países do sul, que têm interesse em receber recursos financeiros para vender carbono. Ou para criar o carbono azul das algas. Ou para fazer experimentos de geoengenharia que países do norte não querem fazer, porque, em geral, monocultivo está no país do sul.
Então, assim, se a gente não tem, primeiro, um olhar sobre essa complexidade de qual é o modelo que essa ambição está falando, a gente vai continuar dizendo “ah, os países têm que ter uma ambição, tem que chegar na COP e cortar suas emissões”. Mas espera lá. A base desse corte está muito enraizada no modelo de desenvolvimento que não deveria ser o modelo de desenvolvimento que a gente está querendo para o futuro. Porque com esse tipo de, a gente chama até de distrações, são distrações climáticas, são distrações, porque eles acabam perdendo uma oportunidade. Então, eu acho que esse é um debate de fundo, que é muito importante, mas que ele quase não tem lugar, quase não tem espaço nessas discussões, e que a gente precisa sempre recolocá-los e sempre lembrar de que é necessário fazer uma revisão muito mais profunda do que uma revisão de se eu vou cortar 10 ou 15% das minhas metas. Porque depende de como é que você vai implementar essa meta. A questão da implementação, ela é fundamental para poder escolher também o valor.
Uma análise publicada no dia 5 de dezembro do ano passado, pela coalizão Kick Big Polluters Out, mostrou que pelo menos 2.456 lobistas tiveram acesso à COP 28 em Dubai. Esse número é 7,7 vezes maior do que o de representantes indígenas oficiais, que foram 316. Como você observa esse aumento considerável de interesse na COP?
Tanto do ponto de vista dos lobistas, que já estavam presentes antes, mas que com um número cada vez mais exacerbado, mas também o interesse da sociedade. Na conferência em Dubai, o Brasil mandou um número recorde de participação social.
Eu achei esse número de lobistas muito pequeno. Talvez esse levantamento tenha sido considerado, porque você tem alguns países que têm leis onde o trabalho de lobista é regulado. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o trabalho de lobista, você é lobista do Congresso. Então isso é regulado. Em outros países não. Com isso você dificulta, por exemplo, diferenciar. No Brasil, a gente não tem uma categoria lobista. Então esse número para mim, ele deve ser infinitamente menor do que o número real.
A gente teve em Dubai, 89 mil pessoas, eu acho. Acho que tinham mais de 100 mil inscritos e foram uns 80, quase 90 mil. Desse número todo, menos de 3 mil ser lobista, me parece estranho, porque efetivamente o tema da moda é mudança climática. Então as empresas todas, seja porque elas precisam, existe uma demanda de consumidor para se falar disso, ou pelo menos se pontuar, ou porque obviamente é um problema muito real que está batendo na porta, mas também porque cada vez mais instituições financeiras vêm exigindo indicadores ligados a isso. Essa discussão de perdas e danos que tem a ver com o desastre do sul do Brasil, no Brasil ainda é muito recente.
Outros países já trazem essa agenda há muito mais tempo. O Brasil nunca esteve envolvido com essa agenda. E quem era o principal grupo interessado nessa discussão, para além das ilhas insulares, eram as agências de seguro e resseguro. As agências de avaliação de risco. E por quê? Porque são elas que estão criando todo um mercado, isso a gente já está falando há mais de 15 anos, em relação a esses desastres climáticos. Foi ridículo agora, no sul do Brasil, eles contrataram a McKinsey para fazer o gerenciamento do risco, das avaliações dos danos, com uma quantidade de universidades brasileiras que tem uma série de núcleos de pesquisa ligados a essa área.
A própria COPPE aqui no Rio de Janeiro nós não contratamos. Nós contratamos uma empresa americana que é muito famosa por conta desse tipo de trabalho. Então isso tudo gera um negócio, a questão do clima deixa de ser algo ligado a uma agenda ecológica, de crise ambiental, e passa a ser uma agenda mais voltada para os negócios. E essa agenda voltada para os negócios que acaba gerando esse tipo de mecanismo como a gente falou há pouco tempo, sobre a emissão líquida, sobre o mercado de carbono, transições que não têm fim, soluções tecnológicas que se tiram… Aparece um mágico tirando o ilusionismo do papel. Assim, é uma loucura. Cada coisa que a gente vê ali, se tudo aquilo funcionasse seria maravilhoso, mas teve uma COP, agora eu já não estou me lembrando se foi a de Paris ou um ano antes, que eu chegava no pavilhão da União Europeia, e via aquele Towards 1.5 Degrees Celsius. Eu achei aquilo tão estranho, a União Europeia está puxando a agenda do 1,5? E eu andava mais um pouquinho e vinha um outro, eu falei, o que será? Mas isso tem a ver com perdas e danos, tem a ver com outras iniciativas que geram interesse, aí você começa a conseguir conceber essa movimentação desses lobistas. Acho que foi a COP que mais teve presença indígena, os indígenas brasileiros vêm fazendo um ótimo trabalho do ponto de vista de conseguir, desde o Acordo de Paris, conquistas concretas para dentro da Convenção.
Agora você tem uma plataforma indígena, de comunidades locais, você tem outros processos que eles têm conseguido dar uma visibilidade para essa causa, e no caso brasileiro, dar visibilidade para algumas causas nacionais, chamando a atenção da empresa estrangeira, própria discussão do marco temporal. Mas você tem outros grupos da sociedade civil, sejam eles de população tradicional, agora acho que o Quilombolas estão indo também para o mesmo caminho, de trazer a pauta do racismo estrutural, do racismo ambiental,
Eu acho que a gente está num momento tão grave no qual esse debate climático implica também uma mudança de consciência sobre não só o que você faz ou o que você demanda, não só sobre a pegada ecológica… Para além dessa questão, das emissões, mas você está indo com qualquer coerência, você está indo lá fazer o que? E o que isso tem a ver com o processo de mudança para dentro? Então, eu acho que falta um pouco, por isso também a participação do Brasil, ela é muito expressiva, mas efetivamente a gente pensar da onde que vem tanto esse recurso. Porque que essas agendas, às vezes, não apresentam, com a exceção de alguns movimentos sociais que conseguiram transformar a sua pauta nacional numa pauta internacional, como o exemplo dos indígenas quilombolas, o movimento negro também fez coisas muito interessantes, mas eu vejo o movimento ambientalista, com algumas exceções, com muita dificuldade de pensar uma pauta para além de fazer um evento num espaço brasileiro que as pessoas vão falar português numa COP. É importante ocupar o espaço brasileiro? Claro que é. Mas você está num evento internacional, então como pensar uma estratégia internacional, coletiva, que você conecte as outras organizações internacionais com a sua e dali sai um resultado muito mais de peso? Como é que a gente pensa algo político mesmo? Que essa participação seja efetiva do ponto de vista político também? Eu acho que é uma reflexão e isso não é só para o debate de lobistas das empresas. Eu acho que tem a ver também com esse debate na própria sociedade civil brasileira.
De fato, acho que há um certo fetichismo com os encontros internacionais e acho também que há uma confusão justamente no objetivo que se tem ao ir para essa conferência. Não é uma viagem que você vai fazer para aproveitar o espaço da conferência, tipo uma Bienal do livro ou uma feira como essa, você vai lá para fazer negociação internacional e os agentes da negociação são os estados, não é a sociedade civil. Com essa fala, eu queria elencar a próxima pergunta que tem a ver com isso. Se a conferência das partes da ONU é uma conferência dos estados, de que maneira a sociedade civil tem se organizado internacionalmente? A Rio+20 teve a presença da cúpula dos povos, houve no Brasil também, em Porto Alegre na década retrasada, o Fórum Social Mundial… De que maneira a sociedade e a classe trabalhadora tem se organizado internacionalmente para fazer essa discussão que hoje é feita majoritariamente nesses espaços da ONU?
Eu me senti muito velha agora quando você falou na década retrasada, pior que é mesmo. O Fórum Social Mundial foi já na primeira década dos 2000. Então a gente está agora nessa construção do processo de cúpula dos povos para a COP 30 exatamente porque um pouco dessa visão de que a sociedade civil, claro que ela é fundamental nesses espaços, mas ela precisa ir organizada, ela precisa ir com eixo, com convergência, porque senão fica cada um por si e disputando os espaços que não necessariamente deveriam ser de algumas organizações, mas de outros, dos sujeitos coletivos. Então quando eu reforço a participação indígena, quilombola, do movimento negro, é porque são sujeitos coletivos. Eu sinto muita falta, por exemplo, de se ter uma ação muito mais efetiva dos movimentos sociais do campo para dentro, para o debate da agricultura.
Você tem a Via Campesina Internacional, mas os outros membros da Via Campesina em geral não tem uma participação grande nessa COP, mas o tema da agricultura é fundamental, da soberania alimentar. Não é só do ponto de vista do impacto, mas para você fazer a denúncia também dessas corporações, porque se você não está lá dentro, de alguma forma, nem que seja para constranger, isso acaba gerando espaço para que a Syngenta tenha um side event dentro do espaço Brasil. A Braskem também. Tinha dois, só que com o escândalo que foi logo na mesma semana, eles acabaram recuando e cancelaram o evento. Mas isso é uma grande vergonha. Então nesse tipo de espaço, ter a sociedade civil lá é muito importante para esse tipo de ação.
Em relação ao evento da Vale, você tinha organizações que deram um escracho ali que foi positivo pra caramba. Como assim a Vale está sendo a grande solucionadora da crise climática em relação à mineração? Uma grande mineradora com dois passíveis ambientais gravíssimos, seja Mariana, seja Brumadinho. E agora ela vem com essa onda do Banco Mundial de mineração climaticamente inteligente? Então isso é muito grande. Porque os atores da destruição são os atores da solução. Isso embaralha muito na cabeça das pessoas. Então a sociedade civil é importante para a denúncia e para o anúncio também. O que a gente traz de proposta concreta para mexer com esse modelo.
Falando sobre COP, essa próxima COP 29 [O podcast foi lançado em outubro de 2024, antes da COP 29] que vai acontecer no Azerbaijão, quais são as expectativas para ela e o que vai sobrar para a COP 30?
A gente fica vendo que o Brasil está tomando um pouco dos holofotes. Então isso para a COP do Azerbaijão é meio ruim, ainda que o governo brasileiro esseja super respeitoso, tem toda essa proposta da Troika que junta os Emirados com o Azerbaijão e agora o Brasil. Então que seja um alinhamento de presidência de COP, que eu acho que é a primeira vez que a gente vê algo tão concreto. Então isso é até uma novidade para o processo oficial. Mas ao mesmo tempo, no Brasil sempre tem uma expectativa maior.
Primeiro porque o Brasil do ponto de vista, não só por causa da Amazônia, tem questões naturais, o próprio governo Lula que traz uma outra visão de política externa diferente daquela política terrível, conservadora anterior e ao mesmo tempo você tem uma sociedade civil muito vibrante no Brasil. E isso traz também expectativas muito grandes sobre o que essa sociedade civil vai fazer. Exatamente aquela pergunta que você trouxe do Fórum Social Mundial, das cúpulas dos povos. Então isso traz um olhar muito maior. E no caso do Azerbaijão, se você pensar, sociedade civil em países que tem um governo extremamente conservador, uma série de outras coisas, é muito mais difícil. Você tem sociedade civil progressista, você tem até tem, mas você tem elas muito mais ligadas a políticas de direita, sem direitos que não tragam uma agenda muito progressista para dentro da COP.
Então está se olhando muito mais para uma agenda oficial, o debate do financiamento é o eixo chave para esse ano. Espera-se chegar nesse chamado mapa do caminho onde vai qual que é o valor. Então várias campanhas até da sociedade civil global elas estão olhando para essa questão do dinheiro, qual é o valor que deveria ser levantado para o financiamento climático justo, não um financiamento climático a qualquer custo. E ao mesmo tempo de relação com a questão de limitar as emissões e parar com as emissões fósseis. Então você tem também uma relação com esse outro debate. Eu vejo que isso é muito concreto esse ano. Para o ano que vem a gente tem as NDCs, que os países vão ter que entregar.
2025 é o primeiro ano onde você tem a primeira revisão dessas NDCs oficialmente. As NDCs são as metas voluntárias de redução de emissão de gases do efeito estufa, ou o que cada país pretende fazer para frear a crise climática. Elas tiveram algumas mudanças pequenas, mas a ideia é entregar uma NDC completamente nova, mais ambiciosa, etc, em relação à anterior. E ao mesmo tempo inaugura aqui para o Brasil alguns temas que parece que o governo brasileiro está trazendo. Ainda não está muito concreto. Acho que na negociação tem a agenda de transição justa, que vai ser um tema importante para sair alguma coisa dentro do processo oficial. Mas para a agenda da presidência brasileira tem todo o debate das florestas, dessa iniciativa de florestas tropicais.
Vai ser um espaço importante, porque é um ano antes também do debate eleitoral, então como é que isso vai mexer aí com as políticas públicas? Com o olhar da sociedade sobre essa agenda? Como é que você vai publicizar essa agenda do clima como algo fundamental para que todo mundo esteja atento?
Você fez parte da construção da Carta de Belém. Queria que você falasse um pouquinho dela, em que momento histórico que se deu essa construção? Tendo em vista que ano que vem a gente vai para Belém com uma discussão sobre clima, resgatar esse histórico de luta.
Isso foi em 2008, 2009, especialmente no início de 2009, a gente percebia que faltava um debate na sociedade brasileira sobre florestas e mercado de carbono, porque parecia que todas as organizações eram uníssonas de apoiar você fazer crédito de carbono florestal.
E na verdade você tem uma série de movimentos e organizações sociais que estavam muito preocupadas com a forma como esse mercado, no caso voluntário, estava chegando. Os territórios estavam repetindo algo que a gente já falava em 2009. E daí a gente fez um seminário, um grupo de várias organizações e movimentos. Fizemos um seminário em Belém, um seminário nacional, no qual a gente discutia a questão das florestas e do mercado de carbono. O RED, naquele momento, também estava em discussão na negociação. E se isso era bom para a Amazônia? Tinha uma pergunta. Mas o mercado de carbono, o que é? A base dele é você ter uma meta para reduzir, ou você cria essa meta, ou essa meta é obrigatória, ou por conta de uma série de diretrizes que uma empresa pode ter, ou porque o Estado assinou um protocolo de que outro precisa de reduzir essa emissão.
Só que em vez dele reduzir do ponto de vista concreto da sua economia, setorialmente, um setor de energia, de transporte ou de floresta para reduzir o desmatamento, ele pode comprar o crédito de redução de emissões de um outro país que teria crédito para vender. Seja porque ele não emite muito, então ele pode gerar mais, ou porque ele não tem cota de emissão, enfim, tem várias razões. E aí nessa época tinha muita pressão dos Estados da Amazônia Legal para o governo, o governo nunca quis entrar com essa lógica para a negociação, e aí tinha uma pressão muito grande dos Estados da Amazônia Legal, e aí com esse seminário a gente aprovou uma carta final do seminário que foi chamada de Carta de Belém.
Tinha em torno de 50 organizações signatárias e isso foi tão fundamental para pressionar o governo a não abrir para essa negociação e fazer um contraponto aos subnacionais e um contraponto a alguns ambientalistas que queriam a abertura de mercado de carbono florestal que isso se transformou numa coalizão. É um grupo contra-hegemônico do ponto de vista de trazer uma agenda de pressão na política externa brasileira para manter o interesse nacional de proteção, não só das florestas, porque era importante, mas você ter um olhar para as populações locais, o que esse tipo de mercado poderia impactar, e você abrindo internações, internacionalmente, você poderia abrir uma porteira, literalmente, para esses projetos voluntários, mas ao mesmo tempo segurando um pouco intenções de estado federativo, dos estados da federação, que não eram intenções para fazer política pública real de beneficiamento dessas comunidades, dessas populações, mas sim para “o que eu posso ganhar com esse tema? Eu tenho um monte de florestas e o que eu posso ganhar com isso?” E isso estava longe de um debate sobre conservacionismo, sobre direitos, da terra e território, porque o que a gente sempre fala: demarca a terra indígena, titula a terra quilombola, de populações, regulariza a terra de população tradicional, que é onde está 80% da biodiversidade no mundo inteiro. Ali você vai ter uma medida real de política pública que vai enfrentar a mudança do clima, que vai enfrentar essas crises que a gente tem.
E agora, a última pergunta vem do nosso editor, inclusive, Matheus. Vou fazer as duas em uma. A China tem a iniciativa da Rota da Seda, que é um programa de investimento, uma iniciativa de investimentos internacionais, e os BRICS têm o seu próprio banco. Queria que você falasse um pouco sobre o papel desse grupo e desses países individualmente também dentro dessa balança global. Como você enxerga o papel desse grupo de países, da articulação que existe para o enfrentamento à crise climática?
Eu acho que pode fazer muito mais. O BRICS não entra muito nessa temática com o BRICS. Você tem ações nacionais que são muito conectadas, às vezes, com alguma agenda de política externa. Isso depende muito do país que vai ser analisado. Mas, lá na plataforma de sanção ambiental, a gente tem uma pesquisa que está renovando esse debate de ambição climática dos países BRICS. Vai sair agora em setembro. E, ao mesmo tempo, você tem esses novos membros. E a grande maioria deles são ligados à indústria do petróleo.
Por um lado, eu concordo com o argumento, foi até o Lula que trouxe isso, de que você precisa conversar com quem precisa fazer transição energética. Se você vira as costas para essa turma, eles vão continuar fazendo o que eles querem. E eles têm muito dinheiro. Então, esse dinheiro deveria efetivamente ser aplicado na ideia de uma transição justa. Mas como as medidas do modelo são tão injustas, a gente sempre fica naquele debate sobre o ovo e a galinha. É muito complicado. Você precisa daquilo, você quer fazer, mas, ao menos, no tempo, a medida que é implementada é uma medida que vai piorar mais a degradação ambiental. Ou a transição energética está baseada em minerais raros que vão acabar impactando de novo o sul global. Então, assim, a gente precisa enfrentar essas discussões.
Enfrentar, acho que dentro do BRICS, é ter energia e disposição para que esses países possam enfrentar essa realidade, porque eles são fundamentais também nessa transição. A China tem feito muita coisa internamente, mas tudo é muito mais difícil de se ver. E essa meta dela para o ano que vem vai ser muito importante para avaliar qual é a disposição real da China de enfrentamento coletivo do problema. Efetivamente, se a China não entra, a gente não vai ter um enfrentamento real. A gente precisa que a China esteja disposta a não só ter um corte concreto, efetivo e rápido nessa transição energética, que eu espero que seja justa, mas está muito longe de ser, mas que a China também coloque dinheiro, porque ela tem investido, você falou da Rota da Seda, ela tem investido muito em infraestrutura. Toda essa infraestrutura demanda minerais, assim, que você está acabando com vários países, com essa demanda absurda por minerais. Então, essa infraestrutura também tem que estar em nome de quê? Estar em nome de explorar mais soja? De produzir mais ração animal para a pecuária, para a produção de carne?
Leia também

Governo suspende licitação de dragagem no Tapajós após mobilizações indígenas em Santarém
Após protestos em Santarém, governo suspende pregão de dragagem e promete consulta a povos indígenas do Tapajós →

Fotógrafo brasileiro vence prêmio internacional com ensaio sobre água e identidade
João Alberes, de 23 anos, conquista espaço no ambiente da fotografia documental, e projeta o agreste pernambucano como território de produção artística contemporânea →

Pela 1ª vez, ICMBio flagra onça pintada caçando em unidade do Acre
Registro foi feito às margens do Rio Acre, em uma das áreas mais protegidas da Amazônia. Onça tentava predar um porco-do-mato perto da base do Instituto →