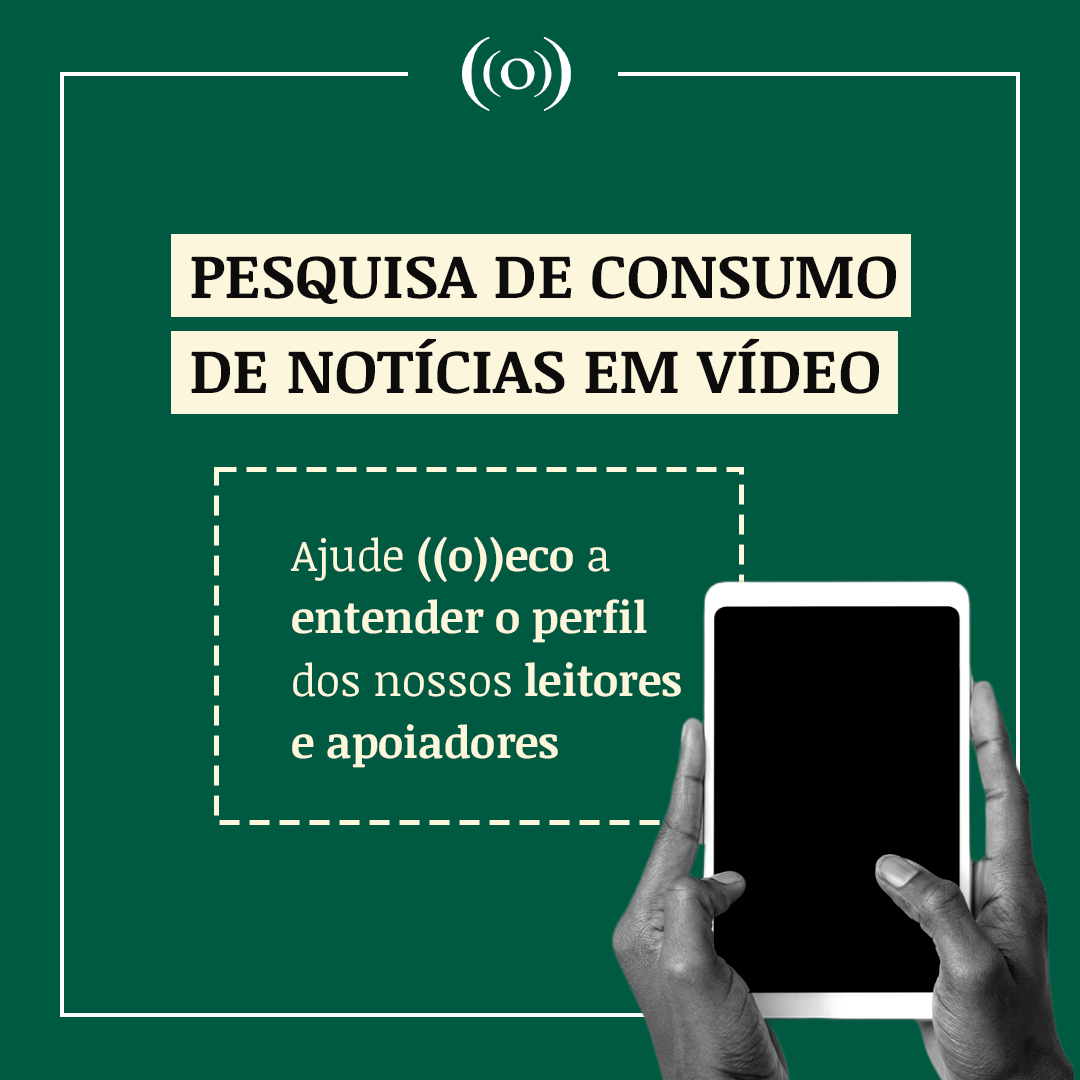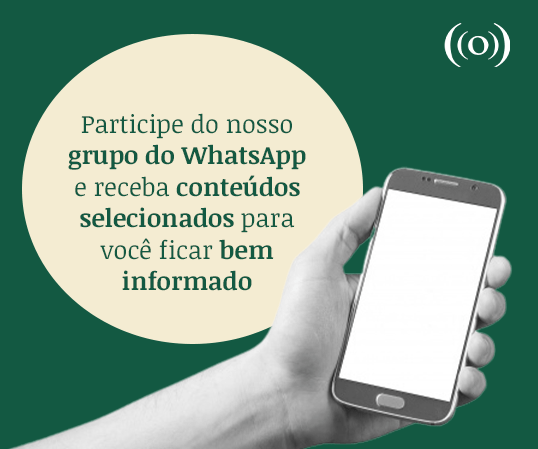Quem comemorou o resultado final da COP 13, em Bali, tem razão. Quem diz que foi um final frustrante e que não sinaliza a possibilidade de um acordo para o pós-Kyoto, com o alcance necessário para induzir políticas que levem à transição para uma economia de baixo carbono, também tem razão. Parece contraditório, mas não é. O que concilia essas duas conclusões é o modelo de decisão da Convenção do Clima.
Os relatos que chegam de Bali sobre as últimas horas de negociações, quando o presidente da Indonésia fez um duro discurso para os ministros dos 188 países e o secretário-geral da ONU, interrompendo viagem ao Timor-Leste, mostra um vigor inesperado diante das partes signatárias da Convenção do Clima, falam em tensão e quebra de impasse. É revelador que, para um resultado tão modesto, tenha sido necessário tanto esforço político e diplomático, tanto drama. Esses resultados sempre insatisfatórios se explicam porque o objetivo do processo decisório, pelas regras da Convenção que são típicas da ONU, é eliminar impasses e não maximizar a eficácia das ações ou atingir metas necessárias e suficientes para enfrentar o problema em discussão. Somos obrigados a comemorar porque a COP não terminou em impasse definitivo, em fracasso.
São 188 países, todos com poder de veto, porque as decisões têm que ser por consenso. As possibilidades de coalizões de veto são, matematicamente, enormes. Com esse número de “jogadores”, mesmo que se estabeleça como condição para “coalizões aceitáveis” de veto, somente aquelas que tenham pelo menos um “grande jogador” – EUA, Europa (ou qualquer um de seus membros mais importantes), Rússia, Japão, China, Índia, Brasil, Canadá, Austrália, África do Sul, Indonésia – o número de alianças que se pode organizar para bloquear decisões é imenso. É um problema de análise combinatória relativamente elementar. O resultado final é que a probabilidade de que esse processo de remoção de vetos resulte em um acordo com metas robustas, próximas às que a ciência indica como necessárias para mitigar o aquecimento global, é muito pequena, muito próxima de zero.
Não estou desmerecendo a ousadia do presidente Indonésio – que poderia muito bem usá-la para conter o desmatamento em seu país – nem o inesperado vigor independente do secretário-geral Ban Ki-Moon, ainda que tenha retornado a Bali impulsionado pela experiente influência do ex-presidente Socialista chileno, Ricardo Lagos. Nem desvalorizo o fato de que a delegação do EUA foi forçada pela pressão européia a remover o veto ao “mapa do caminho”. Mapa que Bali teria forçosamente que aprovar, sob o risco de ficarmos sem enquadramento institucional mínimo para continuar as negociações em 2008 e 2009. Nem desmereço a abertura brasileira para a inclusão da preservação das florestas tropicais no mapa de cogitações, de modo distinto do que defendia.
Mas é preciso colocar em perspectiva as decisões tomadas em Bali, depois do tempo regulamentar, em clima de nervosismo, tensão e com grandes momentos de embate diplomático. Três delas foram importantes. Em primeiro lugar, a própria existência de um “mapa do caminho”, termo inadequado para uma formalidade diplomática, porém crítica para o prosseguimento das negociações. Como havia argumentado, na ante-véspera do acordo, o secretário-executivo da Convenção, Ivo de Boer, sem um acordo de balizamento para essas negociações, só restariam as regras da Convenção do Clima, que apenas reconhecem as políticas nacionais, não abrigam a idéia de um acordo global. Até porque, na COP 11, em Montreal, já haviam sido oficialmente encerradas as negociações no quadro do Protocolo de Kyoto. As novas regras do jogo deveriam ter sido aprovadas em Nairobi, na COP 12, mas a reunião terminou em impasse e o compromisso final empurrou a decisão sobre o “roadmap” para Bali. Era, portanto, um pré-requisito, um imperativo para que o impasse não se tornasse um obstáculo definitivo a qualquer avanço, exigindo um esforço diplomático muito maior e mais penoso para chegar a um novo enquadramento institucional para substituir o Protocolo de Kyoto.
Outro pré-requisito crítico, era a aceitação formal pelo governo do EUA desse novo esboço de acordo. Sem o aceite do EUA, não haveria o “mapa do caminho”, fechando as portas para a continuidade das negociações no fórum da Convenção do Clima. Mas, para essa concessão, foi preciso aguar a resolução final. Ela não interrompe o jogo, mas tampouco dá qualquer chute inicial, nem indica como se chegar ao objetivo final dessas negociações, que permaneceu difuso como queria a maioria dos que vinham vetando uma decisão mais firme. As necessidades definidas pelo IPCC, parte da Convenção do Clima, foram convenientemente depositadas em uma nota de rodapé.
Finalmente, era preciso incluir as florestas nas regras, porque o desmatamento é uma parte importante do problema e a preservação e ampliação da cobertura florestal, parte da sua solução. Mas essa promessa de que questões como desmatamento evitado, preservação florestal, uso do solo e afins serão parte do novo acordo, não remove os vetos que países como o Brasil têm imposto ao tratamento do tema.
Outro ponto que deve ser visto com muita moderação é a aceitação pelos países do G77 mais China – na verdade mais de 120 nações – de ações de mitigação “mensuráveis, reportáveis e verificáveis”. É uma nova versão diplomática, mais especificada, da admissão de “metas nacionais”, voluntárias. A diplomacia brasileira fala em “comparabilidade”. O inesperado anúncio dessa nova formulação para as metas domésticas e para as “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, que motivou o veto dos “emergentes”, acabou dobrando a até então inflexível delegação do EUA. Na verdade, menos porque atendesse à demanda de Bush de que os emergentes obedecessem ao mesmo grau de constrangimento que os industrializados, mas porque o novo fraseado da velha tese corresponde exatamente ao que o EUA defende para si mesmo. Essa frase não leva a metas compulsórias e compromissos globais, mas a políticas domésticas “reportáveis” ao fórum da Convenção do Clima. Ainda assim, Bush não ficou satisfeito. Depois do fechamento do acordo, a porta-voz da Casa Branca, Dana Perrino disse à imprensa em Washington que, embora partes da negociação tenham sido “bastante positivas”, o EUA tem “sérias preocupações sobre outros aspectos da decisão, quando as negociações forem iniciadas”. Segundo ela, os “negociadores devem dar a ênfase suficiente ao papel importante e apropriado que os países em desenvolvimento maiores emissores devem ter”. O mapa do caminho do EUA seguirá, portanto, sendo o do veto.
Decisões setoriais como a criação do fundo de adaptação ou de implementar a transferência de tecnologias para os países mais pobres, receberam formulações que não são sustentáveis a médio prazo. Se forem mantidas como agora definidas, não contribuirão significativamente para ajudar os mais pobres, nem a evitar o aumento de suas emissões no compasso do desejável avanço econômico de que precisam para superar suas carências, nem a se adaptarem às conseqüências inevitáveis da mudança climática. O fundo começa com valores insuficientes e os mecanismos de transferência de tecnologia, tais como definidos, seriam onerosos para os países receptores.
A razão principal pela qual esse acordo deve ser visto com sobriedade é que está claro que o sistema de decisão da convenção levará sistematicamente a compromissos mínimos, provavelmente aquém do necessário. Como ele exige toda a energia política dos países para a remoção de vetos e não para a maximização de resultados, os acordos finais serão aguados para permitir o consenso. A menos que os principais agentes de veto – as potências globais e regionais, principais e intermediárias – cheguem a um acordo suficiente antes e, com sua força, removam os vetos de países de menor importância, como uma Arábia Saudita. Durante Bali, por exemplo, prevaleceu por muito tempo uma coalizão que reunia EUA, Canadá, Japão e Arábia Saudita, entre outros.
Não houve um “breakthrough”, um “corte epistemológico”, em que novas explicações superam as anteriores, ou uma ruptura com a prática que marcou até aqui as negociações sobre o clima. O que houve foi um acordo para continuar negociando – e isso foi importante – e uma definição difusa do que negociar. As metas numéricas foram abandonadas, para permitir o acordo final. Ninguém abriu mão de suas posições substantivas. Só decidiu continuar conversando. Necessário, mas não suficiente.
Leia também

Desmatamento no Cerrado cai no 1º semestre, mas ainda não é possível afirmar tendência
Queda foi de 29% em comparação com mesmo período do ano passado. Somente resultados de junho a outubro, no entanto, indicarão redução de fato, diz IPAM →

Unesco reconhece Parna dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio da Humanidade
Beleza cênica e fato de os Lençóis Maranhenses serem um fenômeno natural único no mundo levaram organização a conceder o título →

Dez onças são monitoradas na Serra do Mar paranaense
Nove adultos e um filhote estão sendo acompanhados pelo Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar. Primeiro registro ocorreu em 2018 →