
O fim da vida sempre foi um tema debatido pela humanidade. Na Idade Média, teólogos interpretavam o Apocalipse de João Evangelista. Em meados do Século XIX, físicos discutiam a inexorabilidade da segunda lei geral da termodinâmica. Já os geólogos raciocinavam em termos de eras geológicas, um intervalo de tempo demasiado longo. Quando, no fim das contas, o desastre final viesse a ocorrer, a humanidade (diriam os herdeiros de Jules Verne) já teria migrado para outras galáxias. O medo do extermínio da humanidade era tão ingênuo quanto a crença medieval com o fim da civilização pela peste, algo que Bocaccio explorou com maestria no “Decameron”.Em 1972, a ONU convocou todos os países para um encontro mundial em Estocolmo. Pela primeira vez um assunto reservado à Literatura, à Teologia Escatológica e a um restrito círculo de iniciados em Física seria discutido em âmbito político. Não as profecias de Nostradamus nem uma iminente colisão de um cometa, mas a crise ecológica provocada pela ordem econômica mundial.
É verdade que, num primeiro momento, não se falava ainda sobre mudanças climáticas, mas o princípio 6 da Declaração de Estocolmo já esboçava algumas preocupações a respeito: “Deve-se por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais que liberam calor, em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não possa neutralizá-los, para que não se causem danos graves e irreparáveis aos ecossistemas. Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países contra a poluição”. Nasciam naquele momento o Direito Internacional do Meio Ambiente e o Direito Ambiental.
Vinte anos mais tarde, na Conferência da ONU no Rio de Janeiro (ECO 92), os dados sobre biodiversidade e as previsões científicas sobre as mudanças climáticas eram muito mais aprofundados. Tratava-se de uma crise sistêmica, capaz de provocar epidemias, secas, devastação das florestas, guerras pela sobrevivência. Um tema reservado às pinturas de Bosch e aos livros de H.G. Wells passava agora a ser debatido em âmbito diplomático internacional e no interior dos parlamentos.
Os paradigmas que orientam a criação nos seriados “The Twilight Zone” (1959-1964) e “Black Mirror” (2011 até hoje) são totalmente diferentes. Em 1959 o mundo estava polarizado e o que preocupava artistas e diplomatas era o receio de uma terceira guerra mundial. Em plena guerra fria, passados poucos anos de Hiroshima e Nagasaki, o fantasma ainda era o holocausto nuclear. No ano de lançamento do primeiro episódio de “Black Mirror”, o quadro era outro. Em primeiro lugar, o ataque ao WTC, ocorridos há uma década, mostrava que até os EUA eram vulneráveis – dado que, por si só, já bastaria para modificar o Weltanshauung de uma geração. Ademais, geólogos agora falavam em Antropoceno. O extermínio já se achava em curso e atingia a todos, indistintamente. A depleção da camada de ozônio, os gases de efeito estufa, a contaminação do solo e das águas e o avanço a passos largos da agropecuária, da indústria madeireira e da mineração sobre as florestas geram trágicos efeitos climáticos e socioambientais. “Black Mirror” lida com hipóteses factíveis, antecipações lógicas dos prováveis desdobramentos da ciência e da política contemporâneas.
De igual forma, romances como “Não verás país nenhum”, do brasileiro Ignácio de Loyolla Brandão, “The Road”, de Cormac McCarthy, “O ano do dilúvio”, de Margaret Atwood ou “Solar”, de Ian McEwan, retratam uma nova percepção da finitude da vida no planeta. Os informes da Organização Mundial de Meteorologia alimentam as páginas dos romancistas e poetas.
Desertificação do solo, envenenamento dos mares, insustentabilidade ambiental de megalópoles, epidemias decorrentes da alteração dos processos ecológicos essenciais e assassinatos de lideranças ambientais obrigam-nos a considerar o fim da vida no planeta como um tema atual e concreto. Tal percepção, porém, não vem sendo alcançada por empresários, legisladores e diplomatas. A Literatura mostra-se muito mais sensível à realidade planetária do que o Direito Internacional das Mudanças Climáticas ou o Direito Ambiental Brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da constitucionalidade do Código Florestal de 2012, não se deu conta disso. Resta torcer para que a COP 24, a realizar-se este ano na Polônia, seja mais sensível ao verde e ao azul da ecoliteratura contemporânea do que aos cinquenta tons de cinza de E.L. James.
Leia Também
O Estado que mais regenerou também pode ser o que mais destruiu a floresta
Se o que você acabou de ler foi útil para você, considere apoiar
Produzir jornalismo independente exige tempo, investigação e dedicação — e queremos que esse trabalho continue aberto e acessível para todo mundo.
Por isso criamos a Campanha de Membros: uma forma de leitores que acreditam no nosso trabalho ajudarem a sustentá-lo.
Seu apoio financia novas reportagens, fortalece nossa independência e permite que continuemos publicando informação de interesse público.
Escolha abaixo o valor do seu apoio e faça parte dessa iniciativa.
Leia também

Vaquejadas: risco iminente de volta à barbárie
Em votação no momento empatada, Supremo Tribunal Federal ameaça legalizar uma prática que fere o artigo 225 da Constituição, que proíbe a crueldade contra animais →

O Paraná é um mar de soja
Ao contrário do que insinuam as notícias, Estado que mais regenerou mata Atlântica não é exemplo de preservação →

O Estado que mais regenerou também pode ser o que mais destruiu a floresta
Paraná é, a um só tempo, bom aluno e vilão da Mata Atlântica. Resta saber as consequências dessa renovação para biodiversidade do estado →



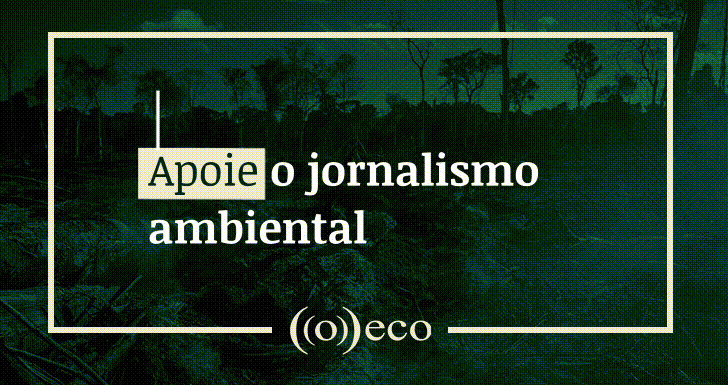

Brilhante correlação de um virtuoso ambientalista, literato e muitas outras vertentes. Com admiração!
Adorei!!
Guilherme Purvin e sua maravilhosa sensibilidade interdisciplinar!🙏🏻
Bela resenha. A empáfia do bicho-honem parece não ter limites
Quem já leu “ Não veras país nenhum “ poderá perceber que já estamos no caminho do fim .
E não foi por falta de aviso . Esse livro é de 1972 .
Enquanto isso vivemos a desilusão de que “ o agro é pop “.
Vai almoçar o que hj?