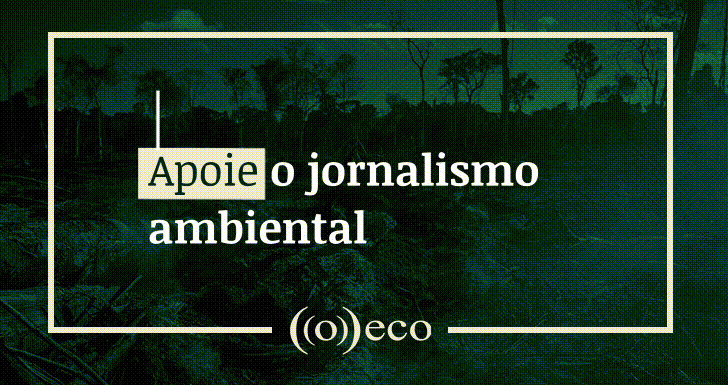Aos 45 anos, o historiador José Augusto Pádua tem cara de estudante e duas vidas longamente vividas. Numas delas, a acadêmica, fez coisas típicas de quem passou os dias entre a sala de aula e a biblioteca. É doutor em Ciências Políticas, professor-adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de livros que temperam qualquer estante de História do Brasil. Na outra, onde as carreiras só brotam ao ar-livre, é militante ambiental de carteirinha, daqueles que já puseram os pés na fronteira do território nacional com o fim do mundo e as mãos em serrarias, para estancar à unha a exploração ilegal do mogno na Amazônia.
Na confluência desses dois currículos, ele ainda por cima escreveu “Um Sopro de Destruição”, a história de um Brasil que conseguiu ser ao mesmo tempo – ou seja, no começo do século XIX – excepcionalmente precoce como ambientalista e irremediavelmente perdulário na malversação de sua natureza.
Com esta entrevista – que se estendeu por muitas horas de conversa, acabou antes que acabasse o assunto e se desdobrou em tantos temas que, para publicá-la, foi preciso dividi-la em dois blocos – Pádua chega a O Eco para ficar. Depois de estrear como entrevistado, contando aqui o que ele aprendeu sobre Meio Ambiente, ele continuará neste site como colunista, falando de tudo o que os brasileiros ainda precisam aprender nesta matéria.
Como conseguiu ser historiador e militante numa vida só?
José Augusto Pádua – Meu interesse pelas questões ambientais veio bem antes do interesse pela História. Comecei a lidar com esses problemas na segunda metade dos anos 70. Era uma época muito interessante, porque estávamos vivendo ainda sob a ditadura militar, quando o estímulo à politização precoce era muito grande. Você chegava ali pelos 16, 17 anos de idade e, se não adotava uma postura de total indiferença pelo mundo onde estava vivendo, era quase impelido a tomar partido, preocupar-se com os rumos do país, defender mudanças. Em retrospecto, vejo que aquela foi, apesar de tudo, uma época rica, interessante.
Por quê?
José Augusto Pádua – Porque o pensamento crítico estava começando a ficar mais diversificado. Não era mais aquela coisa dos anos 60, em que tudo girava em torno de questões sócio-econômicas tradicionais, ou da distribuição de renda. Levantava-se toda uma série de novas questões, como os direitos da mulher e das minorias, ou a crítica da tecnologia, da civilização, do próprio modo de vida na sociedade industrial. E aí, claro, a preocupação ecológica entrou no debate.
No Brasil essas coisas não chegam sempre com atraso?
José Augusto Pádua – Não. No Brasil daquela época, o movimento ambientalista até que não estava descompassado com o que acontecia na Europa, nos Estados Unidos. Lá, o moderno ambientalismo começa a se organizar no início dos anos 70. A Greenpeace, por exemplo, foi criada em 1971, no Canadá. E no Brasil em 1971 já estavam surgindo grupos ambientalistas como a Agapan (Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural), do professor José Lutzemberger. Naquele ano também surgiu em Belém um grupo chamado Sopren (Sociedade de Proteção ao Meio Ambiente). Isto quer dizer que já havia um pensamento, uma crítica ambientalista no país. Por outro lado, o próprio desenvolvimento brasileiro naquele momento também criava condições propícias a este tipo de discussão, porque o país havia passado por um processo muito rápido de urbanização e industrialização. Com isso, mudara o perfil da sociedade sem que houvesse o menor cuidado com o controle da poluição, a descaracterização das cidades, a degradação da vida nos bairros. Em suma, com o meio ambiente.
Era o tempo em que se defendia a pesca da baleia, em vez de chorar pela morte da jubarte?
José Augusto Pádua – Pois é. Isso mostra o tamanho da mudança de mentalidade que houve. E essa mudança os ambientalistas ajudaram a construir. É uma mudança que se nota também no empresariado, nas Nações Unidas, em quase tudo. Quer dizer que ela deu frutos. Naquele período também havia uma especulação imobiliária desenfreada nas grandes cidades brasileiras. E muita destruição de área verde. Era um momento muito agressivo das atividades econômicas. O que ajudava a reforçar, do outro lado, a oposição, a crítica, a contracultura. Peguei uma rebarba da contracultura no fim dos anos 70, aquela herança hippie da ruptura com o consumismo, com o industrialismo e com a fabricação das necessidades artificiais.
E isso o influenciou?
José Augusto Pádua – Passei por isso tudo. Estava tudo mais ou menos misturado na minha geração. E essa mistura me levou, por volta de 1974, 1975, a lugares e a caminhos onde pudesse trabalhar essas inquietações. Quando olhamos hoje para a situação do ambientalismo brasileiro naquele período, vemos duas vertentes principais, que acabam se encontrando mais tarde. O ambientalismo da classe média, que se incomodava com a especulação imobiliária, com a descaracterização da vida urbana ou mesmo com a destruição das florestas, produtos da agressividade do crescimento econômico naquela época. Um dos primeiros grupos de ambientalistas mais ativos que surgiu no Rio de Janeiro foi a campanha popular em defesa da natureza, contra os lançamentos imobiliários no Alto Leblon.
As passeatas contra o incorporador Sérgio Dourado.
José Augusto Pádua – Exatamente. Contra a especulação imobiliária. Então, eu e uns amigos, que estávamos buscando canais ainda inexistentes, entramos por aí. Outra campanha forte naquele momento foi contra a Usina Nuclear de Angra, por causa do risco de poluição radioativa.
Hoje quase não se fala mais nisso.
José Augusto Pádua – É verdade. O problema não desapareceu, de forma nenhuma. Mas é bom não esquecer que os meios de controle aumentaram, graças à pressão da sociedade. Naquela segunda metade da década de 70, quando comecei a participar do debate ambiental, uma coisa marcante para mim foi o encontro com o Augusto Ruschi, em 1977. Foi quando aconteceu o “caso Ruschi”. Ele tinha uma reserva florestal belíssima, que ainda existe em Santa Lúcia, no Espírito Santo, e estava ameaçada de desapropriação, para virar plantação de palmitos. E ver o Ruschi, aquele velho naturalista…
… autodidata.
José Augusto Pádua – Sim, autodidata. Um autodidata que pegou uma arma e sentou na porta da reserva, dizendo que atiraria em quem entrasse lá. Isso para nós foi um exemplo muito mobilizador. Como uma pessoa podia ter tanta coragem num momento como aquele? Como uma pessoa podia fazer tamanha diferença? Eu participei da campanha de Ruschi e através dele passei a me preocupar com a Mata Atlântica e com o que estava acontecendo com ela. Depois, lá por 1978, 1979, veio a onda de preocupação com a Amazônia. Foi quando surgiram vários comitês e movimentos pela Amazônia, quando o coronel Mario Andreazza, ministro do governo militar, fez um projeto para licitar grandes extensões da floresta, que seriam entregues à exploração econômica. Foi assim que entrei para o Comitê em Defesa da Amazônia. Depois, quase na mesma ocasião, vieram as denúncias de que os agrotóxicos estavam contaminando os alimentos e envenenando a terra. E eu participei da criação da Conatura (Cooperativa Mista de Trabalhadores em Conservação), que também foi uma experiência muito interessante.
Quem falava em agrotóxico naquela época parecia meio doido, não?
José Augusto Pádua – Isso não sei dizer, porque eu estava no grupo dos malucos. O que é interessante para mim, agora no Século XXI, é ver as grande empresas e a ONU falando coisas semelhantes ao que nós, os malucos, falávamos naquela época. O Manifesto Ecológico Brasileiro de José Lutzemberger, que saiu em 1976, já tratava de coisas como modelos de civilização, sustentabilidade, agrotóxicos, energia nuclear, fontes alternativas de energia. Foi um momento muito rico o nascimento do ambientalismo brasileiro.
A carreira acadêmica ainda lhe deixa tempo para perseguir madeireiras na Amazônia?
José Augusto Pádua – Ok. Vou dar um salto para chegar à pergunta. Mas antes preciso lembrar que, como jovem ativista, buscando caminhos para todas essas inquietações, é que em 1978 entrei para a universidade. Eu tinha que fazer universidade. E, através deste diálogo com o José Lutzemberger, conheci um economista norte-americano chamado Herman Daily. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dele. É uma figura muito importante. O Eco precisa fazer uma reportagem com ele. Daily é o papa da economia ecológica nos Estados Unidos. Morou no Brasil. É casado com uma brasileira. Fala português. E tem uma obra impressionante.
E como ele afetou sua entrada na universidade?
José Augusto Pádua – É que através do Herman Daily descobri que havia uma Economia Ecológica. E achei que meu campo era a Economia. Fiquei dois anos estudando Economia na PUC. Mas a Economia que eu estudava não era a que estava procurando. Era abstrata demais, matematizada demais para mim.
E existe mesmo a “sua” Economia?
José Augusto Pádua –Na verdade, existe desde o século XIX. O economista catalão Juan Martinez Alier escreveu um livro mostrando que, no mesmo momento que estava se desenvolvendo uma economia clássica e liberal, também se desenvolvia uma outra corrente econômica, que acabou meio obscurecida, fazendo uma ponte direta entre a economia e a biologia, a termodinâmica, a geografia. Valendo-se do arcabouço do Darwinismo, ela tem toda uma linhagem de seguidores que foram esquecidos. Assim como a linhagem que eu estudei no meu livro “Um Sopro de Destruição”, dos pensadores e homens públicos que, na virada do século XVIII para o século XIX, se preocuparam com os problemas ecológicos do Brasil. Na Europa, existiu uma linhagem fascinante de economistas preocupados com o uso racional dos recursos naturais, isso que hoje chamamos de sustentabilidade. Mas essa descoberta veio tarde. Dois anos depois de entrar na universidade, eu larguei o curso de Economia e fui fazer Sociologia, onde também não fui muito feliz.
Por quê?
José Augusto Pádua – Porque a sociologia é muito dogmática. Então saí por uns tempos da universidade. Tranquei matrícula em 1980. Fui morar uns oito meses na Europa. Dei uma boa circulada por lá, que para mim foi fundamental, porque me encontrei com o movimento verde quando ele estava em ascensão na Alemanha e na França. Quando voltei, no final de 1980, decidi fazer História, embora nem imaginasse que seria possível fazer uma ponte da Historia com a Ecologia melhor do que tinha sido possível fazer na Economia ou na Sociologia. Mas o departamento de Historia era bom, achei que valeria a pena investir neste estudo. E aí dei sorte.
Qual?
José Augusto Pádua – Em 1981 eu me encontrei com o Warren Dean, o que foi uma sorte enorme. A primeira pergunta que lhe fiz foi o que estava pesquisando na ocasião. Ele me disse que estava começando a escrever um livro sobre a história da Mata Atlântica e eu pensei: interessante, um livro sobre a história da mata atlântica é um livro sobre a história do Brasil, é uma forma de você discutir a história do Brasil. Ele já tinha feito aqueles clássicos anteriores, sobre o café e sobre a industrialização de São Paulo. A história da borracha na Amazônia sairia algum tempo depois. E, quando o conheci, ele estava preparando “A Ferro e Fogo”. O livro só foi publicado em 1994. Quer dizer, ele precisou de pelo menos 13 anos de pesquisa para chegar a esse livro extraordinário. Para mim foi fascinante conhecê-lo, porque percebi logo que existia um modo de aproximar a História e da Ecologia. Através de Warren Dean, fiquei sabendo da Associação Norte-Americana de História Ambiental.
Ela ainda existe?
José Augusto Pádua – Existe e está mais forte que nunca. Foi com Warren Dean que descobri a História Ambiental. Ele foi uma pessoa muito importante na minha formação. Fiz pesquisas com ele. Viajamos juntos. Não como assistente o coisa do gênero. Eu era apenas um interlocutor entusiasmado, que gostava de acompanhá-lo no trabalho de campo. Era fascinante vê-lo trabalhando. Ele sabia pesquisar em arquivos. Mas ia sempre botar o pé no húmus. E na época já tinha uma certa idade, não era fácil fazer isso, não. Se ouvisse falar de um macaco que existia não sei onde, ele tinha de ir lá ver o bicho. Uma vez fui encontrá-lo no Pontal do Parapanema, para ver o mico-leão-preto na reserva do Morro do Diabo. Não era brincadeira andar pelo Morro do Diabo. Apesar de tudo isso, na hora de fazer mestrado e doutorado, acabei escolhendo Ciência Política, no Iuperj. A História ficou para depois.
Depois do quê?
José Augusto Pádua – Bem, depois do Iuperj, dei aula na PUC. Sempre com a cabeça no meio ambiente. Publiquei um livrinho em 1984 chamado “O que é ecologia”, junto com o Antonio Lago. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, teríamos ficado ricos com o livrinho, porque ele vendeu mais de 100 mil exemplares e tem 18 edições. Em 1988, escrevi “Ecologia e política no Brasil”. E, no começo da década de 90, a Greenpeace resolveu se instalar no Brasil, por causa daquele clima todo criado pela Eco-92. Quase todas as organizações internacionais se estabeleceram no Brasil naquela época. O Brasil andava muito em evidência. Chico Mendes, que eu conheci, tinha sido assassinado em 1988. A destruição da Amazônia estava alcançando um novo patamar de agressividade e o mundo passou a falar muito do desflorestamento na região. Para se estabelecer aqui, a Greenpeace me procurou. A principio, como conselheiro, por causa dos livros que tinha escrito, dos artigos que andava publicando na imprensa.
Foi assim que voltou à vida de militante?
José Augusto Pádua – Quando a Greenpeace enfim abriu o escritório no Brasil em 1991, fui convidado para ser um dos diretores. Ou seja: o coordenador da área de florestas na América Latina. E não resisti. Larguei todo o resto e fiquei uns seis anos na Greenpeace. Era um trabalho pesado, mas fascinante. Na Greenpeace conheci um outro lado da globalização, que são essas organizações não-governamentais nascidas nesta onda, com uma capacidade de ação muito grande, uma capacidade de financiamento muito grande – enfim, um tipo de ativismo profissional muito diferente da militância a que eu estava acostumado. A Greenpeace tem uma característica interessante, que é a de ser financiada exclusivamente por pessoas físicas. Ela não aceita – ou pelo menos não aceitava, pois não sei como é hoje – doações de empresas e de governos. Só de pessoas físicas. Chegou a ter cinco milhões de doadores, cada um doando em média vinte dólares por ano, uns mais, outros menos. Juntando estes cinco milhões de pessoas, a Greenpeace tinha um faturamento de uns 100 a 150 milhões de dólares anuais.
Tanto dinheiro numa ONG?
José Augusto Pádua – É claro que isso parece muito, mas não se deve esquecer que ela é uma organização internacional, que seus barcos custam muito dinheiro, que sua equipe é muito grande, que suas despesas são muito pesadas. Mas, sem dúvida, tínhamos recursos para trabalhar. E isso implicava uma equipe com boa formação técnica, às voltas com uma operação bastante complexa. Discutíamos globalmente onde estavam os casos exemplares, capazes de gerar efeitos diretos e com visibilidade internacional. E partíamos para cima deles. Éramos uma organização enxuta, com um grupo profissional pequeno, mas altamente qualificado. Havia um setor que só para lidar com tratados e convenções ,que teve grandes êxitos significativos, como na proibição da caça às baleias. Era formado por diplomatas, que pertenceram ao corpo diplomático da Austrália, da Holanda ou da Inglaterra, e saíram do serviço público para atuar no ambientalismo. Gente que conhecia a fundo as convenções e os tratados internacionais. Foi uma experiência muito marcante, a Greenpeace. Mas seu modelo é vulnerável. Ela vive numa espécie de plebiscito anual. Precisa convencer todo ano milhões de pessoas a doarem aqueles 20 dólares ou pode sofrer uma súbita redução de recursos, se o trabalho que faz perder visibilidade. Tem sempre de produzir ações espetaculares, o que tem vantagens e desvantagens
E manteve os cinco milhões de doadores?
José Augusto Pádua –Acho que aquilo foi o pico. Hoje ela certamente tem menos, mas com certeza eles ainda são milhões no mundo inteiro. A Greenpeace continua sendo uma organização extraordinária, quando se trará de chamar a atenção para os problemas. Mas, para fazer um trabalho mais de fundo, mais de formiguinha, mudar os padrões de produção e de consumo, não é o melhor canal.
Valeu a pena?
José Augusto Pádua – Muito. É uma coisa inesquecível, para um intelectual como eu que, apesar de ter exercido um certo ativismo praticamente desde criança, só quando chegou na Greenpeace viveu coisas, como paralisar uma serraria num dos lugares mais violentos do Pará. Era a serraria do presidente dos exportadores de madeira paraenses. E exatamente por isso foi a escolhida por nós. Aqui, quando digo “nós”, é “nós mesmos”. As pessoas têm uma idéia errada de como essas coisas funcionam dentro da Greenpeace. Acham que tudo vem de fora para cá. Mas as suas decisões passam por um debate global. E é debate mesmo. Todo mundo opina. Os latino-americanos discutiam o que fazer no Canadá ou na Austrália, como os canadenses e australianos discutiam o que fazer aqui. Era tudo uma coisa muito pensada. Nós em 1991 resolvemos começar nossa ação emdefesa da Amazônia pelo mogno, porque o corte do mogno em si é um problema enorme, mas o que se faz para cortá-lo é um problema maior ainda. Para cada pé de mogno derrubado, calcula-se que caiam outras 23 árvores. O método é tão brutal, tão predatório, porque as madeireiras saem pela floresta cortando tudo o que encontram em torno do mogno, no caminho do mogno.
Por que se destrói tanto?
José Augusto Pádua – O grande problema do mogno é o enorme efeito que ele tem na abertura de estradas. Naquela época, estimávamos que no sul do Pará as madeireiras tinham aberto três mil quilômetros de estradas no meio da selva. Era um escândalo. Hoje elas já abriram 23 mil quilômetros. Na ocasião, fizemos um documentário em vídeo, mostrando como essas coisas acontecem. Chamava-se “Mogno: estradas da devastação”. Tudo porque o mogno é valioso. Já valia naquele tempo quase mil dólares o metro cúbico. E uma árvore tem quase três metros cúbicos de madeira. Logo, compensava abrir mil quilômetros de estrada para alcançar alguns pés de mogno. E ele está muito disperso na natureza. Os madeireiros encontram uma mancha aqui, outra 20 quilômetros adiante, no meio da selva. Assim, o mogno vai financiando a abertura de estradas. E, com as estradas, vem o resto: a extração de outras madeiras, a queimada, a lavoura e o pasto.
Foi como invadir ponto de drogas em favela?
José Augusto Pádua – Não diria tanto. E eles não vão gostar muito da comparação, pois é claro que, para ser justo, a violência não é a mesma. Mas Rio Maria é uma terra braba e eles eram extremamente agressivos. O segredo foi chegar com umas 40 pessoas, fechar a madeireira, acorrentar as serras, parar tudo, deixar os donos furiosos, mas fazer isso com o máximo de cinegrafistas e fotógrafos que pudemos levar para lá. Porque assim eles não nos jogaram no rio nem reagiram de forma violenta. Nas campanhas do Greenpeace, sempre levávamos os jornalistas, que eram nossa maior proteção. Talvez as pessoas da imprensa na época se sentissem usadas. Mas a história era boa, nós pagávamos as despesas dos repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Para isso servia o dinheiro da Greenpeace. É preciso não esquecer que por trás de lutas como essas havia outras, envolvendo grupos grupos locais. É uma coisa extraordinária para uma pequena ONG da Amazônia, que se sentia reclamando da destruição das florestas sem ser ouvida, ver uma potência daquelas chegar ali e fechar uma madeireira.
A exploração do mogno era ilegal?
José Augusto Pádua – Não. Legalmente, não estava proibida. Suspender o comércio de mogno foi uma vitória da campanha.
Com base em que argumentos?
José Augusto Pádua –Com base nas estimativas de que 80% do mogno que estava sendo cortado vinha das terras indígenas. O de Rio Maria, por exemplo, vinha todo da reserva caiapó. Tudo bem, a exploração era feita com a concordância de alguns caciques, mas mesmo assim as madeireiras estavam proibidas por lei de entrar nas reservas. E existe uma divisão no território caiapó. Uns índios são totalmente favoráveis a esse negócio. Outros, não.
Por que deixou a Greenpeace?
José Augusto Pádua – Antes de mais nada, acredito que aquelas campanhas geraram resultados concretos, que estão aí até hoje. É preciso não esquecer que por trás de lutas como aquelas havia outras, envolvendo grupos grupos locais. É uma coisa extraordinária para uma pequena ONG da Amazônia, que se sentia reclamando da destruição das florestas sem ser ouvida, ver uma potência daquelas chegar ali e fechar uma madeireira.
Um sopro de conservação – Parte II
25.08.2004
Não é só no mato que quem procura acha os caminhos menos batidos. Em 1996, trilhando a carreira de militante ambientalista, o historiador José Augusto Pádua largou a Greenpeace para seguir a pista deixada na formação do Estado brasileiro pelo político José Bonifácio de Andrada e Silva. Encontrou, como pesquisador, uma geração quase visionária de homens públicos, que se preocuparam com a conservação da natureza antes mesmo que a ecologia tivesse nome.
Nesta segunda parte da entrevista a O Eco, Pádua conta como o Brasil, que discutiu desde muito cedo esses problema, até hoje não foi capaz de resolve-los. E explica por que o país, ainda dividido entre os males do atraso e as crises do desenvolvimento, não consegue juntar suas preocupações ambientais num único modelo de ambientalismo. Em compensação, diz ele, se no século XIX discutir esses assuntos podia ser quase um esporte de elite, no século XXI ninguém mais escapa de um movimento que veio para ficar.
O que veio primeiro: a decisão de largar a Greenpeace ou o desejo de tratar da História?
José Augusto Pádua – Saí da Greenpeace porque quis. Sem crises. Simplesmente porque, com o tempo, esse tipo de trabalho fica meio repetitivo. Você chama a atenção para os problemas, faz lobby, pressão, barulho. Mas os outros efeitos, os grandes efeitos, exigem um trabalho de fundo, que só se consegue através da política e da educação. Estava meio cansado de fazer denúncia. Quando saí do Greenpeace, já tinha o projeto de escrever o livro, porque havia descoberto este fenômeno interessantíssimo, que é a existência de uma crítica ambiental no Brasil dos séculos XVIII e XIX.
Como chegou lá?
José Augusto Pádua – Por um caminho indireto. Cheguei lá pelos textos de José Bonifácio. Estava na época fazendo o mestrado. Estudava a evolução do pensamento político brasileiro. Sabia que o Patriarca da Independência era um homem ilustrado e brilhante, que tinha criticado duramente a escravidão no começo do século XIX, numa época em que o principal livro de Direito Constitucional nem tocava no assunto. Mas não sabia que ele tinha uma posição tão clara em favor da natureza. Ao ler o que José Bonifácio escrevera sobre escravidão, levei um susto, porque me deparei com uma visão quase apocalíptica do que se estava fazendo com o país já naquele tempo. Fiquei impressionado com a clarividência de sua crítica, muito bem informada, ao desflorestamento. Com suas previsões sobre o futuro de um Brasil desertificado.
Os documentos eram inéditos?
José Augusto Pádua – Não. Até hoje não sei como ninguém tinha chegado antes à mesma descoberta, porque todo o material que usei não estava perdido, sempre esteve por aí, nas bibliotecas, nos arquivos públicos. Creio que centenas de historiadores brasileiros leram o mesmo texto antes de mim. Mas, aparentemente, não levaram o susto que levei, simplesmente porque, para eles, o que José Bonifácio tinha a dizer sobre a natureza parecia um detalhe à margem do assunto principal. Para mim, não. Aquilo tudo estava bem no foco de minha atenção. Faltava eles caírem nas mãos de uma pessoa que tivesse, ao mesmo tempo, forte interesse pela questão ambiental e ao mesmo tempo treinamento como historiador.
Em outras palavras: você.
José Augusto Pádua – É claro que meu interesse por esses assuntos, que vinha desde a juventude, ajudou muito na investigação. Mas ele só não teria bastado. Foi preciso que eu me preparasse para encontrá-los como pesquisador. Digo isso por achar importante lembrar que o ambientalista se prepare para defender seu ponto e vista. Não adianta ter só as boas atitudes, as boas intenções e até as boas intuições. É preciso estar pronto para o debate ambiental, porque o adversário é duro. Como professor e pesquisador, procuro fazer meu trabalho com a maior seriedade. Mesmo se o livro tem um indisfarçável caráter político. É livro de militante. Mas feito com rigor.
Era comum, na época, homem público dizer o que José Bonifácio dizia?
José Augusto Pádua – Não. Tratando daqueles assuntos, com a estatura política de José Bonifácio, acho que não houve no mundo outro caso igual naquele tempo. Houve, sim, pensadores que fizeram política. Mas não propriamente políticos. Ou seja, estadistas que tiveram, como ele, poder nas mãos. O livro mostra também que houve, além de José Bonifácio, uma inteligência brasileira, muito rica e de vanguarda, que não vinha a reboque do pensamento europeu ou norte-americano. Estava par a par com o que havia de mais avançado naquela época. Joaquim Nabuco, por exemplo. André Rebouças, que é uma figura importantíssima e injustamente meio esquecida. Sequer existia ainda a palavra ecologia, não se falava em ambientalismo. Mas eles já estavam criticando o desflorestamento, as queimadas, o desperdício de nossos recursos naturais.
Quer dizer que perdemos uma grande chance?
José Augusto Pádua – Perdemos, sim. Para o Brasil, aquela foi uma extraordinária oportunidade perdida. O país estava nascendo. José Bonifácio tinha um projeto muito avançado para ele. E poder para executá-lo. Mas isso não aconteceu.
Por que?
José Augusto Pádua – Porque uma coisa é a existência desses intelectuais, na política brasileira do século XIX. Outra, muito diferente, é fazer essas idéias chegarem à sociedade. Isso é outro passo, e um passo bem largo. Outro passo ainda maior é converter essas idéias em movimento social. Havia pessoas produzindo idéias extraordinárias sobre o país naquele tempo. Mas qual era mesmo o alcance destas idéias? Não sei responder. Eles, sem dúvida, queriam que seus pontos de vista chegassem à sociedade. Não eram autistas. Eram políticos. Recorriam aos meios de comunicação disponíveis para pôr as idéias em circulação. Mas a sociedade brasileira era então excessivamente simples. Para quem aquela gente de idéias avançadas poderia falar? Para os escravos? Para os índios sobreviventes? Para os fazendeiros escravocratas, que viviam da monocultura e do desflorestamento? Para uma pequena classe média urbana, que mal estava se formando?
Nesse caso, eles falavam para quem?
José Augusto Pádua – Eles falavam para eles mesmos. Discutiam entre si, numa sociedade em que não passavam de uma gota de alfabetização num mar de analfabetismo. Escreviam nos jornais. Mas quantos leitores tinham os jornais da época? Não havia no país correntes de transmissão para levar suas idéias à frente. Esta é a diferença do ambientalismo que temos hoje para o ambientalismo que tivemos antigamente. Antes se tratava essencialmente de uma postura intelectual. A crítica ambiental pode ser antiga no Brasil. Mas não se pode confundi-la com o movimento ambientalista, que só encontrou aqui condições para vingar muito tempo depois.
Qual era a diferença?
José Augusto Pádua – É que nossos primeiros ambientalistas falavam para cima. Dirigiam-se ao governo. Ou ao Estado. Esperavam que, avisado, o Estado tomasse providências. O problema é que este Estado mesmo era pouco autônomo. Dependia muito de esquemas de produção essencialmente predatórios. Era um Estado pobre, que não tinha poder de fogo para contrariar dos devastadores. José Bonifácio esteve no poder durante um ano, mas foi quase por acidente. Passou pelo poder como a pessoa mais ilustrada do Brasil em seu tempo. E era um personagem carismático. Mas, quando chegou ao poder, suas propostas contrariavam tanto os interesses econômicos e políticos de suas bases, que elas, ao ouvirem o que ele tinha a lhes dizer sobre divisão de terras, fim da escravidão, preservação das florestas e combate às queimadas, trataram de tirá-lo de lá o mais depressa possível.
Num país ainda tão jovem, já funcionava a inércia?
José Augusto Pádua – A inércia é impressionante. Não é só a destruição do território ou o desflorestamento que se discute sem resultado no Brasil há muito tempo. A distribuição de terras também é assunto batido e rebatido. A concentração de renda. A cultura da devastação.
E de onde vem essa inércia?
José Augusto Pádua – Tem que vir da História do país. Conhecemos alguns fatores. Mas eles não explicam tudo. Além disso, a história ambiental brasileira ainda engatinha. Nos Estados Unidos, os historiadores ambientais estão esquadrinhando cada rio, cada bacia, cada região, para levantar as mudanças ambientais que elas sofreram no processo de formação da sociedade americana. Mas, a meu ver, o grande motor de nossa cultura da devastação é o mito da natureza inesgotável e o mito da fronteira sempre aberta. A economia brasileira sempre se valeu dessa idéia de estar diante de uma fronteira aberta, de um território a conquistar para o progresso. Foi assim no Vale do Paraíba, quando o café chegou por lá no século XIX. Enquanto durou a floresta virgem, os cafeicultores não se preocupavam com o esgotamento rápido de suas terras, porque procuravam sempre mais e mais mata para queimar. Foi com grande surpresa que, nos últimos anos do século, com os cafezais já em declínio, eles viram que não tinham mais florestas para transformar em cinza. Logo, não tinham mais para onde avançar. Só restava na região terra ressecada e erodida. Este é um elemento fundamental em nossa cultura.
E hoje?
José Augusto Pádua – A cultura da devastação continua viva. Uma vez, conversei com um madeireiro na Amazônia. Ele me disse que tinha começado a explorar o mogno em Rondônia, até acabar. Depois, cruzou o rio Xingu. Naquela altura estava tirando a madeira na Terra do Meio do Pará. Eu lhe perguntei o que faria se lá também acabasse o mogno. “Aí vou para o Acre”, ele me respondeu. Esse madeireiro era paranaense. Tinha começado a vida cortando araucárias no Sul. Depois, passado pela Mata Atlântica, no Espírito Santo.
Não aprendemos a lição dos cafeicultores do Vale do Paraíba?
José Augusto Pádua – Do ponto de vista daqueles fazendeiros, a lição era ambígua. Porque a maioria se arruinou, sim. Mas os outros pegaram o dinheiro que haviam juntado de forma predatória e partiram para outros lugares, onde foram recomeçar tudo de novo, pelos mesmos métodos. Se levantarmos os olhos da história regional e olhamos o Brasil como um todo, veremos que este país sempre foi menos fragmentado do que pensamos. Em toda sua história sempre houve muitos movimentos de gente, de norte a sul, de leste a oeste, isso desde os primeiros tempos da colônia. Quando o Vale do Paraíba foi destruído, a mesma cultura de devastação já tinha para onde ir. E até hoje ela não parou. Temos agora a monocultura da soja no Cerrado. Do Cerrado, ela está entrando na Amazônia. Os estragos vão ficando para trás. Mas a expectativa de ganho fácil segue sempre em frente. Minha dúvida é se teremos que esperar acontecer na Amazônia o que aconteceu com a Mata Atlântica para nos convencermos de que atingimos o limite. Ou se aprenderemos antes a lição.
De quê depende essa engrenagem?
José Augusto Pádua – Ela tem um parceiro forte, que é a formação escravista. Vários autores que estudei, como José Bonifácio e Joaquim Nabuco, fizeram esse vínculo entre o escravismo e a destruição do território. Foi a herança escravista que gerou primeiramente a mão-de-obra barata, para permitir que a fronteira fosse sempre aberta. José Bonifácio dizia que, sem ela, os fazendeiros não teriam como abrir novas frentes na floresta? Eles e os pequenos agricultores teriam que aprender a utilizar de forma correta a área já aberta, como se fazia na Europa, adubando o que já tem, em vez de roubar o húmus da floresta. Hoje, nas regiões de fronteira, é mais ou menos a mesma coisa. Não há mais escravidão formal. Mas a mão-de-obra barata, que sempre foi o principal instrumento da conquista, está lá. E um certo desprezo pelo trabalho e pelo trabalhador, que faz parte da mentalidade do ganho fácil, da lei do menor esforço. Acho que, devagar, essas coisas estão mudando no Brasil. Mas ainda estão muito longe de acabar.
Como acabar com essas pragas?
José Augusto Pádua – Teremos que aprender a valorizar de verdade a natureza tropical brasileira. Não basta cantá-la no samba, no bumba-meu-boi, e desprezá-la na prática. Porque é isso que fazemos. Talvez por herança colonial, pois os portugueses, quando chegaram aqui e viram todas aquelas florestas, sentiram-se diante de um estorvo, não diante de um tesouro. A terra com floresta era a terra suja. Basta ler Antonil: “Ao encontrar a terra para plantar a cana, roça-se, queima-se, limpa-se, tirando tudo que de cima dela está”. Esta era a visão do colonizador europeu.
E hoje?
José Augusto Pádua – A arqueóloga Niède Guidon me contou um caso interessante que aconteceu com ela no Piauí. Jogava-se muito copo e garrafa de plástico diante do parque da Serra da Capivara. E ela mandou limpar a área. Quando voltou, tinham tirado cuidadosamente as folhas caídas no chão e deixado as garrafas. O pessoal achou que ela só podia estar se queixando do capim, porque o plástico, em si, ninguém lá via como sujeira.
Isso é coisa nossa?
José Augusto Pádua – Nunca fiz um estudo comparativo, para ver como essa mentalidade se manifesta ao redor do mundo. Aqui sem dúvida ela existe. Recentemente, passou na televisão um anúncio curioso. Mostrava um fazendeiro apontando para o filho suas terras. “Quando cheguei aqui”, diz o pai, “não tinha nada”. E para mostrar o que era o nada, aparece na tela o Cerrado vivo, uma beleza. “Hoje, depois de muito esforço, deixo tudo isso para você”. E aí se vê a plantação de soja. Tudo dentro do melhor figurino de nossas tradições, que vêem o Cerrado como nada e a soja como tudo. Acho que isso vem de nossa formação colonial, de um velho estranhamento com a nossa natureza. Na literatura colonial, há um elogio ou outro à mata, principalmente quando se fala de coisas populares, como papagaios, cajus ou maracujás. Mas a mata, em si, era sempre vista como obstáculo e problema. Pouquíssimos autores coloniais trataram a mata como coisa preciosa. Há uma passagem em meu livro onde o baiano Miguel Calmon du Pin e Almeida, no Ensaio sobre o fabrico de açúcar”, que é de 1834, reclama dos feitores. Eles não tinham piedade de nada que se refirisse à natureza, dizia Calmon: “As árvores atraem umidade, cobras e tiram a vista”.
Já viu um belo lugar acabar?
José Augusto Pádua – Já vi áreas da Amazônia desertificadas. Vistas de cima, parecem simples clareiras. Mas, de perto, são buracos gigantescos de terra esturricada, muito difícil de recuperar. Já vi muitas situações como essa, por causa do nomadismo que vai sempre abrindo novas fronteiras. O Imazon, que é um instituto muito sério de pesquisa da Amazônia, fez o cálculo de quanto duram os ciclos predatórios de extração da madeira nos municípios da região. Se não me engano, duram em média 16 anos. Ou seja: quatro mandatos de prefeito. Nestes 16 anos, há uma primeira fase em que se corta muita madeira nobre, emprego parece que é mato, a cidade cresce, tudo maravilha. No décimo sétimo ano, os madeireiros já foram embora, a cidade entra em total decadência e o que sobra a seu redor é a natureza destruída. E isso não é só na Amazônia, não.
Não?
José Augusto Pádua – Tive a chance, durante a infância, de viver numa fazenda de meu avô, em Pará de Minas, perto de Belo Horizonte. Ela hoje não existe mais. Ficava numa junção entre o Cerrado e a Mata Atlântica, era pequena para os padrões mineiros, com seus 40 hectares. Mas para nós era muita coisa, uma coisa enorme. Lá a natureza, por não ser muito mexida, era maravilhosa. Ela tinha palmeiras, roseirais, florestas. E também um açude muito grande, cheio de peixe. E as pessoas viviam em torno dessas coisas. Os moradores da vizinhança também usavam o açude para pescar. Aquilo era o paraíso ecológico da minha infância. Na adolescência, perdi o contato com Patos de Minas. A fazenda foi vendida. E só alguns anos atrás voltei a sonhar muito com ela. Fui lá ver o que tinha acontecido com meu paraíso infantil. Fiz questão de ir sozinho. Era uma viagem de reencontro com memórias muito profundas.
Reencontrou?
José Augusto Pádua – Que nada. O que encontrei em Patos de Minas foi uma destruição ambiental escandalosa, da fazenda e de toda a região. Uma coisa brutal. Um desflorestamento absurdo. E o tal lago, que era artificial mas era vivo, estava completamente aterrado. No lugar onde ele ficava, havia um depósito da Parmalat. Mas o que tiro de lição desta história é que coisas parecidas aconteceram no Brasil inteiro. Estou colaborando com um projeto do fotógrafo Sebastião Salgado, em Aimorés, no Vale do Rio Doce, para reconstruir a Mata Atlântica na fazenda que foi de seu pai. Aimorés já foi lugar de exploração de peroba. Houve época em que a cidade tinha mais de cem mil habitantes, cinemas, casas bonitas. Hoje, tem 10 mil pessoas e uma paisagem horrorosa. Salgado e Lélia, sua mulher, me contaram que eles choraram choraram ao rever Aimorés. Eu chorei que nem uma criança ao ver o que tinha acontecido com a fazenda de meu avô. E o pior é que percebi, conversando com as pessoas de lá, é que não chegou de repente uma multinacional e estragou tudo. Foram os políticos e os moradores locais que fizeram aquilo.
Se pudesse salvar o Brasil, por onde começaria?
José Augusto Pádua – Não posso responder esta pergunta, porque o que mais valorizo no Brasil é a sua fascinante diversidade natural. As paisagens do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia talvez estejam mais no meu coração por causa de minha história de vida. Mas o pouco que vi da Caatinga é fantástico. Eu não escolheria preservar o Cerrado em detrimento da Caatinga, ou a Caatinga em detrimento do Cerrado. Quero tudo a que tenho direito.
Isso não torna tudo mais complicado?
José Augusto Pádua – Torna. O Brasil é um país interessante, em matéria ambiental, porque tem problemas de primeiro e de terceiro mundo. Ainda sente falta de saneamento básico, mas já tem que enfrentar a poluição radioativa. Por isso mesmo, tem vários ambientalismos. É um problema que vem de longe. No Brasil, nos anos 70, início dos 80, havia o ambientalismo de classe média, que se inspirava nas idéias que naquele momento começavam a circular na Europa e nos Estados Unidos. Mas havia outro ambientalismo, que também estava aparecendo no Brasil naquela época, o ambientalismo dos pobres. Ele veio de baixo para cima, do interior para os centros urbanos, e custou muito a se encontrar com o ambientalismo que vinha de fora.
Chico Mendes, por exemplo?
José Augusto Pádua – Por exemplo, Chico Mendes, que por sinal conheci de perto. Mas aqueles dois ambientalismos acabaram se encontrando porque, assim como nas grandes cidades havia inchação e especulação imobiliária, nas terras de fronteira e nas antigas áreas de produção extrativista chegava com o desenvolvimento uma nova forma de capitalismo, mais agressiva. Nunca me esqueci de um debate que aconteceu naqueles anos na Região dos Lagos do antigo Estado do Rio, onde os pescadores se sentiam agredidos por lançamentos imobiliários. Depois, comecei a ver isso acontecer com seringueiros, catadores de coco, de babaçu, pequenos agricultores – enfim, em toda parte. Eram reações espontâneas. E contrariavam a crença de que o ambientalismo só interessava às pessoas que, tendo conseguido as coisas básicas e conquistado um padrão de consumo satisfatório, começavam a se preocupar como outras coisas – como silêncio, área verde, água limpa, ar puro. Ou seja, o meio ambiente faria parte das demandas pós-materiais.
E não faz?
José Augusto Pádua – Sempre impliquei com essa teoria, por achá-la muito rígida, muito mecanicista. Então, quer dizer que a gente só dá valor ao silêncio ou ao verde quando está de barriga cheia e carro novo na garagem?
O que está por trás das tensões entre o desenvolvimento sustentável e a conservação pura e simples?
José Augusto Pádua – Essas duas histórias, que convergiram, mas ainda não se misturaram. Eu, por exemplo, sou plenamente a favor de criar parques, reservas, áreas protegidas, tudo isso. Mas sei que só assim não se vai resolver o problema, enquanto os fatores que ameaçam a Amazônia continuarem pressionando para destruí-la. Para defender mesma a natureza, só mudando a economia. Para isso o sistema fiscal pode ajudar, porque tem reflexos imediatos nas atitudes sociais. Pode-se, por exemplo, taxar pesadamente as atividades que consomem muita energia, são predatórias e desperdiçam recursos naturais. E liberar de impostos quem trabalha com fontes de energia renováveis. Mas para isso é preciso criar um bloco político, que sustente a mudança e garanta para ela o apoio da sociedade.
Não dá para ter um ambientalismo só, que agrade a todos os ambientalistas?
José Augusto Pádua – Não, acho que ainda não dá para ter uma solução só. Na democracia, a solução tem que se basear no diálogo, e até o conflito é uma forma de diálogo. Mas um avanço muito grande nesse sentido veio com a Eco-92. Antes, parecia que todo problema ambiental se resumia aos acidentes, como vazamentos de petróleo. Quando o grande problema está no dia-a-dia, nos milhares de pontos de esgoto e poluição da Baía de Guanabara. Depois da Eco-92, a agenda 21 consagrou um programa mínimo para a convergência dos pobres e ricos, subdesenvolvidos e desenvolvidos. Ela diz que o problema ambiental não está só nos desastres que de vez em quando jogam o assunto nas manchetes, mas no dia-a-dia de nossos padrões de produção muito destrutivos e nos padrões de consumo que sustentam o desperdício. Para haver mudança de verdade, é preciso passar por mudanças nas estruturas sociais, econômicas e culturais.
Com tantas dificuldades, o ambientalismo não estaria ameaçado de extinção?
José Augusto Pádua – Uma coisa de que podemos ter certeza – e a experiência vem mostrando isso nas últimas décadas – é que a preocupação ambiental não é uma moda passageira. Não é mesmo. Veio para ficar. Ela passa por ondas na opinião pública, que vão e voltam. Mas daqui para a frente não dará mais para fugir do problema. Há um livro muito bom, chamado “Algo de novo sob o sol”, do historiador americano John Mcneill, que todo mundo deveria ler. Pena que ainda não encontrou no Brasil um editor interessado em traduzi-lo. Porque nos faz falta. Ele mostra como, a partir da virada do século XX, a humanidade atingiu um patamar de crescimento demográfico, de avanço tecnológico, de domínio das fontes de energia, que pela primeira vez a igualou aos terremotos e as vulcões como força capaz de alterar o planeta. Desse ponto em diante, a consciência ambiental é questão de sobrevivência.
Leia também

Governo cria o Parque Nacional de Albardão, com 1 milhão de hectares
UC será o maior parque nacional marinho do país; Governo também criou uma Área de Proteção Ambiental no local, com 55.983 hectares →

Déficit de servidores no Ibama pressiona governo por nomeações
Com cerca de 1.600 cargos vagos, órgão ambiental enfrenta acúmulo de processos administrativos, prescrição de multas e pressão para convocação de aprovados no concurso de 2025 →

Assédio institucional e a ética no serviço ambiental
Órgãos ambientais fortes dependem de equipes valorizadas, protegidas contra interferências indevidas e amparadas por normas claras de governança →