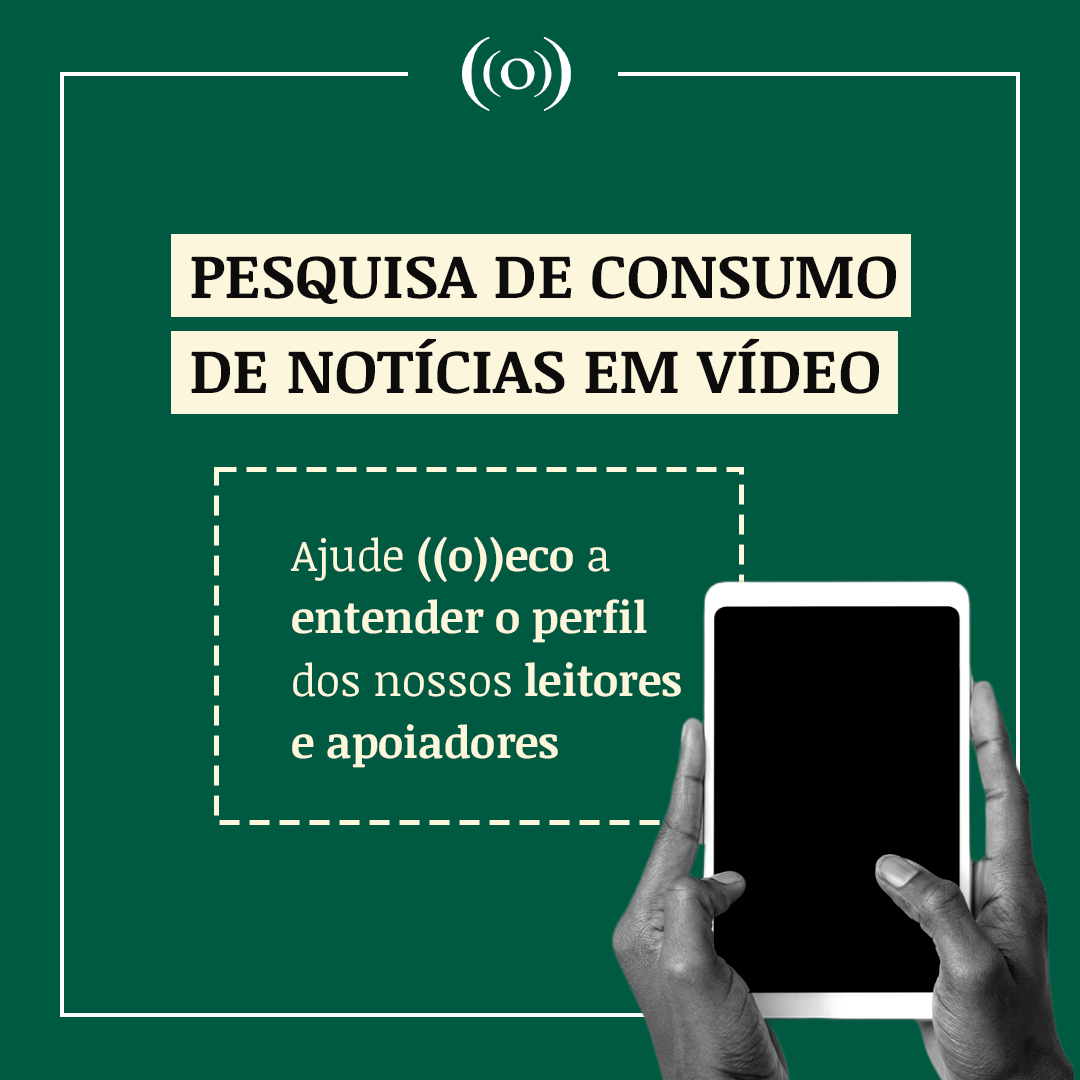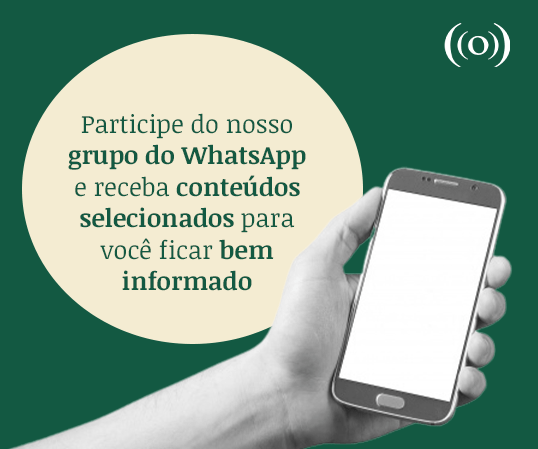Engenheiro, especialista em modelos de mudança do uso da terra aplicados, entre outras coisas, ao desmatamento da floresta amazônica, Câmara não abandonou seu lado de pesquisador e professor quando assumiu a diretoria de um dos mais conceituados centros de pesquisa do Brasil. Diz que o contato com o dia-a-dia da ciência ajuda a manter os pés no chão. Câmara conversou com O Eco no fim da tarde do dia 29 de março. Falou sobre as dificuldades de se realizar pesquisa de ponta no país e quais os planos do Inpe para o futuro, além de contar como o instituto se tornou tão ligado a questões ambientais. Foi um dia cheio. A entrevista estava marcada para horas antes, mas precisou ser adiada devido a uma banca de doutorado mais longa que o esperado, reuniões, trabalho burocrático… e cumprimentos de aniversário. Nesse dia, o diretor completava 51 anos.
Como vai a situação financeira do Inpe?
Câmara – O orçamento do Inpe tem crescido razoavelmente. De 2003 para 2007 ele se multiplicou por quatro. Eram 40 milhões, agora está em 160 milhões, a grosso modo. O desafio é que precisamos crescer ao mesmo tempo em várias dimensões – em missões, capacitação, recursos e interação com a sociedade. Não adianta fazer um monte de soluções e produtos se a sua interação com a sociedade não aumenta.
A popularidade do Inpe aumentou?
Câmara – O Inpe hoje é um instituto que se destaca no Brasil porque ele atua em setores singulares. O que o Inpe faz, mais ninguém faz. Quer exemplos? Os setores de previsão numérica de tempo; a modelagem numérica de mudanças climáticas; a parte de construção de satélites de observação da Terra; o uso e a dissiminação desses dados, como a aplicação no desmatamento da Amazônia; e a parte do desenvolvimento de tecnologias de geoprocessamento. Em tudo isso, geramos produtos e serviços únicos para a sociedade brasileira.
Onde o Inpe precisa melhorar?
Câmara – Há um conjunto razoável de competência no Brasil sobre mudanças climáticas. Existe uma comunidade que está estabelecida e que está crescendo. Quais são as perspectivas de mudanças do Inpe? Melhorar seu sistema de previsão do tempo e mudanças climáticas, melhorar o seu programa de satélites e o seu programa de aplicações com a sociedade. Nós chamamos isso aqui de Agenda Científica, Agenda Tecnológica e Agenda Social. O Inpe se organiza dentro dessa lógica.
Quais são as dificuldades que o Inpe enfrenta para realizar pesquisas?
Câmara – São três dificuldades: a primeira é gente, a segunda é gente, a terceira é gente. No fundo, a dificuldade que o Inpe tem e, em geral, toda a área de ciência e tecnologia do governo federal e das instituições de pesquisa, é gerenciamento de pessoas. Como contratar, demitir, remunerar bem, manter, fazer com que as pessoas progridam. Existe um problema sério de falta de uma política de gestão de pessoal no governo. Isso é uma dificuldade que o Inpe sofre muito. Para o Brasil ter uma instituição de qualidade, não há outra maneira senão ter uma política que valorize a qualidade. Hoje, se o Brasil quer ter um Inpe, ele tem que querer manter o Inpe. Tem que oferecer remunerações decentes, mínimas, adequadas [hoje, o máximo que um pesquisador com doutorado pode ganhar do Ministério Ciência eTecnologia é R$7.380. O salário inicial, para quem só tem a graduação, é R$2.578]. Tem que valorizar a carreira, com capacidade de contratação de jovens para manter o fluxo de pessoas funcionando. De uma maneira geral, falta capacidade de renovação dos quadros de ciência e tecnologia e remuneração adequada. Se eu tiver gente, tenho bons projetos.
A fuga de cérebros é um problema?
Câmara – A fuga de cérebros não é relevante, é baixa. O difícil é contratar. Uma vez que você contrata, a taxa de saída é baixa. As pessoas tendem a se apaixonar pelo que fazem. E se o salário for minimamente razoável, as pessoas ficam no Brasil. A quantidade de pessoas que o Inpe perdeu para o exterior nos últimos dez anos é pequena. Na verdade, os cérebros fogem antes. Hoje, isso ocorre mais quando o jovem recém-formado vai fazer pós-graduação nos Estados Unidos ou na Europa. Esse jovem chinês, indiano, brasileiro, coreano ou mexicano fica por lá por causa das oportunidades. O ponto do exôdo de cerébros nasce não depois que a pessoa está estabelecida, com pesquisa, etc. Mas quando ela se forma. O problema é esse jovem profissional não chegar aqui. Isso existe na medida em que o Brasil não tem uma política de aproveitamento das competências que está formando.
E não tem.
Câmara – Não tem. A gestão pública não é profissional. Os países desenvolvidos estabeleceram que a gestão das empresas e instituições públicas é baseada em meritocracia. Na França, é muito difícil chegar a um posto dentro de um órgão de pesquisa, do centro espacial francês, se você não é membro de uma elite, no sentido de qualidade. Na Inglaterra e na Alemanha é a mesma coisa. Como no Brasil a nossa gestão de governo em geral não é baseada na meritocracia , a sociedade não acredita no valor das instituições públicas.
A falta de credibilidade afeta o andamento das pesquisas?
Câmara – Como a sociedade brasileira não acredita que o governo seja capaz de ocupar os postos do serviço público com profissionais de qualidade, ela não quer dar ao Estado capacidade de se modernizar. E como o próprio estado também não sinaliza para a sociedade que está ocupando os postos por meritocracia e não por indicação política, esse ciclo vicioso se estabelece. O Ministério de Ciência e Tecnologia é um dos poucos órgãos em que as indicações dos institutos são baseadas em comitês de busca, em meritocracia.
“HOJE A PERCEPÇÃO DA SOCIEDADE SOBRE MUDANÇAS GLOBAIS É PAUTADA PELO RESULTADO DA CIÊNCIA.”
Como o Inpe, dedicado a pesquisas espaciais, começou a realizar tanta pesquisa relacionada ao meio ambiente?
Câmara – A tecnologia espacial e o sensoriamento estão no Inpe desde o começo. Quando o Brasil começou o seu programa espacial, ele notou que nos Estados Unidos um componente importante era o satélite que olha para a Terra. O Inpe nunca teve programas de treinamento para vôos tripulados, por exemplo. A ênfase sempre foi um pouco de astrofísica e muito de observação do planeta. Aí vieram os satélites norte-americanos de sensoriamento remoto, o Landsat, que foi lançado em 1973. Nós começamos a receber essas imagens desde o início e até hoje somos grandes usuários delas. Há um ponto de inflexão entre 1986 e 1988, quando o diretor do Inpe era o doutor Marco Raupp e o ministro de Ciência e Tecnologia era o Renato Archer, que tinha muita influência no governo, muita visão. É aí que se dá a transformação no Inpe da small science (a pequena ciência, individual), para a big science, com grandes investimentos, grandes equipes trabalhando num número reduzido de projetos. Nessa época surgiram dois grandes projetos que o Inpe tem até hoje: o satélite sino-brasileiro (Cbers) e o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).
O que esses dois projetos têm em comum?
Câmara – Ambos têm uma característica: são concentradores de recursos. Não se faz cinco satélites ao mesmo tempo – se faz um. Montam-se equipes em torno de um projeto comum. Há quem faça um pedaço da estrutura, um pedaço do painel solar, um pedaço do instrumento, um pedaço do transmissor. No CPTEC é a mesma coisa: há uma grande infra-estrutura, que é um supercomputador. Um pessoal faz modelagem global de três dias, outro faz modelagem de seis meses, outro faz modelagem do clima daqui a cinqüenta anos. Todos compartilham a mesma infra-estrutura computacional, software, e, no fundo, a física do problema, que é parecida.
E como os projetos se relacionam com o meio ambiente?
Câmara – O Inpe antecipou há vinte anos o que hoje é um consenso: que a sustentação a longo prazo do novo movimento ambientalista passa por uma aderência consistente às ciências “desumanas” (aquela que acha que tudo pode ser quantificado). Nós pegamos muitos dados de satélites que são coletados em solo, e fazemos o processamento desses dados. É uma abordagem quantitativa do meio ambiente, que funciona para questões que ultrapassam a escala humana. Porque quando se lida com questões em escala macro (sejam elas regionais, nacionais ou globais), é muito difícil ter uma apreensão individual dessa realidade. Não se pode pegar com as suas mãos, pisar com pés, ver com olhos. Não se consegue sozinho ver todas as geleiras do mundo. Isso só se consegue com satélite. Do mesmo jeito, não dá para botar uma brigada de gente para andar em todos os cantos da Amazônia para ver o quanto está sendo desmatado.
Como o ambientalismo era antes?
Câmara – A visão não era essa, e a virada ainda não está completa. Historicamente, o movimento ecológico tem duas grandes vertentes. A primeira é local: think globally, act locally ( pense globalmente, aja localmente). Ele começa a partir de experiências individuais de degradações, com organizações como o Sierra Club , o Greenpeace, o Friends of the Earth. Essa é a gênese do movimento. A segunda vertente é uma concepção “telúrica” da natureza: a hipótese Gaia, do James Lovelock. O livro é todo baseado em uma concepção qualitativa da natureza, quase não tem instrumentos quantitativos. O movimento ambientalista era – e parte dele ainda é – anti-científico, partindo do princípio que a ciência é quem gerou, com seus avanços tecnológicos, o caos em que a gente vive hoje.
O que mudou?
Câmara – Nós estamos partindo para um debate diferente. Por exemplo: os países em desenvolvimento devem ter metas de emissão? A energia nuclear deve voltar? Esse é um debate totalmente diferente de vinte anos atrás. O discurso ambientalista era simplesmente “energia nuclear, não!”. Há pouco tempo, um ex-presidente do Greenpeace abriu um debate dizendo que é a favor da energia nuclear. Agora não basta o achismo, não basta o sentimento, não basta a boa vontade. Não basta a luta por aquilo que “é o meu chão, a preservação da minha terra, como era verde o meu vale, etc”. É preciso hard fact, hard data [fatos concretos, dados concretos], jogar o jogo do sistema capitalista para valer. Com isso, quantificação da natureza passa a ser essencial para a questão ambiental no mundo inteiro. Há pouco tempo havia muito mais ceticismo com relação às mudanças globais do que agora, depois do relatório do IPCC. Hoje a percepção da sociedade sobre as mudanças climáticas é pautada pelo resultado da ciência.
O que o Inpe gostaria de ter, ou precisa ter, e não tem?
Câmara – Se tudo correr bem, nós vamos receber em breve um novo supercomputador para o CPTEC, que vai permiter melhorarmos muito a capacidade de modelagem de mudanças globais. Mas nós temos um progresso muito grande para fazer nas questões que ligam as mudanças ambientais e as políticas de desenvolvimento. Nós precisamos aumentar a biodiversidade dos nossos pesquisadores, ter mais gente com formação em ciências humanas. Desde que, é claro, aceitem a visão quantitativa. Precisamos incorporar algumas hipóteses de áreas como a geografia, a economia, a antropologia e a sociologia. Para modelar o comportamento dos fazendeiros de soja na Amazônia e seu impacto no desmatamento, por exemplo. Sem essas disciplinas, vai ser muito difícil traçar hipóteses de comportamento dos atores socias, que são muito importantes num contexto de mudanças globais. Estudar essas mudanças não envolve só previsão de tempo. Elas incluem os seres humanos e as conseqüências que eles sofrem e causam ao ambiente.
O supercomputador está mesmo confirmado?
Câmara – Não está confirmado. Mas eu, como diretor, tenho que trabalhar com a hipótese de que não é possível que o Inpe não tenha um novo supercomputador. Há recursos. Não está anunciado, mas vai sair. Eu acho muito difícil o governo não investir nessa área.
Como tem sido a relação do Inpe com o governo federal?
Câmara – O Inpe é governo…
Mas não tem uma briga interna entre diversas partes do governo para ver quem abocanha a parte maior do bolo?
Câmara – Qualquer governo tem contradições internas. Nenhum governo do mundo é hegemônico. Eles têm divergências que refletem a diversidade da sociedade. O Inpe é respeitado em todos os órgãos do governo. A ministra Marina Silva é uma grande amiga nossa. Nós temos excelentes relações com a Embrapa, com o próprio MCT, com a Casa Civil. O Inpe tem credibilidade. Esse não é o nosso problema. O problema do Inpe é a lógica de gestão geral do governo em relação ao seu pessoal. O governo não consegue diferenciar, entender o que são instituições de excelência. Não captou a importância delas para o país. Na lógica da Fazenda e do Planejamento, o problema hoje é gasto público e a relação do gasto com o PIB, o superavit fiscal, as metas de inflação… É aquilo que, jocosamente, se chama de “cabeça de planilha”. Agruras da economia comandam 100% do tempo e das ações. Mas de uma maneira geral as relações são muito positivas.
Como é conciliar o cargo de diretor com aulas e pesquisa?
Câmara – A pesquisa me dá uma disciplina intelectual fundamental para a condução do trabalho de diretor. Manter a atividade, orientar teses, publicar artigos e dar aulas mantêm aquilo que os americanos chamam de grounding. Pode-se estar com a cabeça nas nuvens, mas os pés estão no chão. Eu trabalho relativamente muito, mas entendo que esse investimento que faço em dar aulas, ensinar, é fundamental para a minha atividade de direção.
“NÃO SE PODE MAIS BRINCAR COM A AMAZÔNIA. TRATA-SE DE UM DESAFIO DE GERAÇÃO.”
Que pesquisas do Inpe são destaques hoje na área de meio ambiente?
Câmara – Tem muita coisa. Por exemplo, a pesquisa de downscaling de modelos marengo – pegar os modelos do IPCC e trazê-los para a realidade brasileira, que é liderada pelo Carlos Nobre e José Marengo. Tem também os modelos de previsão de poluição industrial, também no CPTEC, feitos pela Carla Longo e o Saulo Freitas, um trabalho de muito bom nível. Um outro desenvolvimento importante é o chamado Amazônia 1.
O que é o Amazônia 1?
Câmara – É um satélite que vai permitir que a gente melhore significativamente a nossa capacidade de detecção. Cada pixel da câmera do satélite corresponde a um quadrado. Quanto menor esse quadrado, melhor a resolução. É como uma máquina digital comum, que tem não sei quantos megapixels: quanto mais, melhor a foto. Outro dado importante é a revisita, ou seja, quantos dias demora para o satélite voltar no mesmo lugar. Uma das câmeras que está no Cbers 2 (hoje em funcionamento), a WFI, tem 250 metros de resolução espacial (a dimensão do menor elemento visível no terreno é de 250m por 250m) e três dias de revisita. A outra, a CCD, tem 20 metros de resolução e 26 dias de revisita. Na próxima geração de satélites, o Cbers 3 (ainda parte do programa em cooperação com a China), vai ter uma câmera com 70 metros de resolução por 5 dias de revisita. O Amazônia 1, um satélite totalmente brasileiro que queremos lançar em 2010, deve ter 40 metros de resolução com 5 dias de revisita. Se esses dois satélites operarem juntos, teremos algo como 50 metros de resolução com dois dias e meio de revisita. Isso vai dar aos sistemas de detecção do desmatamento uma resolução muito melhor do que temos hoje no Deter (250 metros com dois dias, com o satélite MODIS). A gente está melhorando as duas coisas. Imagine: se fôssemos capazes de ver a Amazônia todo dia com dois metros de resolução, seria uma capacidade tremenda…
E precisa de tanto?
Câmara – Nós poderíamos pegar o desmate seletivo, todo o desmatamento. Teríamos uma capacidade extradordinária de monitorar o que está acontecendo. Isso poderia ser posto na internet. Pela web, não só a polícia federal, mas Deus e o mundo poderiam ser avisados de qualquer desmatamento, qualquer cortezinho que aparecesse. Isso é uma coisa que, a médio prazo, o Brasil vai ter que ter. Mesmo os 14, 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento que acontecem hoje já são muito. Se voltar a subir para os 27 mil km2 (espero que não aconteça), é uma catástrofe ambiental, de biodiversidade, diplomática, de emissões… O Brasil não pode. Essa é uma tarefa monumental, que deve ser assumida não só pelo Ministério do Meio Ambiente ou pelo Inpe, mas por toda a sociedade brasileira. Não se pode mais brincar com a Amazônia. Trata-se de um desafio de geração: um dia nós vamos contar para os nossos netos o que representa esse desmatamento de hoje em termos de perda de biodiversidade e das nossas emissões. É uma responsabilidade colossal. E, para dar conta dela, precisamos aumentar nossa capacidade de monitoramento. Os dados precisam ser processados rapidamente e entrarem na web, para se tornarem públicos, como tudo que o Inpe produz. Disponibilizar a informação para toda a sociedade brasileira não é favor, é obrigação.
Quanto custa o Amazônia 1?
Câmara – Em torno de 120 milhões de reais. A gente já conseguiu 30 milhões, deve conseguir da Finep mais 30, vão faltar 60. Hoje a questão é dinheiro. Mas eu sou otimista. O mesmo discurso que eu faço para O Eco, eu faço para os deputados. Cento e vinte milhões de reais parece muito. Mas preste atenção nesse dado: tudo o que o país investiu em 45 anos de Inpe custou à nação a mesma coisa que custou o Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia, que custou 1,4 bilhão de dólares). Precisa dizer mais alguma coisa? Não preciso dizer mais nada. Isso mostra a diferença entre o investimento na compra de equipamentos de fora e o investimento em inteligência. Eu sou otimista. Eu acredito na inteligência brasileira, que a sociedade evolui. Parece que não. Mas a tendência no longo prazo é um certo amadurecimento.
E que fim levou o Sivam?
Câmara – Não sei.
Leia também

Desmatamento no Cerrado cai no 1º semestre, mas ainda não é possível afirmar tendência
Queda foi de 29% em comparação com mesmo período do ano passado. Somente resultados de junho a outubro, no entanto, indicarão redução de fato, diz IPAM →

Unesco reconhece Parna dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio da Humanidade
Beleza cênica e fato de os Lençóis Maranhenses serem um fenômeno natural único no mundo levaram organização a conceder o título →

Dez onças são monitoradas na Serra do Mar paranaense
Nove adultos e um filhote estão sendo acompanhados pelo Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar. Primeiro registro ocorreu em 2018 →