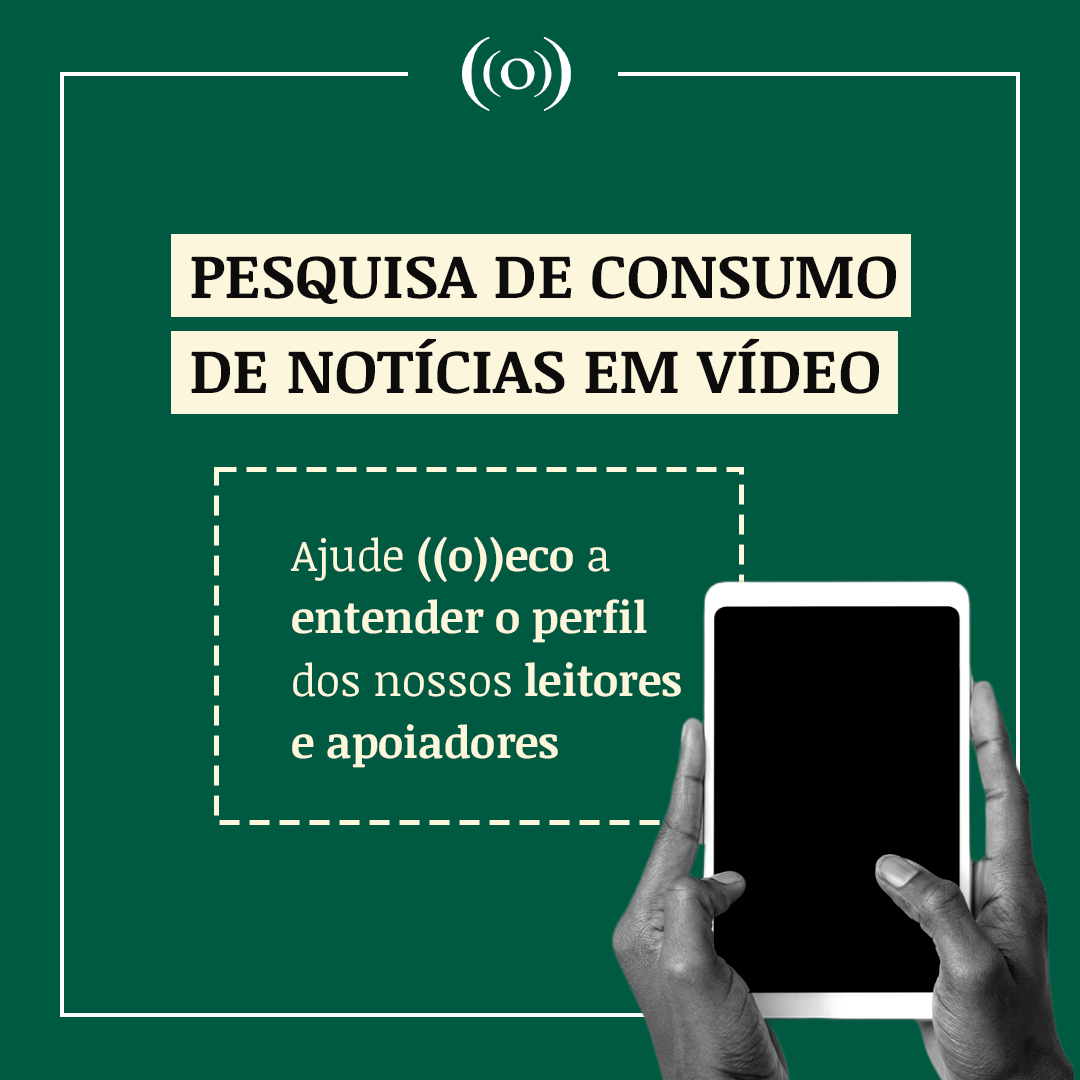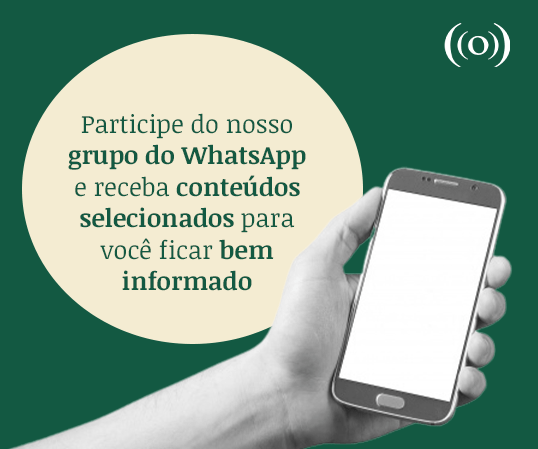Indústrias poluidoras e depósitos de resíduos tóxicos estão localizados, em sua maioria, perto de locais onde moram pessoas pobres. Para a sociologia, se nessas areas moram pessoas de uma mesma etnia, isso pode ser qualificado como racismo ambiental. O termo foi cunhado nos Estados Unidos no início da década de 90, referindo-se ao fato que negros e latinos são em geral as vítimas preferenciais dos desastres ambientais. A idéia ganhou reforço científico nas universidades e legitimou movimentos civis de protesto contra esse quadro. E agora chega ao Brasil.
Entre os dias 28 e 30 de novembro, pesquisadores, líderes de moradores de periferias, indígenas e quilombolas participaram, em Niterói (RJ), do 1º Seminário Brasileiro contra o Racismo Ambiental. Ainda que a idéia de racismo possa ser questionada por aqui, o evento revelou que não é mais possível estudar e ajudar grupos sociais excluídos sem abordar a questão ambiental. E para os pesquisadores, a relação inversa também vale. “Não existe natureza sem justiça social”, declarou o antropólogo nepalense Pramod Parajuli, da Universidade de Portland (EUA).
“Percebemos que os problemas ambientais são sentidos de forma diferenciada pela sociedade. Eles afetam muito mais as populações vulneráveis”, explica a socióloga Selene Herculano, da Universidade Federal Fluminense (UFF). Diante da ameaça do desemprego, muitos trabalhadores aceitam serviços perigosos, e empresas poluidoras mostram-se cada vez mais interessadas em explorar essa vulnerabilidade.
Pesquisadores da Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) – que desde 2001 ajuda comunidades discriminadas a enfrentar problemas ambientais – dizem que é possível falar em racismo. Isso porque, ainda que as ações não tenham intenção racista, os impactos raciais são inegáveis. “Podemos usar o conceito de racismo como todo pensamento social que acredita que certas pessoas são superiores a outras”, afirma Selene.
Enquanto essa superioridade é camuflada no Brasil, nos Estados Unidos é motivo de um movimento cada vez mais forte. E para os dois extremos. Um movimento de resistência liderado pelo sociólogo Robert Bullard incentiva populações não brancas (negros, asiáticos, latinos e índios) a exigirem que o governo pare de mandar para suas comunidades empreendimentos poluidores que não trazem qualquer benefício aos moradores. Ele realizou uma pesquisa e chegou à conclusão de que o fato de uma zona ser habitada por negros é critério positivo para a deposição de poluentes industriais, por exemplo.
No site do Centro de Pesquisa em Justiça Ambiental da Universidade de Atlanta, dirigido por Bullard, além de diversos artigos sobre o tema, são indicadas algumas páginas na internet onde é possível comprovar os resultados de sua pesquisa. Ou seja, saber a localização e os danos ambientais a diversas populações negras que passaram a se mobilizar no movimento What´s In My Backyard (algo como “O que há no meu quintal?”). “Os princípios da justiça ambiental têm um potencial enorme de mobilização porque estão relacionados aos direitos civis, ao direito de igualdade em todos os sentidos, de ter proteção, assistência. É uma questão de vida ou morte”, diz. Assim, apesar das dificuldades, Bullard contabiliza muitas vitórias. “No estado da Luisiana, uma companhia japonesa que fabricava tubos de PVC quis se instalar no meio de uma comunidade negra, que se mobilizou de forma tão impressionante contra o empreendimento que a empresa teve que ir embora”.
Lições do Katrina
Bullard esteve em Niterói e contou que o problema não tem só a ver com os passivos ambientais que afetam essas populações, mas com as restrições de acesso às coisas boas da sociedade, como serviços, produtos e a própria natureza preservada. “Nos Estados Unidos, a cor da sua pele determina que tipo de uso do solo você pode fazer. Os negros são vistos como não merecedores das melhores coisas”, afirma.
Um exemplo recente de racismo ambiental foi a devastação provocada pelo furacão Katrina na cidade de Nova Orleans, onde viviam cerca de 500 mil pessoas – 70% delas, negras. Para Bullard, o Katrina foi um desastre não-natural porque o governo foi omisso e negligente, ao não utilizar toda tecnologia disponível para salvar os moradores. “80% da cidade ficou debaixo d’água. Três meses após a passagem do furacão, ainda existem 2 mil crianças separadas de suas famílias. Nova Orleans está cheia de lixo, pessoas estão doentes, não há transporte público”, enumera Bullard.
A situação prolongada de caos e destruição em Nova Orleans foi agravada ainda mais por atitudes típicas de apartheid. “Não deixaram os negros fugirem da cidade pela ponte. A evacuação não podia ser feita para áreas de maioria branca e isso vai ser um dilema para o futuro: quando for preciso fazer retiradas de emergência em casos de terrorismo e epidemias, como é que vai ser?”, indaga Bullard, lembrando a posição do governo: “Eles só dizem sink or swim [afunde ou nade]”.
Injustiças ambientais
Diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil o que mais se registra são casos de desinteresse em relação a quem quer que resida em regiões menos valorizadas. “Por aqui, falamos em injustiça ambiental, que é um conceito mais amplo. A luta ambiental está muito próxima da luta pelas pessoas”, afirma Jean Pierre Leroy, educador da ong Fase. Um exemplo são os 32 quilombos do norte do Espírito Santo, que se dizem ilhados pela expansão da monocultura da cana-de-açúcar e das plantações de eucaliptos. “Queremos lutar pela Mata Atlântica novamente, que hoje está muito afastada de nós”, diz Silvia Lucinda, representante dos quilombolas.
Quem também reclama de injustiças ambientais é o pajé Luis Caboclo, da aldeia Tremembé, do Ceará. Só no seu estado, 245 fazendas de camarão já detonaram mais de 6 mil hectares de manguezais, que são “a única mata que restou para os índios”, nas palavras do pajé. Além da destruição do ecossistema, a atividade polui as lagoas e destrói os hábitos culturais do grupo. Direto do médio rio Negro, no Amazonas, o médico da Fiocruz Pedro Albajar revelou um outro caso de injustiça ambiental. Diz que, em plena floresta, há diversos trabalhadores morrendo infectados pela doença de Chagas porque são obrigados a se embrenhar na mata para extrair piaçaba para produção de vassouras. Ao entrarem em contato com o piolho-da-piaçaba, inseto que transmite a doença, os homens são contaminados, sem que haja políticas públicas para protegê-los.
No Recôncavo Baiano, a população da cidade de Santo Amaro é amparada pela Associação Cultural Preservação do Patrimônio Bantu (Acbantu), com cestas básicas e apoio para mobilizações contra o poder público, que deixou a Companhia Brasileira de Chumbo (Cobrac), do grupo francês Piñarroya, poluir a região por 30 anos. O resultado pode ser visto hoje, com crianças nascendo mutiladas e enorme percentual de pessoas com câncer, contaminadas com o chumbo que era despejado pela fábrica e ainda foi reutilizado em obras variadas pela cidade. “Isso aconteceu no bairro negro e poluiu o ar, o solo e a água”, diz Konmannajy.
Um dos desejos dos organizadores do evento em Niterói é mapear as injustiças ambientais do Brasil, mais ou menos como fizeram os pesquisadores do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ), que no ano passado lançaram o CD-Rom “Mapa dos Conflitos Ambientais do Estado do Rio de Janeiro”. Durante dez anos, eles contabilizaram, classificaram e descreveram 251 problemas ambientais em 49 municípios. Em mais um ano de pesquisa, praticamente dobraram o número de conflitos, que serão divulgados em nova publicação em janeiro de 2006.
Leia também
“Cidade Esquecida” – Ana Antunes
“Cidade dos Meninos” – Paulo Bessa
Leia também
Cidade esquecida
Os moradores da Cidade dos Meninos convivem há décadas com toneladas de resíduos tóxicos. Os riscos à saúde são enormes, mas o governo não parece ter pressa. →

Desmatamento no Cerrado cai no 1º semestre, mas ainda não é possível afirmar tendência
Queda foi de 29% em comparação com mesmo período do ano passado. Somente resultados de junho a outubro, no entanto, indicarão redução de fato, diz IPAM →

Unesco reconhece Parna dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio da Humanidade
Beleza cênica e fato de os Lençóis Maranhenses serem um fenômeno natural único no mundo levaram organização a conceder o título →