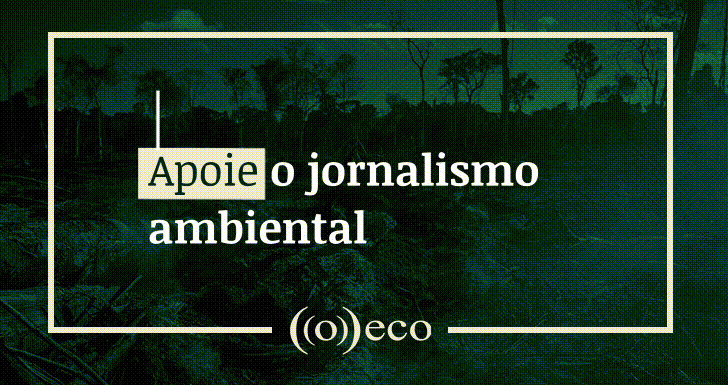Em dezembro de 2025, o Center for Biological Diversity publicou o relatório Exotic Exploitation, revelando que entre 2016 e 2024 os Estados Unidos importaram a incrível quantia de mais de 248 milhões de animais vivos, com uma média de 90 milhões por ano. Répteis representam 5,3 milhões desse total, com cerca de 40% capturados diretamente da natureza. O Brasil figura como o décimo maior fornecedor destes animais, com 3,89 milhões de espécimes exportados no período, saindo da natureza para serem vendidos no mercado estadunidense.
Mas o Brasil não é apenas origem, é também destino. E quando serpentes peçonhentas exóticas chegam aqui, por tráfico, abandono, fuga ou apreensão, alguém precisa cuidar delas. Na maioria das vezes, são instituições públicas como o Instituto Butantan, que arcam com custos invisíveis para o contribuinte brasileiro.
Um problema persistente
O comércio online de répteis e anfíbios não é novidade no Brasil. Em agosto de 2011, a Operação Arapongas, envolvendo policiais federais e fiscais do IBAMA em sete estados, já desarticulava uma quadrilha que vendia “todo e qualquer tipo de animal” através de um site. Répteis, anfíbios, mamíferos e aves, obtidos de criadouros irregulares ou capturados na natureza, atendiam a encomendas inclusive para o exterior.
Enfrentar o problema não é simples, e com o passar do tempo, a escala só se ampliou: em março de 2021, depois de uma investigação que durou 4 anos, a Operação Teia identificou 1.277 animais expostos à venda na internet, resultando em 137 animais resgatados e R$ 518,6 mil em multas aplicadas em 15 estados. Em setembro de 2025, a Operação São Francisco, maior ação contra o tráfico de animais já realizada no Brasil, revelou as ligações entre o comércio ilegal de fauna e facções criminosas, trazendo à tona uma rede cada vez mais sofisticada, baseada principalmente em redes sociais.
A sobrecarga das instituições que recebem os animais apreendidos
Entre 2020 e julho de 2025, os 25 Centros de Triagem/Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS/CETRAS) do país receberam cerca de 330 mil animais, sendo 72% aves, 15% répteis e 12% mamíferos. Mas os CETAS, estruturados para fauna nativa, não estão preparados para manejar serpentes peçonhentas exóticas, que exigem instalações especializadas, protocolos de segurança rigorosos e, principalmente, acesso a soros antiofídicos específicos.

É aí que entra o Museu Biológico do Instituto Butantan. A instituição, referência mundial em pesquisa com animais peçonhentos, tornou-se destino obrigatório para serpentes exóticas apreendidas em operações policiais. Entre 2019 e o presente, o Museu recebeu 562 répteis exóticos. A grande maioria são corn snakes (gênero Panterophis), espécie norte-americana queridinha dos criadores ilegais. Os demais 98, que chegaram por apreensão policial ou abandono, são 80 serpentes e 16 lagartos, originários principalmente da África, Ásia e América do Norte. Entre as serpentes, nove são peçonhentas, incluindo najas asiáticas, cascavéis norte-americanas e víboras arbóreas da Indonésia. Na exposição atual podem ser vistas duas najas asiáticas (Naja kaouthia), víboras-verdes (Trimeresurus insularis), cascavéis norte-americanas (Crotalus atrox) e até monstros-de-gila (Heloderma suspectum).

Cada animal representa custos contínuos: alimentação especializada, ambientação adequada, climatização de recintos, acompanhamento veterinário, horas técnicas de profissionais qualificados. E, principalmente, no caso de serpentes venenosas, a necessidade de manter soros antiofídicos importados para eventuais acidentes, soros que o Brasil não produz.
O preço do tratamento e da prevenção dos problemas
Em julho de 2020, um estudante de veterinária de 22 anos foi picado por uma naja asiática que mantinha ilegalmente em sua residência em Brasília. O caso expôs não apenas uma rede de tráfico que operava via redes sociais, mas também um dos problemas de se manter serpentes venenosas exóticas: o sistema de saúde brasileiro não mantém, no país, soro específico para espécies que não ocorrem aqui. O Butantan precisou enviar às pressas seu estoque de soro antielapídico africano, importado pela própria instituição, para salvar a vida do rapaz.

Para manter essas espécies em exposição educativa e garantir segurança aos técnicos, o Butantan precisa importar soros antiofídicos a custos elevadíssimos. Além do custo elevado, os soros possuem validade limitada, e precisam ser adquiridos periodicamente mesmo que não sejam usados. São recursos públicos que deixam de ser direcionados para a pesquisa e produção de soros para espécies nativas, os que salvam milhares de vidas brasileiras por ano, usados para remediar consequências do tráfico internacional.
Patógenos invisíveis, riscos reais
Os custos financeiros são apenas parte do problema. Répteis e anfíbios comercializados internacionalmente carregam patógenos que representam riscos à saúde animal e humana, o que os pesquisadores chamam de abordagem “One Health”, ou de Saúde Única.
Estudos recentes documentam a prevalência de serpentovírus (nidovírus) em até 37% das coleções cativas de pítons, causando doença respiratória frequentemente fatal. No próprio Butantan, pesquisadores já detectaram reptarenavírus em boídeos, uma evidência de que a “disrupção antropogênica da ecologia de patógenos”, como descrevem os cientistas, já chegou ao Brasil.
Carrapatos do gênero Amblyomma encontrados em répteis importados já foram identificados como portadores de genes de Rickettsia, o agente da febre maculosa. Um estudo japonês detectou esses genes em 42 de 93 amostras de carrapatos em répteis de estimação. Nos Estados Unidos, inspeções do USDA encontraram carrapatos em 97 de 349 carregamentos de répteis, envolvendo mais de 54 mil animais.
A Salmonella coloniza 45% das serpentes e 38% dos lagartos em cativeiro, com 79% das cepas apresentando resistência a múltiplos antibióticos. Estima-se que 6% dos casos humanos de salmonelose nos EUA estejam associados a répteis de estimação, o que levou à proibição, desde 1975, da venda de tartarugas com menos de 10 centímetros, medida que previne cerca de 100 mil infecções anuais em crianças.
Para anfíbios, o cenário é igualmente preocupante. O fungo quitrídio (Batrachochytrium dendrobatidis), disseminado globalmente pelo comércio de animais de estimação, já levou mais de 500 espécies de anfíbios ao declínio e pelo menos 90 à extinção. Um estudo brasileiro de 2021 documentou que o número de espécies de anfíbios traficadas no país saltou de 5 para 32 em apenas cinco anos, tendo as redes sociais como principal plataforma de vendas.
Diante desses riscos, o Museu Biológico do Instituto Butantan mantém protocolo rigoroso de quarentena para todos os animais recebidos. Um custo adicional, em tempo e recursos, que recai sobre a instituição, mas que é indispensável para proteger tanto o acervo quanto a saúde dos profissionais que manejam esses animais.

O tráfico de herpetofauna representa, portanto, uma ameaça à saúde pública que permanece largamente ignorada. Animais traficados não passam por qualquer triagem sanitária, e seus patógenos viajam silenciosamente junto com eles. Numa era em que pandemias emergem do contato descontrolado entre humanos e fauna silvestre, ignorar essa interface é negligência. A abordagem de Saúde Única nos ensina que a saúde humana, dos outros animais e ambiental são indissociáveis, e o tráfico de fauna representa uma ruptura deliberada dessa conexão.
A fábrica de demanda
Antes da popularização das redes sociais, o comércio ilegal de répteis exóticos dependia do boca a boca, em informações passadas entre conhecidos, contatos em feiras clandestinas, indicações de “iniciados”. Hoje, um adolescente com celular encontra em segundos grupos de WhatsApp e perfis no Instagram oferecendo najas, víboras e pítons. As redes sociais não apenas ampliaram exponencialmente o alcance do tráfico, mas também aceleraram a velocidade com que a demanda se propaga: cada vídeo viral de uma serpente “de estimação” gera centenas de potenciais compradores. Segundo relatório do Google, metade dos jovens já trocou ferramentas de busca tradicionais por TikTok e Instagram. Vídeos de animais exóticos viralizam constantemente, quase nunca acompanhados de alertas sobre legalização ou condições adequadas de criação.

O dilema é complexo: a proibição total não elimina a demanda, mas apenas a empurra para o mercado ilegal. Por outro lado, a flexibilização sem controle gera problemas como os dos Everglades na Flórida, onde pítons birmanesas (Python bivittatus) liberadas por donos irresponsáveis se tornaram espécie invasora, causando declínio drástico nas populações de mamíferos nativos. No Brasil, essa espécie também pode vir a se tornar um problema, e por imperícia de quem deveria estar preparado. Entre 2022 e 2023, agentes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil soltaram pítons e outras serpentes exóticas em áreas de Cerrado e Mata Atlântica após confundi-las com espécies nativas, erros que poderiam ter sido evitados com capacitação adequada ou a simples consulta a um biólogo.
O que fazer?
A Lei de Crimes Ambientais de 1998 enquadra o tráfico de animais silvestres como crime de “menor potencial ofensivo”, o que, além de gerar sensação de impunidade, impede que o Brasil aplique a Convenção da ONU sobre Crime Organizado, que exige que a infração seja classificada como crime grave. Um projeto de lei com sanções mais duras tramita há mais de 15 anos no Congresso Nacional.
A expectativa de que um sistema regulatório robusto poderia coibir o tráfico esbarra em evidências contundentes de sua ineficácia. Dados do próprio IBAMA indicam que menos de 5% das multas ambientais aplicadas são efetivamente pagas, e os valores das penalidades são irrisórios frente aos lucros do comércio ilegal. A própria fiscalização é precária: uma vez concedida a licença, o monitoramento dos criadouros se resume a relatórios anuais escritos, frequentemente com dados imprecisos ou incompletos, e vistorias só ocorrem mediante denúncia. Mais preocupante ainda é a sofisticação das fraudes: criadores trocam microchips entre animais legalizados e ilegais da mesma espécie, tornando a detecção praticamente impossível durante fiscalizações de rotina. No caso das aves, estima-se que mais de 80% dos indivíduos em cativeiro no Brasil sejam capturados na natureza e “legalizados” com anilhas falsas ou registros de nascimento fraudulentos, práticas que certamente se repetem com répteis. Legalizar o comércio sem antes resolver essas falhas estruturais significa apenas oficializar a lavagem de animais silvestres.
Algumas vozes defendem o modelo de “lista positiva” adotado por países europeus, que permite apenas espécies comprovadamente seguras para criação doméstica. Mas quando sabemos que uma espécie é “segura” ou tem potencial invasor? Geralmente, depois que o problema já está criado, como demonstram os javalis asselvajados (ou javaporcos) no Brasil. A precaução deveria ser o princípio norteador: o ônus de provar segurança não pode recair sobre ecossistemas que não têm como se defender.
Há ainda quem defenda que a legalização e regulamentação do comércio de fauna nativa resolveria o problema, retirando o mercado das mãos dos traficantes. As evidências, porém, apontam em outra direção: um estudo experimental conduzido na China com mais de mil participantes demonstrou que a legalização, ao invés de saturar a demanda, reduz o estigma social associado ao consumo de fauna, aumenta a aceitabilidade da prática e diminui a percepção de risco de punição. Ao sinalizar que o Estado considera a atividade aceitável, a legalização legitima o consumo aos olhos da sociedade, e pode, inadvertidamente, ampliar a demanda que pretendia satisfazer. A experiência do Museu Biológico confirma esse diagnóstico na prática: a instituição recebe com frequência animais abandonados nas dependências do Instituto Butantan, inclusive espécimes legalizados, com microchip e documentação em dia. O desconhecimento das necessidades biológicas desses animais configura, na prática, maus tratos: serpentes chegam em condições deploráveis de higiene e saúde, e muitas não sobrevivem aos primeiros dias após a apreensão. O problema, vale ressaltar, não se restringe a espécies exóticas: o tráfico interno movimenta intensamente a fauna nativa de outros biomas, como a a rara cobra-papagaio (Corallus batesii), cujos filhotes são comercializados no Sudeste por valores que chegam a R$ 40 mil. A realidade é que grande parte da população não possui condições de manter adequadamente sequer cães e gatos, animais domesticados ao longo de milhares de anos de convivência com humanos. Presumir que conseguiriam cuidar de jiboias, jabutis ou saguis é desconsiderar o que observamos cotidianamente: o entusiasmo inicial se dissipa, os custos se acumulam, o animal cresce além do esperado, e o destino final é o abandono, quando não a morte por negligência.
O destino dos animais apreendidos tampouco oferece consolo. Diante da superlotação crônica dos Centros de Triagem de Animais Silvestres, é prática comum a soltura imediata de espécimes sem qualquer tipo de avaliação, principalmente veterinária, fora de sua área de distribuição natural, ou mesmo de espécies exóticas. Isso não apenas coloca em risco as populações locais pela introdução de patógenos desconhecidos e poluição genética, como também invalida os esforços de fiscalização: o animal volta ao ambiente, porém no lugar errado, doente ou geneticamente incompatível. O resultado são invasões biológicas silenciosas: o sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus), originário do Nordeste do Brasil, hoje ocorre em praticamente todo o território brasileiro; a tartaruga-de-orelha-vermelha (Trachemys scripta elegans), originária da América do Norte e popular como animal de estimação, já estabeleceu populações em diversos estados brasileiros. Entre 1995 e 2000, 76 serpentes exóticas pertencentes a 16 espécies diferentes foram encontradas na cidade de São Paulo e enviadas para o Instituto Butantan. Também no inicio da década de 2000, já haviam sido registradas na Serra do Japi a presença das exóticas king snake (Lampropeltis getula) e corn snake (Panterophis guttatus). O ciclo se fecha em fracasso, e quem paga o preço é a fauna nativa.
No Brasil, seria fundamental fortalecer a rede de instituições capacitadas para receber fauna exótica apreendida, hoje concentrada em poucos zoológicos e centros de pesquisa. Investir na tecnologia para direcionar melhor os esforços de investigação e de destinação dos animais é também necessário, a exemplo de nossos vizinhos Colombianos. Nesse país já se utiliza com sucesso evidencias genéticas na investigação do tráfico de répteis, e os resultados provenientes da genética forense identificam a origem dos animais traficados, norteiam as investigações policiais e direcionam o destino dos animais apreendidos, diminuindo os impactos negativos das solturas sem fundamentos científicos. Integrar a vigilância sanitária ao combate ao tráfico, com triagem de patógenos em animais apreendidos, é medida urgente. Redes de pesquisadores brasileiros, como o PREVIR, que monitora vírus em animais silvestres, poderiam ser expandidas para incluir espécies exóticas. A divulgação ampla dos cursos de capacitação para públicos especiais, oferecidos pelo Museu Biológico, para identificação e manejo de serpentes, pode auxiliar bombeiros, policia militar e defesa civil na tomada de decisões com relação à herpetofauna silvestre, exótica ou nativa.

Mas talvez a ação mais efetiva seja atacar a demanda: responsabilização de plataformas que lucram com anúncios de animais ilegais; campanhas de conscientização que alcancem as redes sociais onde o tráfico floresce, mostrando o custo real (financeiro, sanitário e ecológico) de transformar uma naja asiática em pet.
A cada serpente exótica que chega ao Butantan, o contribuinte brasileiro paga uma conta que deveria ser cobrada de traficantes internacionais e de uma cadeia de irresponsabilidade que vai do caçador no Sudeste Asiático ao jovem brasileiro que acha “legal” ter uma cobra venenosa em casa. Enquanto isso, pesquisadores e técnicos que deveriam estar trabalhando para a conservação de espécies nativas precisam desviar recursos para cuidar de najas que nunca deveriam ter cruzado o Atlântico.
O preço do tráfico de herpetofauna exótica é invisível nas manchetes, mas muito real nos orçamentos públicos, nos riscos sanitários e na sobrecarga de instituições que já lutam para cumprir suas missões essenciais. É hora de torná-lo visível.
As opiniões e informações publicadas nas seções de colunas e análises são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente representam a opinião do site ((o))eco. Buscamos nestes espaços garantir um debate diverso e frutífero sobre conservação ambiental.
Leia também

Da picada à pílula: Uma razão a mais para proteger a biodiversidade
Cada veneno, cada toxina, cada composto bioativo é resultado de um processo evolutivo específico – são moléculas testadas e refinadas pela própria natureza →

Relatório aponta Amazônia como epicentro do tráfico de animais silvestres no Brasil
Levantamento analisa dados de apreensão, as rotas e os diferentes mercados abastecidos pelo tráfico, e aponta gargalos e recomendações para o combate ao comércio ilegal de animais →

Ibama identifica 1277 animais vendidos pela internet e monta operação
Trabalho com a Polícia Federal resultou no cumprimento de 34 mandados de busca e apreensão, resgate de 134 animais, 12 pessoas detidas e multa de mais de R$ 500 mil →