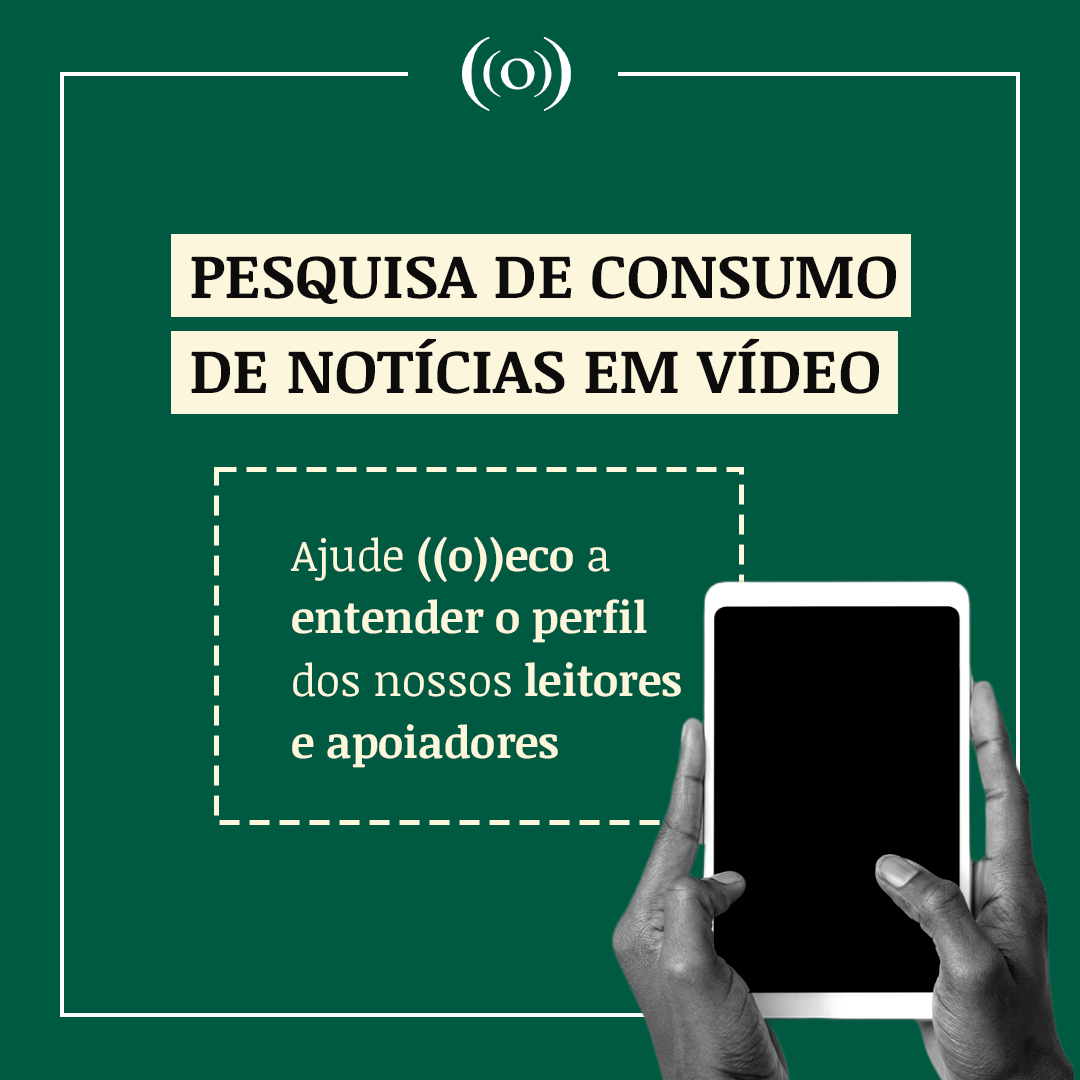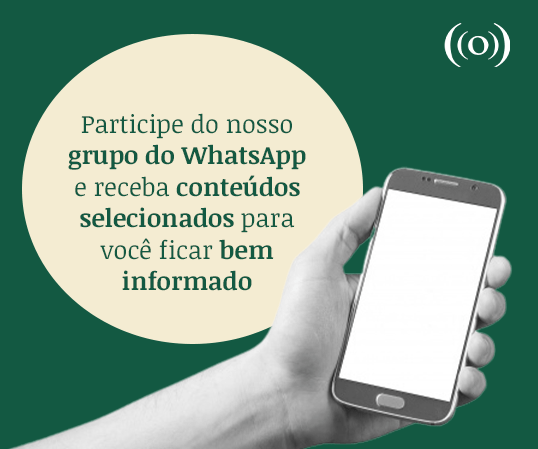“Deus proverá”. Era o que repetia Suzana Pádua como consolo, diante da dureza que passou a enfrentar quando o marido Cláudio, para surpresa de todos, largou a vida estabilizada de empresário no Rio de Janeiro para começar do zero no mundo do ambientalismo. Ele tinha 31 anos quando decidiu estudar Biologia. Doze anos depois era doutor, com a sorte de ter convivido com primatologistas de primeira linha e, nos Estados Unidos, participado do nascimento da Biologia da Conservação.
Sua pesquisa de doutorado exigiu que fossem morar no Pontal do Paranapanema. Foi quando Suzana deixou de apenas “segurar as pontas” das loucuras do marido para, ela também, fazer uma revolução em sua carreira. Impressionada com a situação do Pontal, uma das áreas mais pobres, conflituosas e devastadas do estado de São Paulo, transformou incômodo em ação. Descobriu o gosto pela educação ambiental e testemunhou na prática seu potencial de transformação.
Há 14 anos, Cláudio e Suzana colocaram seus talentos para trabalhar juntos ao criar o Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê), em Nazaré Paulista. O que fazem lá é algo sem igual no Brasil. Independente da academia, o Ipê se tornou referência em estudos de ponta nas áreas de conservação da natureza, obrigatoriamente aplicáveis à prática social. No ano que vem, darão seu salto mais alto. Vão fundar a primeira escola superior em conservação da natureza e sustentabilidade do Brasil. Como conseguiram? Numa agradabilíssima conversa, contaram tudo para a equipe de O Eco.
Que idéia é essa de criar uma universidade?

A saída foi criar uma universidade própria com patrocinadores?
Cláudio – A semente surgiu com o centro de capacitação do Ipê, e aí entra o Guilherme Leal [dono da Natura] , que era meu colega do conselho do Funbio [Fundo Brasileiro para Biodiversidade] . Ele é uma pessoa que com 30 anos ficou bilionária, e não deixou o dinheiro transformá-lo em alguém mais egoísta, arrogante ou presunçoso. Diz sempre: “O dinheiro tem que ser usado para o bem”. Convidei o Guilherme para passar um dia conosco, e eu e Suzana notamos que quando a gente falava de educação ele gostava. No final do dia, ele perguntou: “Como eu posso ajudar?”. Nós ficamos pensando, porque o que eu queria mesmo era pedir uma ajuda na área da universidade. Era o nosso sonho. Mas naquele momento não tínhamos uma proposta boa. Então procurei o pessoal da Ashoka-McKinsey [centro de competência para empreendedores sociais] e liguei para o Guilherme. Juntos, conseguimos criar o conceito desse nosso curso de conservação ambiental. Ao final de dois meses, o Guilherme disse: “A proposta é minha e eu vou financiar. Pessoalmente, se for preciso”.
Quando o projeto começou a sair do papel?
Cláudio – Há um ano e meio. Achei um terreno para o campus e ele tirou do bolso os primeiros 700 mil reais. Depois saíram quase 1,5 milhão de reais. O projeto todo ficou em 10 milhões. A Natura vai bancar a construção do campus e ele vai bancar um fundo aplicado que garanta a sobrevivência das atividades. O campus vai ser uma área linda, toda verde. Fizemos um workshop de dois dias com pessoas que a gente confia para montar o primeiro curso, um mestrado. E a Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior] se encantou. O primeiro curso vai ser de Conservação e Sustentabilidade. Nosso quadro de professores são os próprios pesquisadores do Ipê. Eu espero conseguir criar pessoas que espalhem o nosso modelo. Nos locais onde houve grandes mudanças, teve sempre uma escola por trás.
Expliquem como funciona o Ipê.
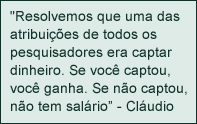
O Ipê está muito vinculado a vocês dois?
Suzana – Não, o Ipê são 70 pessoas. Se eu morrer hoje, o Ipê continua. Eu e o Cláudio não quisemos fazer uma instituição que dependesse da gente.
Cláudio – Ela não está desvinculada de nós, mas o nosso grande tesouro é a equipe. Um grupo de pessoas capacitadas, comprometidas, apaixonadas. Essa é a essência da instituição. E algo complicado também. Há uma forte tendência de a nossa vaidade tomar conta. Mas quando você quer criar algo duradouro, é preciso que às vezes você tenha que desaparecer para os outros se apoderarem. Eu tenho que dar um tempo da minha carreira pela formação de outras pessoas.
Como é a equipe?
Cláudio – São 6 doutores, uns 5 doutorandos, 7 ou 8 mestrandos e de 10 a 15 mestres. O resto é gente de apoio. Nossos pesquisadores são pessoas de alma livre. Gente que não quer ter patrão, que trabalha por uma satisfação interna. No final do ano as pessoas apresentam os resultados e os objetivos para o ano seguinte. Ninguém fica te perseguindo para saber o que você fez, quanto você fez, se você vai tirar férias. Quase todo mundo entrou na graduação e creseu dentro da instituição. Tem jardineiro nosso estudando Biologia, o Zé Carlos. E a Gracinha, que é um caso inacreditável. Ela é filha do jardineiro de Teodoro Sampaio, que era analfabeto. Queria ser estagiária e passou em terceiro lugar para uma universidade pública. Na época, eu fiz um acordo com ela. Se passasse no vestibular, eu daria 50 dólares da minha bolsa de estudos nos Estados Unidos. E demos por um ano. A gente conseguiu uma bolsa para ela ir à Inglaterra, depois passou um ano na Universidade de Columbia. Acabou fazendo mestrado na USP. Agora você vê: quantas Gracinhas não existem por aí? Várias pessoas do Ipê desabrocharam porque foi dada a oportunidade. Um dia eu imaginei a Gracinha se não tivesse encontrado a Suzana. Provavelmente casada com um cara do interior desde os 15 anos, cheia de filhos e frustrada.
Vocês são muito procurados por pessoas que querem começar?
Cláudio – A gente recebe estagiários sempre, mas temos capacidade limitada. Muita gente entrou porque bateu na porta e falou: “Aqui é o meu lugar”. Vários eu chamei para conversas sérias. Eu explicava que não tínhamos dinheiro e os mandava embora, mas eles diziam “Não vou”.

Cláudio – Desde o começo a gente percebeu que em uma instituição não-governamental não se pode ficar captando dinheiro para todos. Além disso, eu tinha a compreensão de que quem tem dinheiro, tem poder. E resolvemos que uma das atribuições de todos os pesquisadores era captar dinheiro. Todo mundo que trabalha conosco aprende a captar, sabe escrever projeto e para onde mandar. Se o cara faz um bom trabalho e sabe captar recurso, ele não precisa de mim. Ele não precisa da instituição. Mas geralmente, a pessoa está lá porque a instituição já faz parte da vida dele e vice-versa. Existe uma tabela, como a de bolsas do CNPq. No Ipê, você ganha baseado em pontos que a tabela estabelece. Esses pontos são relativos à sua formação, tempo de casa e captação. Se você captou, você ganha. Se não captou, não tem salário. E temos um fundo. O dinheiro das vendas da Havaianas Ipê, por exemplo, vai para esse fundo. É para ser usado em caso de emergência.
Qual é o volume da produção científica?
Cláudio – É razoavelmente bom, mas diferente de uma instituição acadêmica porque o pessoal do Ipê tem que fazer ação. Não aceitamos só a pesquisa. Somos uma instituição de pesquisa aplicada. Então temos que aplicar. Essa é a nossa compreensão de Biologia da Conservação.
Como as universidades vêem o Ipê?
Cláudio – Tem um grupo da academia que nos olha torto, diz que a gente faz ciência de segunda categoria por ser aplicada, por não termos trabalhos publicados na revista Science . Mas é tão pouca gente, que não dá pra ligar para isso.
Como vocês foram parar na área ambiental?
Suzana – Cláudio fundiu a cuca. Ele tinha 30 anos e era diretor-executivo da empresa que era da minha família. Um dia, chegou à conclusão de que ia morrer cedo, estava infeliz, tinha estudado um monte de coisas chatérrimas. Foi então que ele parou tudo. Eu achei que ele estava enloquecido. Quase nos separamos muitas vezes. A conta de luz não era paga, tudo foi vendido rapidinho. Meu carro tinha o apelido de favela. E eu cada vez trabalhando mais. Era formada em programação visual, designer. Eu me recusava a baixar o meu padrão de vida.
O que você pretendia fazer, Cláudio?
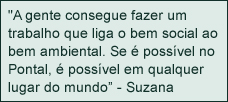
Mas por que trocar tudo pelo meio ambiente?
Cláudio – Eu não sei, deve ter alguma coisa a ver com o passado de caçador, uma vida rural de férias na infância. Eu lia muito sobre aventura, li um autor brasileiro chamado Francisco de Barros Júnior, que escreveu uma trilogia “Caçando e Pescando em todo o Brasil”. Se você me perguntasse quem era o meu herói quando garoto, era um caçador brasileiro que foi para a África sozinho. Eu tinha macacos de estimação quando era jovenzinho, andava com eles no ombro. Tinha algo na minha juventude de primatologista. Eu já estava de olho em conservação.
Daí você passou a conhecer uma série de pessoas certas.
Cláudio – O Adelmar Coimbra-Filho tem um papel importante nessa história. E junto dele oscilava um jovem pesquisador americano chamado Russell Mittermeier [hoje presidente da Conservation International] . Era uma pessoa brilhante, inteligente, bem formada por Harvard. Um jovem estudante de primatologia que veio para o Brasil, país com o maior número de espécies de primatas do mundo. Chegou ao Rio de Janeiro e bateu na porta do Coimbra. Ele ficou encantado. E o Russell abriu o mercado internacional para o Coimbra. Hoje eles têm muitos trabalhos publicados juntos. E os dois passaram a fazer parte da minha história. Foi o Russell que me indicou para Jersey e quem abriu a porta da Universidade da Flórida para mim.
Você trabalhou com Gerald Durrell?
Cláudio – Ele inaugurou o zoológico na ilha de Jersey. E eu passei três ou quatro meses lá como estagiário. Os trabalhos eram dar banho em elefante, limpar bosta de rinoceronte. Tinha uma parte mais didática, teórica, mas tinha a parte prática no zoológico. Eu cuidava dos gorilas, que é uma das coisas mais espetaculares que alguém pode fazer, aconselho a todo mundo. É um bicho tão inteligente e dócil.
E sua ida para a Flórida?
Cláudio – Quando eu disse que queria fazer mestrado fora, eu fui procurar o José Cândido Melo de Carvalho [um dos maiores zoólogos brasileiros] e ele me deu quatro universidades para escolher, entre elas Gainesville, na Flórida. Eu não conhecia nenhuma das quatro. Anos depois, quando encontrei o Russell em um congresso, ele disse que tinha encontrado o lugar para eu ir: Gainesville. Caí lá na hora certa.
Por que na hora certa?
Cláudio – Era quando estava começando uma ciência nova, a Biologia da Conservação. Ela não nasce na Flórida, mas é o primeiro lugar onde se estabelece. E eu estava lá em 1984. Tudo começou com um livro de Michael Soulé, de 1981, chamado “Conservation Biology”. Um grande professor da Flórida, maior mamalogista americano vivo, chamado John Eisenberg, levou muitos jovens estudantes com ele, que hoje são uma nata. A Flórida virou a “meca”, não só para os americanos. A biblioteca latino-americana da Universidade da Flórida é a melhor dos Estados Unidos disparado. Tinha uma demanda reprimida dos países tropicais de gente querendo estudar. E a Flórida abriu as portas. E tem uma vertente mais antropológica e social da Biologia da Conservação. Hoje o que compõe os livros didáticos de Biologia da Conservação é completamente conectado com a antropologia. Um dos primeiros a entrar lá foi o Gustavo Fonseca, que hoje é vice-presidente da Conservation International.
Suzana – Mas eu tenho pena de uma coisa: a maior parte desses profissionais hoje não está exercendo nenhuma posição no mundo acadêmico. Eles são muito requisitados por ongs e governo.

Cláudio – Existem cursos que têm esse nome, mas acho que o primeiro nos moldes do que realmente acreditamos será o nosso. Tinha um curso na Universidade Federal de Minas Gerais com o Gustavo Fonseca, o Anthony Rylands… Eles saíram e o curso, apesar de muito bom, mudou de rumo. Quando cheguei ao Brasil, em 1992, procurei a Esalq [Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP] querendo criar um curso de Biologia da Conservação. Eu pedia pelo amor de Deus, porque a gente ia estar na ponta. Mas a burocracia do mundo acadêmico brasileiro é terrível. O professor Fábio Scarano, da UFRJ, me disse: o Brasil tem a segunda maior produção de trabalho na área de Ecologia no mundo. Mas sabe por que ele não é superfamoso?
Por quê?
Cláudio – Porque não produz ponta. Não faz coisas ousadas. São milhões de repetições de coisas feitas internacionalmente. O Sacarano pega um trabalho internacional bom, chega para o seu aluno e pergunta: por que você não faz isso igual no Brasil? É uma tese de mestrado garantida. Mas por que não dizer a ele: faz melhor do que isso! Nós temos dificuldade nisso. Aliás, uma das nossas motivações no Ipê, um pouco abusada, é de tentar fazer melhor.
E a sua iniciação, Suzana, como foi?
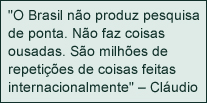
Logo no Pontal?
Suzana – Era uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, onde nada que eu tinha feito antes era relevante. Eu era programadora visual e nos Estados Unidos um mestrado sobre a influência africana na arte brasileira. No Morro do Diabo, num casebre muito ruim, foi muito difícil a adaptação. Peguei leishmaniose e tudo. Passei dois meses chorando. Questionava demais o que estava fazendo ali, até perceber que podia dar uma contribuição. Eu vi que se continuasse daquele jeito não ia sobrar nada na região. O parque [Parque Estadual do Morro do Diabo] tinha perdido 10% do seu território em cinco anos. A educação ambiental surgiu na minha vida porque era uma maneira das pessoas locais valorizarem aquela natureza tão ameaçada. Comecei de uma forma extremamente ingênua, não achando que aquilo ia tomar a proporção que tomou.
Começou como?
Suzana – Eu lia Lou Anne Dietz. Ela foi a pioneira da educação ambiental em unidade de conservação no Brasil. Trabalhou com o mico-leão dourado, na reserva de Poço das Antas (RJ). E se relacionava de maneira sistemática com comunidades locais. Foi ela que me disse que eu tinha que ajudar o Cláudio, que eu ia fazer diferença. E me apaixonei loucamente por isso. Comecei a fazer propostas, nunca tinha escrito nenhuma, mas via 100% daquelas propostas sendo aceitas. Porque os objetivos eram claros. “Preciso de um ônibus para levar as crianças porque a prefeitura não me dá”, “Preciso de televisão com vídeo”, “Preciso de estagiários”. Então voltei aos Estados Unidos e pedi que meu mestrado fosse em educação ambiental. Eles toparam.
E o mestrado fez diferença?
Suzana – Sem ele, dentro do Ipê eu não teria sido levada a sério. Demorou muito tempo para eu conquistar um lugar ao sol. As pessoas pensavam que a educação ambiental vinha em paralelo. Aí eu voltei dos Estados Unidos, montei um programa e amadurecemos a educação ambiental na nossa forma de trabalhar.
Os sem-terra receberam bem a iniciativa?
Suzana – Quando nós chegamos, os coronéis eram muito mais desafiadores do que os sem-terra. Tivemos ameaças de morte. Eles estavam acostumados a mandar e a educação ambiental tem o papel de fortalecimento da sociedade, de dar poder.
Cláudio – A história do Pontal é de prática de ocupação, grilagem pura. Aquilo ali era uma grande reserva, criada em 1942, em terras devolutas. Um governador, nos anos 50, distribuiu para os seus amigos. Eles ocuparam mesmo, têm grileiros até hoje.
Como foi mobilizar as pessoas num ambiente como esse?
Suzana – No início era uma coisa muito ingênua. Muita gente pobre. Então fazíamos muito lazer ecológico e educativo. Era a “noite da lambada ecológica”, em que fechávamos a rua principal. No meio da lambada, eu pegava o microfone e falava: “Olha gente, estamos fazendo isso aqui porque existe um parque e ele é de cada um de vocês”. Fazíamos concurso de desenho de camiseta. Nas escolas, exposição de desenhos, concurso de quem trazia a maior quantidade de adultos para assistir uma palestra. E a palestra era eu. Tudo a custo zero. Acho que consegui falar para quase 100% da cidade. Falava até na rádio. Com o tempo, a gente percebeu o papel da educação ambiental em transformar valores, paradigmas. Foi lá que nós começamos as eco-negociações, em 2000.
O que são eco-negociações?
Suzana – Parte do mesmo princípio da Agenda 21, mas sem precisar do governo. Na eco-negociação você junta desde o prefeito até o assentado. Discute durante três dias com 70, 80 pessoas, o que é considerado riqueza para a comunidade, por exemplo. Quando você faz isso, as pessoas arregaçam as mangas porque foram elas que criaram determinados projetos.
Qual é o ponto de partida, o ambiental ou o social?
Suzana – Começamos só com o ambiental, e cada vez abrimos mais. As pessoas têm mais orgulho da natureza quando se percebem como parte dela. Hoje a realidade brasileira não permite que faça de outra maneira. No entorno de Parques como o Superagüi [Parque Nacional do Superagui, no litoral norte do Paraná] , que não tem nenhum guarda-parque, ou as comunidades vão se integrar de uma maneira que você tenha orgulho, ou não vai sobrar nada.

Cláudio – Há uma forte tendência dentro do Ipê de passar para o outro lado. Quer dizer, achar que o simples fato de trabalhar com gente, e só gente, resolve. O lado de conservação humana tem o seu papel, mas um parque é um parque e tem que ser uma área de proteção, senão você perde o foco.
Conte um exemplo de sucesso nessa integração entre o social e o ambiental.
Cláudio – Eu queria falar do Café com Floresta [projeto com agricultores sem-terra que associa a produção do café com culturas diversificadas] . Ele não é só para produzir café. É muito claro dentro do Ipê que o Café com Floresta é para a biodiversidade e para a produção. Se você perguntar aos assentados para quem eles estão plantando, eles vão dizer que o café é bom para eles, mas que também é bom porque as aves estão voltando.
Meio ambiente também pode dar lucro.
Suzana – Lógico. A camiseta que eu estou usando foi feita pelas mulheres dos assentados. Tem o mico-leão preto, que só existe nessa região. Se ele sumir, vai ser uma perda para o planeta. E volto ao tema das eco-negociações, onde tudo é transparente. Nas reuniões a gente transmite o conhecimento, e isso é importante para começar. Mas depois não tem manipulação. Eu tenho uma agenda de conservação e não abro mão dela. Mas a decisão é participativa. Você tem que saber ouvir e estar disposto a abrir mão do controle.
É bonito na teoria, mas funciona?
Cláudio – Existe um trabalho prévio de formação para você poder chegar nesse ponto. Senão algumas pessoas podem se aproveitar.
Suzana – Mas hoje se você se propuser a fazer qualquer coisa no Pontal, as pessoas participarão das reuniões. Hoje já tem um grau de confiança, que é a primeira coisa quando você trabalha com comunidade.
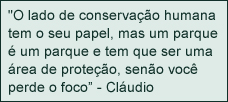
Suzana- A gente tem que ser muito cuidadoso. Não colocar o pescoço dos outros na guilhotina. É muito complicado lidar com empoderamento de comunidades. As pessoas começam a se voltar contra o poder instituído e aí você coloca um risco. Isso também é um aprendizado. Mas é muito mais forte e poderoso a gente reivindicar as coisas em grupo. No Pontal do Paranapanema, quando é que essas pessoas iam ser ouvidas? Hoje há várias associações que começam a perceber que conseguem coletivamente mais sucesso. E nosso papel é mostrar que é possível. No contato com a região, historicamente conflituosa, a gente consegue fazer um trabalho que liga o bem social ao bem ambiental. Se é possível no Pontal, é possível em qualquer lugar do mundo.
Como é convenceram o fazendeiro e o sem-terra de que a conservação é boa para eles?
Suzana – No início nós achamos que íamos perder tudo. Mas nós já tínhamos uma aceitação muito grande da comunidade. Cláudio esteve com o Zé Rainha, com a diretora do parque, várias pessoas. E disse: “Nós estamos aqui para conservar a biodiversidade. Vocês estão aqui para ocupar terra. Nós queremos trabalhar juntos, então o que dá para fazermos?”. Nós estávamos preocupados porque o movimento dos sem-terra ocupava áreas de floresta. E fomos primeiro procurar o Instituto de Terras do Estado de São Paulo [Itesp] . Perguntei à diretora como ela poderia aceitar perder mais ainda uma área de reserva, que já estava muito destruída. Ela foi muito grosseira comigo e quando saí de lá pedi para conversar com alguns líderes dos sem-terra. Falei que entendia a missão deles, a reforma agrária, mas disse que a minha era a conservação. Eu disse também que não gostava do governo. E sugeri: vamos juntos fazer uma agenda de reflorestamento?
Deu certo?
Suzana – Começou com o viveiro florestal comum, para a criação de mudas. E virou algo grande. Reflorestamos outros lugares. Vendíamos as mudas para os fazendeiros, que eram obrigadas a replantar.
Houve quem passasse completamente para o lado de vocês?
Suzana – Sim. O Zé Litro, por exemplo. Ele é um líder, um educador chamado até de Che Guevara. Quando eu cheguei lá, eles discutiam a criação de um corredor ecológico entre a mata ciliar e um outro fragmento mais distante. Já tinham falado com todos os proprietários, e era tudo por conta própria. É o contágio do modelo.
Dá para mensurar de que maneira aconteceu esse contágio?
Suzana – No meu doutorado comparei famílias que trabalham com a gente há mais de um ano com outras que não. Eu queria medir a sensibilidade para a conservação no Pontal do Paranapanema. Entre os que trabalham com a gente, houve quem dissesse que o bom de morar lá é poder acordar com o canto dos pássaros. Os outros diziam que o importante para eles era ter sua plantação, saber que hoje têm uma propriedade. A diferença entre os dois grupos era impressionante.
O desmatamento diminuiu?
Suzana – O Pontal é a única região de São Paulo que teve 4% de aumento da cobertura florestal.
Conta como um tucano salvou a sua vida.
Suzana – Eu dei um curso de educação ambiental para a Polícia Florestal numa fazenda no Pantanal, em 2000. E o mesmo piloto que foi me levar, foi me buscar. Quando a gente estava arrancando, já em alta velocidade, ele teve um aneurisma e morreu. E eu ali sentada na frente. O avião bateu do meu lado. Fiquei com hematomas pelo corpo inteiro, quebrei o braço em vários lugares. O que me salvou foi um tucano. Ele comia restinhos da mesa do hotel-fazenda e, antes de eu entrar no avião, fez cocô na minha blusa. Eu ri muito e fui lavar. Pedi para o piloto esperar um pouquinho. Demorei uns dez minutos. Se não fosse isso ele teria morrido com o avião no ar.
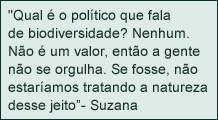
Cláudio – Não temos nada do que nos orgulhar. A Mata Atlântica já se foi. Estou vendo a fronteira de destruição da Amazônia claramente. Estamos perdendo batalhas todos os dias. É duro ver isso. É desolador. É uma burrice destruir para depois pensar em reconstruir. A gente já viveu a história e não aprende com ela. A grande lição que a Mata Atlântica poderia nos deixar é a compreensão para permitir uma ocupação da Amazônia com a floresta respeitada, levada a sério.
Suzana – Está faltando amor. Qual é o político que fala de biodiversidade? Nenhum. Não é um valor, então a gente não se orgulha. Se fosse, não estaríamos tratando a natureza desse jeito. Precisamos agir pelo bem, por uma coisa de ligação amorosa e não porque estamos com medo de levar multa.
Com o sucesso do Ipê, vocês voltaram ao padrão de vida que tinham?
Cláudio – Não. Mas também não ficamos pobres.
Suzana – Olhando para trás, parece que agora a gente está colhendo os frutos de uma época muito difícil. O Cláudio vendia lente fotográfica para fazer dinheiro para a gente comer. Eu me perguntei muito se eu estava lesando meus filhos. Mas hoje eu não me arrependo de maneira nenhuma. Hoje a gente viaja o mundo inteiro. Sempre como convidados. Já fomos para a Índia duas vezes e para Europa vamos todo ano. Luxo é ficar em casa.
E trabalhando com o que gostam.
Cláudio – Não há preço que pague trabalhar com conservação. Quando os jovens me procuram para falar sobre a minha mudança, eu digo que não há preço que pague fazer o que você gosta. Há dois meses, um empresário amigo do Guilherme veio conversar comigo e mudou por causa disso. A sensação que eu adoro é a de ter virado cidadão do mundo nesse processo todo. –
Leia também

Declaração de Barcelona define novos rumos para a Década do Oceano
O encerramento do evento oficializou a primeira conferência da Década do Oceano de Cidades Costeiras que ocorrerá em 2025 na cidade de Qingdao, na China. →

Marina Silva é uma das 100 pessoas mais influentes de 2024, segundo a Time
Selecionada na categoria “líderes”, perfil de Marina destaca a missão da ministra em prol do combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Ela é a única brasileira citada na lista de 2024 →

Em audiência pública na ALMG, representantes da UFMG alertam para impactos da Stock Car
Reunião contou com reitora e diretores da universidade, mas prefeitura e organizadores da corrida faltaram; deputada promete enviar informações a patrocinadores da Stock Car →