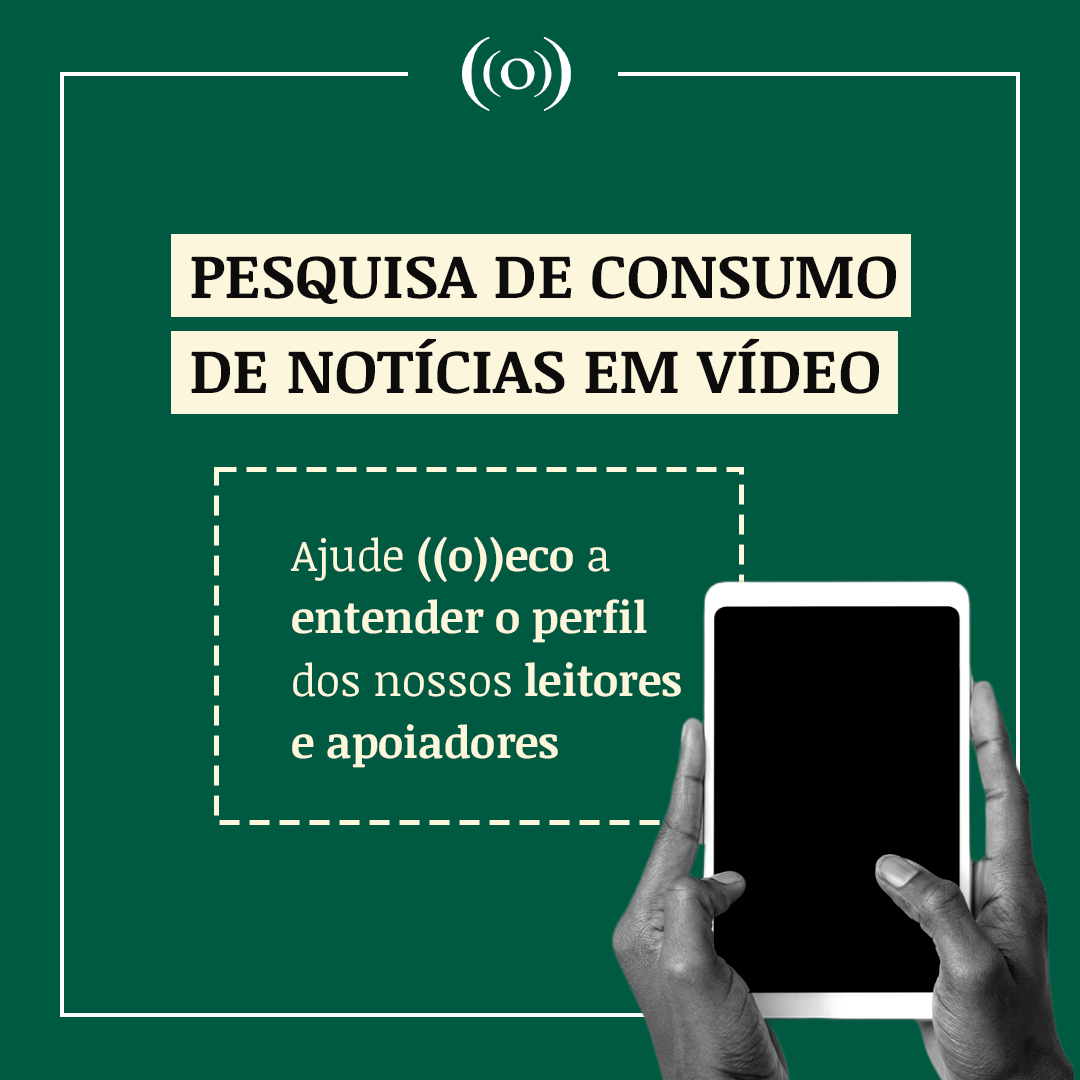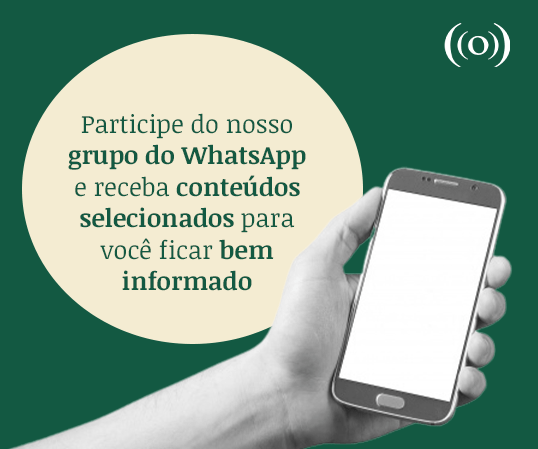Se o presidente Lula estiver preocupado com os altos índices de desmatamento na Amazônia ao longo de seu governo e quiser mostrar a quem entregou a tarefa de combatê-lo – o ministro José Dirceu, da Casa Civil – como é que se faz para manter de pé a floresta, pode começar tomando três simples providências. A primeira, ouvir mais o corpo técnico que tem no Ministério do Meio Ambiente. As duas outras, entabular conversas com tribos indígenas e militares que estão na região. Se ele embarcasse num avião para fazer o que eu fiz nos dias 17 e 18 de maio com um grupo de jornalistas e uma equipe do Greenpeace – um sobrevôo pelo Norte do Mato Grosso e o Sudoeste do Pará – constataria coisa óbvia. Onde há militares e Terras Indígenas, a mata está preservada. Nas áreas onde predominam brancos civis, as árvores estão caindo a uma velocidade assustadora.
O Cessna Caravan anfíbio do Greenpeace decolou do aeroporto de Brasília com dez pessoas a bordo às 7 horas e 11 minutos do último dia 17. Fernando Bezerra, o piloto, nivelou a aeronave a 10.500 pés e colocou sua proa no rumo Noroeste, em direção à fazenda Tanguro, propriedade de Blairo Maggi, que além de governador do Mato Grosso, estado campeão do desmatamento na região amazônica, é um dos maiores plantadores de soja do país. No caminho, o primeiro sinal de mata preservada no Mato Grosso é a Reserva Indígena de Pimentel Barbosa, encostada na margem Oeste do rio das Mortes. É zona de transição entre o cerrado e a floresta amazônica, única na área por ali onde o mato não está entrecortado por atividade agrícola. A pouco menos de hora e meia de distância, está a sede de Querência, município em cuja terra, lá do alto, o que mais se vê é soja ou floresta sendo derrubada para dar lugar a mais soja. Lá fica a Tanguro, de Maggi, um empreendimento agro-industrial para nenhum desenvolvimentista do governo federal botar defeito. Do avião, fica a impressão de que a área da fazenda dedicada ao cultivo de grãos ainda é insuficiente na visão de seu dono. Dentro dela, ainda há solo sendo limpo para, provavelmente, receber mais sementes em futuro próximo. De gado, não há nenhum traço, visão que desmente máxima esposada pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, de que os sojeiros não derrubam a floresta. Mais 15 minutos de vôo, e a paisagem muda completamente outra vez.
Lá embaixo, a floresta volta a aparecer até se perder no horizonte. São 10 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Estamos cruzando a fronteira do Parque Nacional do Xingu, onde os traços de desmatamento restringem-se à sua borda Leste, próxima do rio Roncador, área de invasão ilegal de brancos, e onde há aldeias indígenas – pequenos círculos abertos na mata, onde ficam as ocas, conectados a uma pista de terra para pouso e decolagem de aviões. “Onde tem Terra Indígena ainda tem mato”, diz Andrew Murchie, o responsável pelo trabalho de geoprocessamento e mapas do Greenpeace.
O nariz do Cessna Caravan agora aponta na direção de Sinop e tão logo saímos do espaço aéreo do Parque, próximo ao rio Roncador, as marcas na mata voltam a surgir. Ainda há floresta no seu entorno, mas a pressão humana, a oeste, já começa a aparecer nas estradas que serpenteiam meio camufladas dentro da mata e nas áreas onde os sinais de desmatamento, por falta de árvores, não poderiam ser mais evidentes. Na altura do município de Santa Carmen, no caminho para Sinop, ainda no Norte do Mato Grosso, começam a reaparecer no solo a soja, operações madeireiras e próximos delas, uma visão que se repetiria ao longo de todo o vôo até Novo Progresso, no oeste do Pará. Mesmo onde o mato ainda existe, as teleobjetivas da máquina fotográfica ou as lentes de um binóculo mostram que ele já está sendo explorado. Aqui e ali é possível perceber pequenas cicatrizes marrom avermelhadas em meio ao verde.
São as estradas clandestinas, pontas-de-lança dos desmatamentos. Um olhar mais cuidadoso percebe que o mato lá embaixo já está ralo, sinal de que os madeireiros já passaram por ele surrupiando suas espécies de árvores mais nobres. Bezerra começa a aproximação do aeroporto de Sinop, onde iríamos parar para reabastecimento, por volta das 11 horas e 5 minutos. É a primeira vez que vejo, lá de cima, algo que não seja mato, floresta tombada, campo limpo ou plantação de soja. Lá embaixo, aparecem um pouco de gado e plantações de milho. Aterrissamos e Paulo Adário sugere um almoço rápido no bar do aeroporto, um buraco onde os produtos que têm mais exposição são dezenas de revistas de palavras cruzadas e de mulheres em posições capazes de ruborescer até um ginecologista. Aparentemente, além de cortar madeira e plantar soja, os habitantes da cidade não têm muito o que fazer.
Decolamos às 12 horas e 45 minutos, ainda pelo horário de Brasília, e ao olhar para Sinop lá embaixo, descubro o que vinha me incomodando nas cidades que estava vendo lá de cima. Elas todas, no fundo se parecem. Suas ruas, quase sempre de terra batida, formam uma grade de pequenos retângulos no meio dos quais estão plantadas as casas. Apesar do calor, quase não têm árvores. Essa estética urbana se repete ao longo de todo o vôo, a ponto de as cidades sobre as quais passamos ficarem indistintas umas das outras. Só com a ajuda de um mapa dá para identificá-las. Nosso destino agora é Novo Progresso, no Oeste do Pará, cidade que ganhou fama como uma das piores e mais violentas fronteiras do desmatamento na Amazônia.
A proa do Cessna está no rumo Norte e também pela primeira vez, lá do alto, e graças ao GPS que está sendo controlado por Murchie, descubro o traço da famigerada BR-163, a Cuiabá-Santarém, estrada que o governo Lula pretende asfaltar para escoar a soja produzida no norte do Mato Grosso e ajudar a consolidar a posição do Brasil como potência agroindustrial. Neste trecho, ela ainda está asfaltada e é possível perceber lá de cima como as estradas oficiais, por falta de controle governamental, acabam servindo de ponto de partida para a construção de uma malha rodoviária clandestina que avança sobre a floresta. A paisagem é dominada pela agricultura de grãos, tufos de mato e muita, muita árvore no chão, resultado de desmatamentos com pinta de já terem ocorrido há algum tempo. Cruzamos os céus sobre Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte, ainda no Mato Grosso, e entramos no Pará pela Serra do Cachimbo, a 9.500 pés de altitude. Olhando para baixo, tem-se a impressão de estarmos sobrevoando o Éden. Não há sinal de predação da floresta. O mato está cerrado, como se fosse um tapete. A explicação para tanta preservação quem dá é Bezerra, o piloto. “Estamos em cima de área militar, controlada pela Aeronáutica, que tem uma base aqui”, diz. “Há índios também”, completa Murchie. Dá quase uma hora de vôo sobre um paraíso natural que, infelizmente, tem fim. Não, o Éden não está no Pará. Logo começam a surgir as marcas tradicionais do inferno na Amazônia. Algum gado, muita árvore no chão, mato ralo e a BR-163, agora sem asfalto. À esquerda do avião aparece o rio Jamanxi. E na proa, um pouco à direita, lá no horizonte, vai surgindo Novo Progresso.
“Quando estive aqui pela primeira vez, em 89, a cidade era uma vilinha. Tinha garimpo e mato, muito mato, para todo o lado”, recorda Bezerra. O que falta de árvore na área urbana de Novo Progresso não falta de madeireira. Elas estão por todo o lado. Seus pátios não estão com muitos estoques de madeira. Mas boa parte da que existe é madeira nova, de cor avermelhada, tanto em tora quanto serrada. “Estranho”, comenta Adário. “Os planos de manejo estão suspensos aqui desde o ano passado”. É sinal de que, apesar das determinações federais, o povo local continua entrando na floresta para cortar árvore. É sinal também que começaram a cortar mais cedo, fora do período habitual, que vai de junho a outubro.
Bezerra faz curvas à direita e à esquerda sobre a área, para permitir que seus passageiros tenham visão total do que acontece lá em baixo. São 14 horas e 15 minutos e ele mete o Cessna no rumo Sul, em direção a Alta Floresta, no Mato Grosso, onde passaremos à noite. Em dado instante, sobrevoamos mais um pedacinho de paraíso, a Terra Indígena do Baú, infelizmente já arranhado. Nas suas bordas é possível ver desmatamentos recentes, produto de invasões irregulares de brancos. Cruzamos o rio Teles Pires e os sinais de desmatamento brutal voltam a ficar evidentes. Há mais gado também no chão, indicação de que ali a terra não se presta tanto à agricultura. Há também, claro, madeireiras por todo o lado. No total, 350 delas, soube no dia seguinte no escritório do Ibama local.
Decolamos do aeroporto de Alta Floresta – onde letras garrafais dão boas vindas aos visitantes até em inglês – por volta das 11 horas da manhã do dia seguinte, 18 de maio. Nosso destino é Vila Rica, no Mato Grosso, região onde entre abril de 2004 e abril deste ano tombaram 101 mil hectares de floresta. No chão, há pouca vegetação, algum gado, e desmatamentos para todos os gostos. Desde os antigos, onde o solo foi coberto com pasto, até os mais recentes, nos quais a terra ainda está coberta de material orgânico e árvores cortadas. “Há os de idade intermediária. São os de terreno onde o solo está aparente. Foi apenas limpo para receber plantio de pasto”, diz Murchie.
Essa visão se estenderia até Vila Rica não fosse pela existência da Terra Indígena Capoto-Janina, onde ainda se pode ver a vegetação de transição entre cerrado e floresta que um dia cobria a região. Pena que o vôo sobre ela é muito curto. Dura 12 minutos, durante os quais cruza-se um pedaço exuberante do rio Xingu. Na sua fronteira sul, a falta de mato e a agricultura voltam a tomar conta da paisagem. Estamos entrando na região de São José do Xingu. Falta pouco para chegar a Vila Rica.Às 12 horas e 45 minutos, Bezerra começa a se aproximar da cidade, em cujo aeroporto iríamos encontrar um dos maiores grileiros e desmatadores da história recente do Pará. Completamente livre, leve e solto, indo ver o estrago que anda fazendo na Terra do Meio, no Pará. Lá embaixo, além da falta de árvores, chama a atenção o terreno pedregoso, impróprio para a agricultura. Foi a área onde vi mais gado em cima da terra. De lá decolamos em direção a Brasília por volta das 16 horas. No caminho, sobrevoamos mais um paraíso, a Terra Indígena de Tapirapé, onde a vegetação, ainda intocada, é de campo, com capões de floresta subindo em intervalos irregulares. Cruzamos o rio Araguaia e a noite começa a cair. Por volta das 18 horas, vemos o clarão das luzes de Brasília, onde repousa em berço esplêndido o ministro José Dirceu, comandante petista de uma política de combate ao desmatamento ilegal que em seu primeiro ano de trabalho deixou sumir 26 mil 132 quilômetros quadrados de floresta.
Leia também

Passado e futuro na tragédia gaúcha
O negacionismo climático, a política rasa e o desprezo histórico pela legislação engrossam o drama de milhões de pessoas no RS →

Arco símbolo de mergulho de Fernando de Noronha desaba
Pela ação natural de erosão, o arco do ponto de mergulho Pedras Secas desabou em abril. Mergulhadores da região lamentam a perda de um vislumbrante ponto da ilha →

Rio Grande do Sul: governança para prevenir desastres climáticos
A armadilha climática que se instalou sobre o Rio Grande do Sul significa que não há apenas um novo normal climático, mas que estamos no caminho do desconhecido →