
“Olha, me liga às nove horas da manhã”, diz Ronis Da Silveira, professor da Universidade Federal do Amazonas, diante da minha insistência em importuná-lo para saber mais de seu trabalho. “Não, dez”.
“Não prefere onze”?
“Melhor. Sou meio reptiliano”, admite. Em Anavilhanas, um arquipélago fluvial formado por 400 ilhas no Rio Negro, Amazonas, ele voltou a repetir o aviso, desta vez em tom de desculpa. “Olha, de manhã eu sou pior que jacaré. Não me leve a mal”.
No seu caso, a metáfora vai muito além dos hábitos noturnos que o deixam incapaz de pensar claramente quando o sol levanta. Silveira pertence ao reduzido grupo de seres humanos que se sentem bem entre répteis (foto). Tão bem que fez deles sua profissão. Começou pelos lagartos, estrelas de sua monografia de formatura em Biologia na USP. Mas queria mesmo era conhecer tudo sobre jacarés. Essa foi a razão pela qual, tão logo pegou seu diploma no final dos anos 80, partiu rumo a Manaus. A cidade serve de endereço ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) onde, desde 1980, leciona um dos maiores especialistas do mundo no bicho, o australiano William Magnusson, o Bill. Silveira queria fazer seu mestrado com ele. Sobre jacarés.
No começo, um pedaço do plano, o principal, deu errado. Magnusson fez duas exigências para aceitar ser seu orientador. A primeira, que no mínimo passasse no exame em 2º lugar. Passou em primeiro. A segunda, que não estudasse jacarés. Por quê? “Porque é um bicho difícil. É noturno, tem hábitos anfíbios e 72 dentes na boca. Dá um trabalho danado ir atrás deles. A pesquisa é cara e difícil”, explica Silveira. O professor é um pouco mais explícito. “Jacaré é um estudo de longo prazo. Não é coisa para mestrado”. Silveira foi obrigado a contentar-se com lagartos. “Mas falava de jacaré o dia inteiro”, recorda Magnusson. E parecia mais que disposto a dedicar sua vida a eles. A cantilena durou 8 meses e o aluno venceu. Para fechar sua boca, Magnusson arranjou 500 dólares junto ao CNPq. Depois, veio mais um dinheirinho do WWF e da Fundação Vitória Amazônica e despachou o pupilo para Anavilhanas, que desde 1981 é uma Estação Ecológica com 350 mil hectares de extensão. Sorte dos jacarés.

Isso aconteceu em 1989 e serviu de pontapé inicial para um estudo de longo prazo – durou até 1999 – sobre a ecologia dos jacarés de Anavilhanas. Logo de cara, Silveira começou a responder uma pergunta que intrigava os entendidos no assunto. Na maioria dos lugares remotos do mundo onde existem jacarés, raramente se encontra uma espécie convivendo com outras. Em Anavilhanas, existem quatro delas numa mesma área. As duas com maior incidência no local, a Caiman crocodilus crocodilus – jacaretinga para quem não é cientista – e o Melanosuchus niger – conhecida como jacaré-açu – ao contrário do que se imaginava, não competiam entre si. “Devia haver algo que as separava, que evitava seu confronto”, diz ele. Havia.
As jacaretingas se reproduziam por quase todo o arquipélago. Os jacaré-açus, entretanto, restringiam-se a apenas uma área do local, justamente aquela que sofre influência do rio Branco. “Essa segregação nos chamou a atenção”, conta Silveira. E serviu para mostrar a ele e Magnusson que tinha muita coisa que não se sabia sobre os jacarés de Anavilhanas. Descobri-las era fundamental para se ter um plano de manejo e conservação da sua população. “Não sabíamos seus percursos, alimentação, crescimento”, diz Silveira. Os dois traçaram um plano para mapear a dinâmica da população de Anavilhanas, principalmente seu grau de dispersão. Jacarés se movimentam muito, especialmente quando são jovens. “Os filhotes se afastam dezenas, às vezes centenas de quilômetros dos lugares onde nasceram”, explica Magnusson. Conforme crescem, essa movimentação vai diminuindo. “As fêmeas limitam seu deslocamento a não mais do que uma distância de 200 metros do seu ninho”, diz. “Saber como se dispersam ajuda a levantar o que os ameaça nos locais por onde passam”, continua Magnusson.
Salvou-lhes a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. Em 1993, ela deu um financiamento para realizar um censo da população de jacarés em Anavilhanas e identificar locais onde havia ninhos dos bichos. Foi o primeiro de uma série que durou até 1999. “A Fundação tem esse lado legal de saber que projetos de conservação têm que ser elaborados no longo prazo”, diz. O dinheiro não era muito e para fazer o projeto caber no orçamento, Silveira e Magnusson decidiram concentrar seu trabalho de campo nos meses de abril. Silveira passava os 30 dias do mês lá, trabalhando à noite, porque é no escuro que se encontra mais jacaré. Os censos foram feitos com o auxílio de um barco de alumínio equipado com motor de popa. Os jacarés eram localizados pelo brilho emitido por seus olhos quando eram iluminados por lanternas. A cada 10 pares de olhos avistados, eles se aproximavam dos bichos para determinar sua espécie e estimar seu tamanho.O trabalho inicial dos dois biólogos em Anavilhanas lhes deu a certeza de que precisavam de um plano de longo prazo para acompanhar os jacarés no local. Decidiram baseá-lo em método pouco utilizado em pesquisas com esse tipo de bicho: acompanhá-los de seu nascimento até a idade adulta. “Isso iria nos permitir seguir a sua dispersão desde jovens”, diz Magnusson. Além de ser uma novidade, a decisão de ir primeiro atrás dos filhotes para marcá-los tinha uma dimensão de praticidade. “A captura é traumática e quando acontece com um adulto, ele jamais se esquece, de modo que fica muito difícil recapturá-lo outra vez”, me explicava Silveira numa noite agradavelmente fresca à bordo da voadeira em que buscávamos jacarés no entorno de uma área de Anavilhanas conhecida como a Ilha do Vô do Marivaldo. “Mas os filhotes se esquecem. Fica mais fácil pegá-los depois que crescem”. Tudo combinado, faltava apenas o fundamental para dar continuidade ao trabalho iniciado em 1989: dinheiro.

Muitos eram capturados, um trabalho que exige preparo antecipado, método e muita disciplina. Achar jacarés em Anavilhanas não é nada fácil. Lá, sua densidade média é de um por cada quilômetro de margem de rio.O problema não é a escassez do bicho, mas o excesso de água. “Quanto maior a lâmina de água, menos concentrados eles ficam”, explica Magnusson. Nas duas vezes em que saí com Silveira e sua equipe para tirar jacarés da água em Anavilhanas, o trabalho fundamental, a captura dos bichos, só acontecia à noite. Mas começava bem mais cedo, em geral antes do fim da tarde, quando ele saía na voadeira para determinar as áreas que seriam vasculhadas em busca do bicho depois que escurecia. Antes de partir, Silveira organizava cuidadosamente o seu equipamento no barco – lanternas, baterias, varas, cordas, cabos de aço, planilhas para anotar as características dos animais trazidos à bordo – checando e rechecando sua disposição e estado. A “caçada” começava por volta das 20:30. Vestindo um capacete com uma forte lanterna atada na frente, ele ia vasculhando a margem.
Ao ver os olhos do bicho brilhando, comandava o piloto da voadeira através de sinais de mão para fazer a aproximação. Perto do jacaré, mexia-se com o cuidado de um predador, em câmera lenta, mas com gestos firmes e precisos. Ficava em pé na proa do barco, baixava a vara na água, passava o laço pela cabeça do bicho e puxava a corda, prendendo-o pelo pescoço. Depois trocava a corda por um cabo de aço com o auxílio de uma vara de alumínio, deixava o jacaré se debater e só quando o animal, cansado, parava, ele o trazia à bordo. Passava uma tira de borracha em volta de sua boca e cobria seus olhos com fita crepe. Media então seu crânio, sua cabeça, seu comprimento, determinava seu sexo e peso e o marcava, retirando com um canivete uma das 20 cristas que o bicho tem na cauda e uma escama também do seu rabo, uma combinação que dá ao jacaré uma espécie de placa única de identificação. Tudo era anotado numa planilha. Trabalho terminado, o bicho era recolocado na água.
Ao longo da pesquisa financiada pela Fundação Boticário nos anos 90, ninhos e filhotes demandaram especial atenção. Cada bichinho capturado era pesado, medido e recebia uma marcação. Em relação aos ninhos, anotava-se sua localização e media-se a profundidade, temperaturas do ar e da água e o tipo de terreno onde tinham sido construídos. Nos seis anos em que o trabalho durou, Silveira esquadrinhou a vida dos bichos de Anavilhanas. E o próprio arquipélago. Desde o fim da pesquisa, só retornou lá duas vezes. A última foi em 2003. Mas ele parece ter imprimido o mapa do local no seu cérebro. Conhece cada palmo da área, os vários braços em que o Negro se transforma na região e os atalhos entre uns e outros através dos igapós (florestas dentro da água) que se formam durante a época da cheia do rio.
Não é para menos. Durante os anos em que fez o monitoramento de jacarés em Anavilhanas, nos meses de abril, ele calcula ter palmilhado cerca de 5 mil quilômetros no arquipélago. O estudo permitiu que calibrassem melhor vários modelos sobre o crescimento de jacarés, aprendessem seus deslocamentos, os perigos que enfrentavam no seu percurso e até o impacto da caça na sua sobrevivência – informações importantes não apenas para definir um plano de preservação, mas eventualmente até um plano de manejo econômico da população. “Eu não sei se existe no mundo conhecimento sobre seu crescimento e dinâmica como o que desenvolvemos aqui”, diz Silveira. “O trabalho em Anavilhanas serve de base para muitos outros tipos de estudo”, diz Magnusson.

E serviu até para que os dois interviessem no eterno debate político sobre preservação e desenvolvimento econômico na Amazônia. Em meados da década de 90, Gilberto Mestrinho, então governador do Amazonas, acusou os jacarés de Anavilhanas de estarem devastando os estoques de tucunaré no Negro e condenando os pescadores locais à decadência econômica. Magnusson e Silveira comprovaram que os bichos eram absolutamente inocentes. Mestrinho dizia que eles estavam consumindo, cada um, de 2 a 3 quilos do peixe por dia. Silveira examinou o conteúdo dos estômagos de 212 jacaretingas em Anavilhanas. Juntando todos, não tinham mais do que meio quilo de alimento em suas barrigas. Jacarés são predadores, mas ao contrário do que imagina a imensa maioria dos mortais, estão longe de serem vorazes.
Quando nascem, consomem basicamente insetos, caranguejos e pequenos camarões. Acrescentam outros alimentos a essa dieta conforme vão crescendo, como os peixes que ficam presos em espelhos d’água na época da seca, que vai de julho a outubro. Mas às vezes passam meses sem comer. “Por exemplo, na época da cheia, quando metade da área do arquipélago fica debaixo d’água, eles praticamente não se alimentam”, diz Magnusson. Isso se deve ao seu metabolismo lento e a um suco gástrico que praticamente processa tudo o que ingerem. “Quase nada do que comem aparece nas suas fezes. Elas parecem barro”, diz Silveira. Ele e Magnusson, até porque os conhecem a fundo, têm uma visão benevolente dos jacarés.
“Jacarés não são perigosos. Eles são muito pouco agressivos”, diz Magnusson. Seu ex-aluno não vai tão longe. “Eles são perigosos e oportunistas, mas em geral tranqüilos”, diz Silveira, que já foi mordido 3 vezes. “Tudo vacilo meu”, conta. “Uma vez, capturando um jacaré, na hora de amarrar sua boca deixei minha mão entre suas mandíbulas. Sofri apenas cortes”. Mas podia ter sido muito pior. Uma mordida de jacaré, se dada com vontade, exerce sobre o que está entre seus dentes pressão equivalente a uma tonelada por centímetro quadrado. Essa capacidade de devastação, que por sinal raramente atinge seres humanos, mais o aspecto do bicho – seu tamanho e sua cara pra lá de assustadora – contribuem para o que Silveira admite ser um problema de imagem dos jacarés. “O homem tem diferenças com grandes pedradores. Jacaré é uma palavra que em tupi significa aquele que te olha torto”, ensina.
Silveira, desde o fim do projeto financiado pela Fundação O Boticário, meteu-se em estudos de manejo da caça de jacarés. Primeiro na Reserva Extrativista do Mamirauá – único lugar onde a caça do jacaré e legalmente permitida – para tentar fazer um plano de manejo para o bicho e atribuir-lhe valor econômico. “Talvez seja este o melhor caminho para convencer as pessoas da sua importância para o ecossistema”, diz. Hoje, além de dar aulas na Universidade Federal do Amazonas, faz levantamento sobre pressão humana na população de jacarés na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do rio Purus, através de uma ONG, o Instituto Piagaçú. “A caça lá acontece de forma meio indiscriminada e não há controle. Melhor legalizá-la dentro de parâmetros sustentáveis, para garantir a preservação do animal no longo prazo”.
* Esta reportagem faz parte de um livro sobre os 15 anos da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.
Leia também

Desmatamento no Cerrado cai no 1º semestre, mas ainda não é possível afirmar tendência
Queda foi de 29% em comparação com mesmo período do ano passado. Somente resultados de junho a outubro, no entanto, indicarão redução de fato, diz IPAM →

Unesco reconhece Parna dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio da Humanidade
Beleza cênica e fato de os Lençóis Maranhenses serem um fenômeno natural único no mundo levaram organização a conceder o título →

Dez onças são monitoradas na Serra do Mar paranaense
Nove adultos e um filhote estão sendo acompanhados pelo Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar. Primeiro registro ocorreu em 2018 →







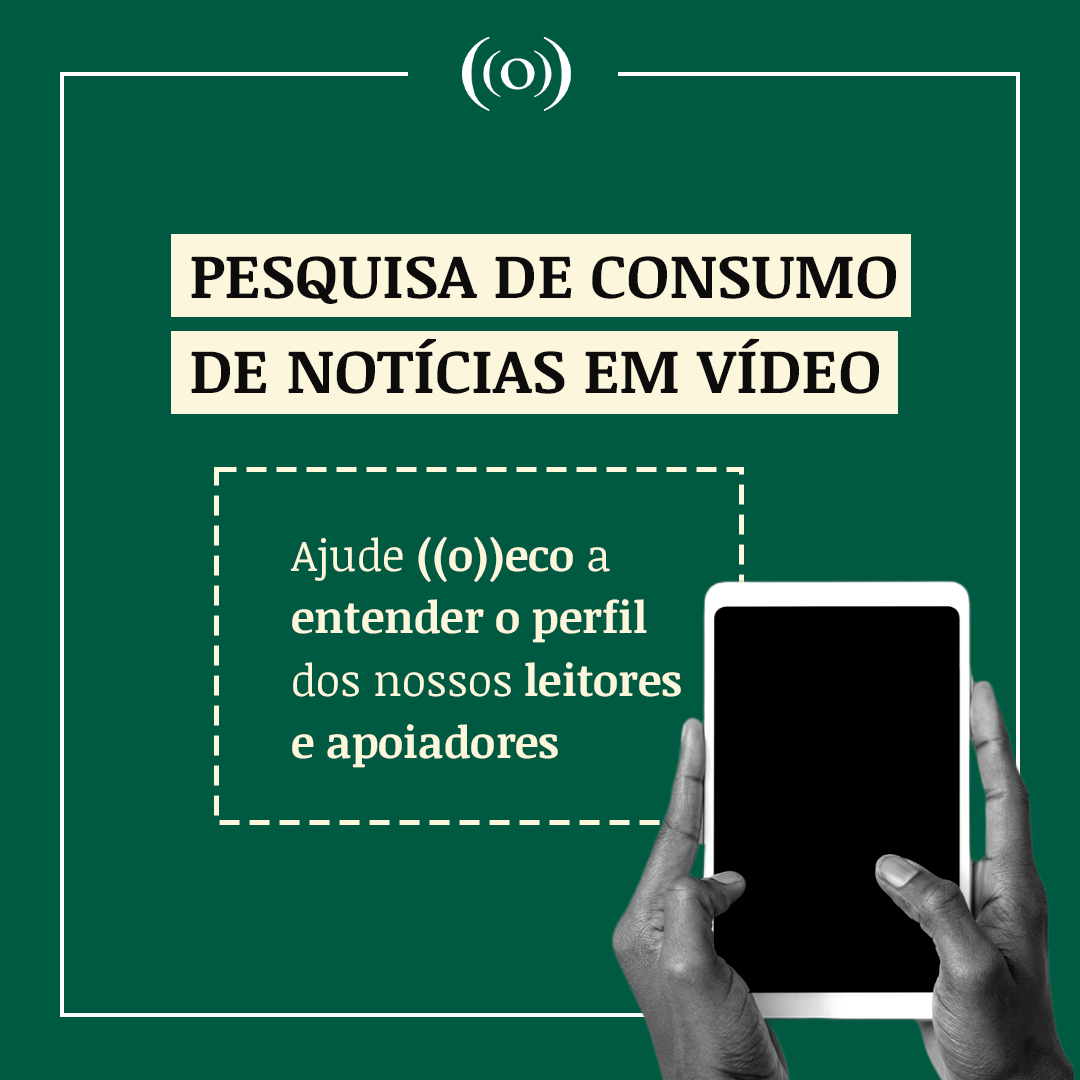
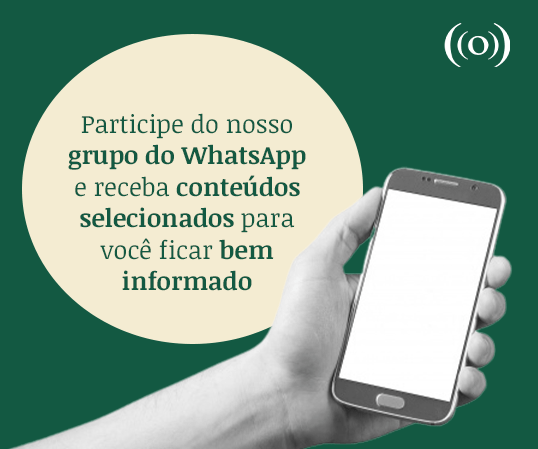
OI Diogo. É o Ronis. Tudo bem contigo? Sigo a disposição, RDS. [email protected]
alguem tem o contato do ronis? se tiver mande o contato para meu email ! [email protected]
ronis e o cara quando se trata de crocodilianos amazonicos