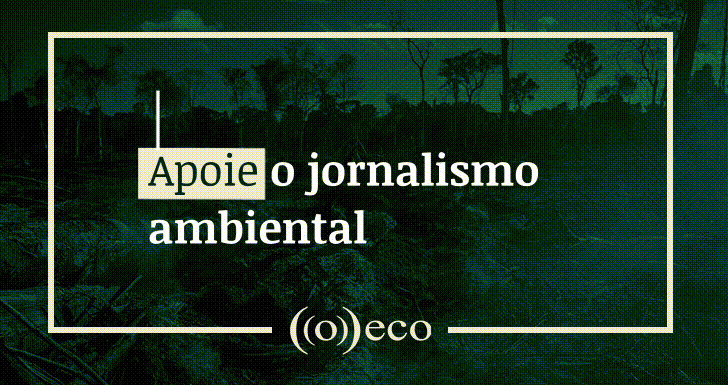Outro dia o climatologista Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esteve aqui para conversar com a turma de O Eco. Não vou contar todas as coisas interessantes que ele disse, porque elas estarão na entrevista, que publicaremos em breve. Mas ele repetiu duas coisas que todo cientista sério que estuda clima diz. Não dá para atribuir ao aquecimento global qualquer evento climático isoladamente. Por exemplo, a seca na Amazônia, ano passado, não foi inédita, mas sua extensão e intensidade foram, claramente, um desvio na curva. Fenômeno raro. “Chama atenção”, diz ele. O mesmo ele diz da onda de calor na Europa. É o que muitos cientistas Nobre reparam com relação à sucessão de furacões de níveis 4 e 5, ano passado na costa dos Estados Unidos.
O outro ponto é que haverá cada vez maior incidência de fenômenos climáticos extremos daqui em diante, à medida que evolui o processo de mudança climática. O consenso científico sobre o clima, do qual já falei aqui algumas vezes, é hoje quase unânime, pelo menos no que se refere aos fatos básicos, mas nada elementares, de que a concentração de gases estufa se elevou muito nas últimas décadas, que o planeta está mudando o clima, aquecendo, que o gelo permanente está derretendo.
Mas desse consenso não se pode retirar a conclusão, como se científica fosse, de que os fenômenos climáticos isolados possam ser atribuídos ao aquecimento global. Embora cientistas, como cidadãos informados, possam ter a convicção pessoal de que já vivemos o início da era de mudança climática.
Essa brecha entre a confirmação científica dos fenômenos, que requer tempo e investimento para adquirir o conhecimento necessário e os dados suficientes, e a observação cotidiana dos eventos climáticos, esconde um risco enorme para o planeta. Tomadores de decisão e mesmo os cidadãos mais céticos preferem esperar a certeza científica, para incorrer nos custos das ações mitigadoras. Uns são céticos por razões intrínsecas, da mesma forma que se é agnóstico, ateu ou desconfiado da natureza humana. Outros preferem se escorar no ceticismo, por defenderem interesses específicos que serão prejudicados com as mudanças de hábito, tecnologia e padrões de organização socioeconômica, necessários à mitigação dos efeitos estufa ou à adaptação a um outro cenário climático global. Outros preferem esperar para postergar sacrifícios pessoais. Têm um espírito dionisíaco, voltado para o desfrute imediato, e tendem a adiar qualquer temperança, que os espíritos apolíneos exercem por inclinação natural.
É um risco sociológico e político. O componente sociológico tem a ver com um padrão societário tão arraigado e que produz tanto benefício material – ainda que de forma cíclica e desigual – que desincentiva a opção geral pela mudança. Sobretudo, desincentiva mudanças ao mesmo tempo abrangentes e rápidas – que seriam necessárias para reverter ou mitigar os processos que geram a mudança climática – por outro lado, incentiva o ajuste incremental. O que observamos, hoje, é a opção majoritária pelos ajustes incrementais, pelo muddling through.
O risco político decorre da dominância de interesses ligados ao status quo energético e industrial e à inércia dos cidadãos. Os governos, ao invés de assumirem a vanguarda do processo, assumindo a liderança de uma sociedade que, nesse caso tem menos informação sobre os riscos que corre, e neutralizando os interesses particulares que contrariam o interesse coletivo, se submetem a essa dinâmica incremental. Nem é preciso presumir má fé ou uma relação promíscua e espúria entre governo e determinados interesses privados. A dinâmica de interesses e pressões no mercado e na sociedade, na maioria dos países, convalida o incrementalismo climático. Basta ver que, onde há pressão social, o processo decisório é mais rápido e mais eficaz. A Alemanha e a Escandinávia são boas referências, em contraposição aos Estados Unidos, à China e ao Brasil.
Dou dois exemplos da lógica incrementalista: um sobre a Amazônia, o outro sobre o Protocolo de Kyoto.
O governo brasileiro comemora porque o desmatamento caiu de 27 mil km2 para um pouco menos de 20 mil. A queda, que deve se repetir esse ano, tem a ver mais com a crise da agropecuária de exportação nos últimos dois anos, por causa do câmbio valorizado, e com repressão pontual mais efetiva, do que com medidas estruturais de mudança no padrão de uso e na visão que o Brasil tem da Amazônia. É uma queda pouco significativa, dado que a única forma de evitar – e temos pouco tempo para isso – a perda definitiva de grande parte da Amazônia é o desmatamento zero, já. A moratória seria uma ação forte e imediata. A celebração da queda temporária do desmatamento em alguns poucos milhares de quilômetros quadrados é um ajuste incremental, que não surtirá efeito no tempo necessário para evitar o mal maior.
As cotas de emissões para os países desenvolvidos, sob o guarda-chuva do Protocolo de Kyoto, são insuficientes e, ainda assim, muitos países não se mostram capazes de cumpri-las. O mercado de carbono está crescendo muito forte e amadurecendo, mas levará muito tempo para que atinja a escala que lhe permita ter impacto efetivo na concentração de gases estufa na atmosfera. As negociações sobre o pós-Kyoto estão avançando lentamente. O EUA ainda sequer aceitou ser parte. Grandes emissores como Brasil, China e Índia, alegam precisar mais desenvolvimento que os outros, para escapar da disciplina das cotas. Ao invés de buscarem crescer dentro das cotas, querem autorização para poluir e desmatar. O resultado é que as ações na redução das emissões de gases estufa são incrementais e insuficientes, já hoje, para sequer estancar o aumento da concentração dos gases estufa na atmosfera.
Vamos pensar um pouco, pelo outro lado, das manifestações das mudanças climáticas. Todo dia lemos na imprensa notícia de alguma pesquisa que descobriu uma evidência nova de aquecimento, derretimento de gelos permanentes, migrações de espécies por causa do aquecimento. A concentração de gases estufa na atmosfera tem aumentado a taxas elevadas. Carlos Nobre nos contou que sai pelo menos um bom resultado de pesquisa climatológica publicado por mês, sobre mudança climática, e dois por semana, mostrando já há que efeitos observáveis do aquecimento na ecologia.
Em 2003 e 2005, a Europa experimentou ondas preocupantes de calor, com vítimas humanas em escala significativa. No EUA, este verão, a onda de calor foi violenta e resultou em aumento considerável das queimadas nas florestas. Há estudos mostrando correlação significativa entre o aquecimento e o aumento da incidência de queimadas. Todos ainda nos lembramos do Katrina e dos outros furacões que atingiram o Caribe e a costa do EUA, no ano passado. A China está enfrentando este ano uma estação de furacões violentos e arrasadores. Há estudos mostrando correlação entre o aumento da intensidade dos furacões e o aquecimento da água do mar. O Kilimanjaro derrete. Os Andes derretem. Os Pireneus derretem. A Groenlândia derrete. Os Pólos derretem. É inequívoca a elevação da temperatura do solo e dos mares.
Para um analista de risco, esses fatos e vários outros, que não enumerei aqui, essa sucessão cotidiana de novas evidências de alterações climáticas significativas já presentes, as safras sucessivas de novos dados científicos, resultado de investimento de longo prazo na pesquisa e no desenvolvimento de métodos e tecnologias de pesquisa climática e ecológica, são suficientes. Vivemos um quadro de alto risco, que recomenda medidas drásticas e imediatas de contenção dos fatores de risco e de adaptação a esta “sociedade de risco”. Na verdade, mais do que uma sociedade de risco, seria mais correto dizer que estamos em uma ecologia de risco, a qual está associada a uma sociedade de risco.
Eu ensino risco político. Para chegar ao risco político, tenho que passar pelos modelos mais gerais de risco e por modelos mais bem testados de risco. Os epidemiologistas, por exemplo, dominam modelos complexos de risco e de contágio, que são muito úteis na análise de risco societário e risco político. Estão acostumados, por exemplo, a lidar com os tipping points, os pontos de ruptura ou virada, que transformam processos lineares e incrementais, em processos explosivos. Nenhum modelo de risco pressupõe certeza científica, seja para aceitar que existe risco presente e iminente, nem para que se tomem as medidas cautelares necessárias.
Do ponto de vista de análise de risco, há muito estamos em curso de colisão, rumando para a ruptura do macro-equilíbrio ecológico, ainda que dinâmico e precário, em que vivemos por séculos, se não milênios. Independentemente do quanto ainda não sabemos, das incertezas científicas e da complexidade dos processos climáticos, não haveria sombra de dúvida para o analista de risco de que já passou da hora de se tomar providências radicais para enfrentar a situação de risco que vivemos.
Não se trata de forçar os cientistas a reconhecer algo que o método científico os impede de reconhecer. Trata-se de admitir o risco com a evidência disponível. Risco diante da impossibilidade de negar o fenômeno, da evidência indisputável sobre efeitos que podem, em tese, representar um estágio avançado de interferência com o clima. Risco por causa da magnitude das conseqüências e dos danos decorrentes se o evento se materializar.
Para se ter o risco, não é preciso ter certeza da materialização do macro-evento catastrófico, basta haver probabilidade razoável de que ele possa ocorrer. Se, ainda, as conseqüências negativas dessa eventualidade forem de grande magnitude, no caso são de vasta magnitude, a soma das duas coisas – probabilidade razoável e vastas conseqüências negativas – configura uma situação de altíssimo risco, que demanda ação efetiva imediata e de envergadura proporcional à da ameaça por ele representada.
A ciência não pode correr, porque não pode incorrer no risco de errar gravemente. Está fazendo muito bem, o máximo que pode: produzir bons resultados de pesquisa, alertar para os riscos que vê, mas não pode afirmar categoricamente, na suposição de que uma leitura sensata de suas evidências leve a ações antecipadas, baseadas no princípio da precaução.
O problema é que quem leu Barbara Tuchman, The March of Folly, e Jared Diamond, Collapse, ambos traduzidos para o português, sabe que, historicamente, partes da humanidade preferiram a insensatez.
Se o que você acabou de ler foi útil para você, considere apoiar
Produzir jornalismo independente exige tempo, investigação e dedicação — e queremos que esse trabalho continue aberto e acessível para todo mundo.
Por isso criamos a Campanha de Membros: uma forma de leitores que acreditam no nosso trabalho ajudarem a sustentá-lo.
Seu apoio financia novas reportagens, fortalece nossa independência e permite que continuemos publicando informação de interesse público.
Escolha abaixo o valor do seu apoio e faça parte dessa iniciativa.
Leia também

Agro quer prioridade em norma que veda embargo a desmatamento ilegal
CNA publica lista de propostas legislativas que entidade tem interesse em ver avançar no Congresso. Várias delas compõem o Pacote da Destruição →

Governo institui política para acolher animais resgatados
Nova legislação estabelece responsabilidades para governos e empreendedores no resgate e manejo de animais domésticos e silvestres em emergências ambientais →

((o))eco relança a Campanha de Membros para sustentar jornalismo ambiental aberto e independente
Programa amplia participação de leitores e busca sustentar produção independente sem adoção de paywall →