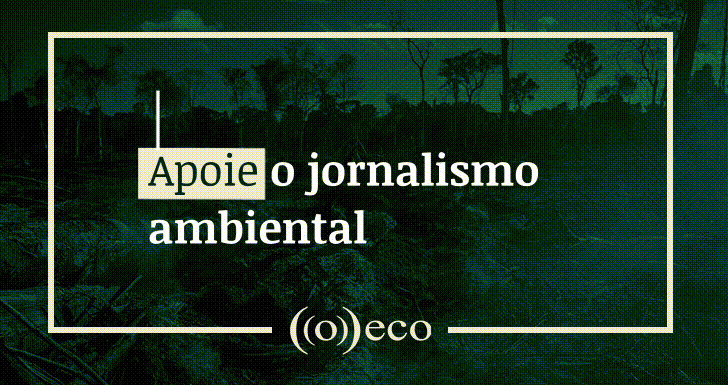Os dois relatórios divulgados este ano pelo IPCC são, na verdade, versões políticas de estudos científicos. São textos que combinam a opinião científica com a conveniência política de governos. Alguns desses governos com credenciais para lá de duvidosas, para decidir o que deve e o que não deve ser divulgado do trabalho de 2500 cientistas, nos últimos cinco anos. O resultado é um sumário no qual não dá para dizer onde termina a ciência e onde começa o canetaço diplomático, que se dedica a mitigar os textos, já que não deseja mitigar o aquecimento global, tomando medidas enérgicas para mudar os padrões de desenvolvimento baseados em carbono que se tornaram dominantes no século XX.
Em três dias, repassaram os relatórios que contêm a condensação do conhecimento acumulado sobre o clima nos últimos anos, para transformá-lo em um “sumário para formuladores de políticas”, os quais não são mais que seus colegas de governo. Acho a atitude dos governos um indicador de suma relevância do risco político que corremos em relação ao clima. E não estou considerando a chateação diplomática de um governo como o da Arábia Saudita, uma monarquia absolutista, que vive às custas do petróleo e da desigualdade. Mas se deve contabilizar nesse índice de risco político, os vetos de governos como os da Índia e da China, que se recusam a agir para evitar o crescimento exponencial de suas emissões, desproporcional à quantidade de bem-estar que vem sendo gerado para seus povos. Os dois se preparam para cruzar a linha de demarcação que os porá no topo da lista de emissores de gases estufa. A China pode cruzar essa marca ainda este ano. Deve-se contar, também, com peso qualificado, as pressões e vetos do governo Bush, que enfrenta uma CPI por ter censurado a divulgação de relatórios de cientistas importantes sobre o aquecimento global.
Essa investida diplomática sobre o consenso científico relativo à mudança climática global mostra que vários grandes emissores – entre eles China e Estados Unidos – estão dominados por coalizões de interesses que não pretendem adotar medidas na extensão e profundidade necessárias a mitigar o processo de mudança climática.
Como os cientistas mantêm algum poder sobre o resultado final, o segundo relatório, sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade, constitui o alerta mais grave emitido até agora, cientificamente fundamentado e que tem implicações políticas que vão além desse risco de inação em países-chave como EUA e China. O fato de já não se poder reduzí-lo a um fraseado diplomático inócuo, mostra o grau de risco envolvido nos processos climáticos das últimas cinco décadas.
O relatório diz duas coisas correlatas e diferentes. Não basta investir na mitigação do aquecimento global, é preciso também investir na adaptação às mudanças que já estão ocorrendo e ainda ocorrerão nas próximas duas ou três décadas e que são inevitáveis. Não basta investir na adaptação à mudança, é preciso investir na sua mitigação, sem o que não conseguiremos evitar grandes catástrofes futuras. A adaptação é onerosa e se faz mais necessária nas áreas mais vulneráveis do planeta, a maioria delas sem os recursos científicos, técnicos e financeiros para realizá-la. É muito relevante o desenho das desigualdades traçado pelo IPCC. As desigualdades hoje existentes criam um ambiente no qual a incidência da mudança climática aprofunda, amplia, reproduz e gera mais desigualdades.
A África, por exemplo, deve ser considerada a região prioritária no esforço de adaptação e não será capaz de implementá-lo na medida necessária sem significativa ajuda internacional. A adaptação africana é um grande desafio político internacional e local. Há países em guerra civil, outros dominados por tiranos corruptos, obviamente insensíveis ao drama que ronda a sobrevivência de seus povos e de sua biodiversidade. No conjunto, o continente não tem capacidades científicas, técnicas e econômicas para enfrentar esse desafio.
A Nova Zelândia é o caso destacado pelo relatório de país vulnerável, que deverá empreender ações amplas de adaptação, mas dispõe dos recursos científicos, técnicos e financeiros compatíveis com o porte do desafio que tem pela frente. Além disso, tanto a sociedade neozelandesa, quanto seu governo, têm demonstrado a disposição de agir efetivamente tanto no campo da mitigação, quanto da adaptação. Um caso intermediário é o da Austrália, que será ainda mais afetada que a Nova Zelândia, tem recursos, mas seu governo resiste à descarbonização e sequer ratificou o Protocolo de Kyoto.
É claro que Estados Unidos e Austrália são países que têm maior probabilidade de mudança de atitude política, porque são democráticos. A democracia faz diferença. Bush resiste e censura, mas é a cada dia mais um “lame duck”, um pato manco. Quem o suceda daqui a dois anos, democrata ou republicano, terá uma atitude mais proativa e mais cooperativa na política do clima. Na Austrália, se o governo não mudar de atitude, acabará caindo e sendo substituído por outro, que atenda à vontade da maioria por uma nova política para o clima. O mesmo é verdade para o Canadá.
Mas o que dizer da China? Continua sendo uma ditadura de partido, na qual um líder domina o Comitê Centra e impõe suas políticas. Mas é, ao mesmo tempo, uma tirania em declínio, mergulhada em contradições. O próprio tamanho do país faz com que o comando central em Pequim, não consiga controlar todos os governos provinciais. Daí porque a ordem de fechar mais de mil empresas obsoletas e poluidoras, não foi cumprida. Por outro lado, entre descarbonizar e mudar o padrão de desenvolvimento e seguir na vertiginosa trajetória de alto carbono de hoje, o Comitê Central ainda dá sinais de preferir a pior alternativa. A economia chinesa produtora de milhares de produtos piratas, copia o padrão ocidental de alto carbono e vem fazendo concessões políticas e ideológicas significativas em seu nome. Agora mesmo passou a reconhecer a propriedade privada, para acalmar os espíritos dos investidores que derramam seus recursos em um território sem contratos, sem possibilidade de recurso judicial e rigorosamente autocrático.
A política do clima entra, a partir dessa série de relatórios, em um momento de maior conflito e pressão. Até o final deste ano, qualquer dúvida razoável sobre a realidade e a gravidade da mudança climática e do peso do fator humano na sua aceleração e agravamento terá desaparecido. As resistências passarão a ser o que são: o reflexo de interesses de curto prazo, que se contrapõem ao bem-estar global e ameaçam dramaticamente a estabilidade planetária, tanto em sua dimensão física – climática e ecológica – quanto na sua dimensão política. Ficará mais caro resistir. Diante da realidade do aquecimento global, a resistência drenará legitimidade dos governos. Haverá maior forçamento para o recrudescimento do autoritarismo nos regimes não-democráticos ou nas democracias mais frágeis.
Se as medidas de adaptação tardarem ou falharem, a redução da produtividade agrícola e da provisão de água, gerarão enormes desigualdades regionais e sociais. A escassez provocará migrações, conflitos e guerras. A desertificação, as enchentes, as secas, as doenças, a elevação do nível do mar, provocarão grandes deslocamentos de população, aumentando a pressão econômica e social, muitas vezes em regiões já social e economicamente deprimidas, aumentando a pobreza, a violência, a segregação étnica e o conflito.
Se as medidas de mitigação falharem e um dos cenários mais dramáticos se concretizar, por volta do final deste século, início do próximo, o planeta não suportará mais que 2 bilhões de pessoas e em condições de bem-estar inferiores às que hoje têm as classes médias altas dos países mais ricos. Nessa época, o mundo teria algo em torno de 8 bilhões de habitantes. É um cenário de horror. Muito antes do planeta anêmico eliminar o excesso de população, esse quadro já terá sido antecipado e a seleção dos 25% afortunados será feita muito provavelmente pela força. É um cenário de guerras, homicídios em massa, genocídios, saques e miséria.
Nenhuma alternativa em caso de não implementação de ações suficientes para reduzir as emissões e mitigar a mudança climática global é boa. Algumas são terríveis. São as menos prováveis ou as que podem ser evitadas. O que agride a razão é ver tanta procrastinação, tanta disposição à censura das evidências científicas, por parte de tantos governos, diante desses cenários. Ainda que não se acredite neles. O risco é tão avassalador, que por mais baixa que seja sua probabilidade de ocorrência, não pode ser desconsiderado.
As leituras políticas dos relatórios do IPCC são muito piores que sua leitura científica. São ruins como sinal de provável inação ou ação insuficiente no curto e médio prazo e são ruins, quando se pensa nos efeitos sócio-políticos da mudança climática agravada pela ação mitigadora insuficiente. Não é o “catastrofismo cientifico” usado como álibi pelos censores que ameaça mais. O risco principal não está na física do clima alterado. A grande ameaça está no jogo político de interesses, no qual os interesses do carbono ainda são muito poderosos e as pressões da sociedade global – e local – ainda difusas demais para confrontá-los. Afinal, é a economia… política…
Se o que você acabou de ler foi útil para você, considere apoiar
Produzir jornalismo independente exige tempo, investigação e dedicação — e queremos que esse trabalho continue aberto e acessível para todo mundo.
Por isso criamos a Campanha de Membros: uma forma de leitores que acreditam no nosso trabalho ajudarem a sustentá-lo.
Seu apoio financia novas reportagens, fortalece nossa independência e permite que continuemos publicando informação de interesse público.
Escolha abaixo o valor do seu apoio e faça parte dessa iniciativa.
Leia também

Agro quer prioridade em norma que veda embargo a desmatamento ilegal
CNA publica lista de propostas legislativas que entidade tem interesse em ver avançar no Congresso. Várias delas compõem o Pacote da Destruição →

Governo institui política para acolher animais resgatados
Nova legislação estabelece responsabilidades para governos e empreendedores no resgate e manejo de animais domésticos e silvestres em emergências ambientais →

((o))eco relança a Campanha de Membros para sustentar jornalismo ambiental aberto e independente
Programa amplia participação de leitores e busca sustentar produção independente sem adoção de paywall →