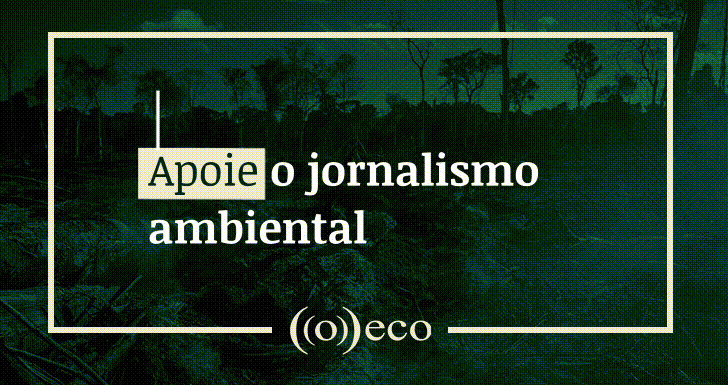Mais uma vez as chuvas pegaram o Rio de Janeiro de surpresa —como fazem todo ano, contrariando o próprio conceito de surpresa. Pessoas mortas, barracos reduzidos a pedaços, gigogas e línguas negras denunciam o caos administrativo e ambiental da cidade. Mas, longe dos olhos atentos da população engajada da Zona Sul carioca, um drama ambiental de proporções ainda maiores se desenrola há quase quarenta anos.
Denunciado aqui em O Eco na reportagem de Carolina Elia (Um tormento chamado Ingá), o passivo ambiental da falida Ingá Mercantil, composto de algumas montanhas e uma enorme lagoa de metais pesados e outras substâncias altamente tóxicas, é um dos grandes problemas ambientais do estado. Sua simples existência ainda hoje, seria motivo de vergonha e constrangimento para qualquer povo minimamente civilizado. Aqui, no entanto, eles continuam existindo, em meio a um “jogo de empurra” no qual todos os jogadores parecem acreditar que a natureza acabará resolvendo o problema que, na verdade, é deles.
Mas por que, e como, a situação ficou tão ruim? A culpa, em primeiro lugar é da total falta de preocupação com os problemas ambientais que, até bem pouco tempo, nos acometia a todos de maneira mais ou menos generalizada. Até recentemente, ninguém ligava para a degradação ambiental — até incentivávamos comportamentos nocivos, desde que ela fosse pelo desenvolvimento. Tudo se podia em nome do progresso. Não havia nada mais desejável. Para muitos, infelizmente, ainda não há. Foi justamente nesse clima que o passivo ambiental da Ingá adquiriu as proporções monstruosas que tem hoje. Em segundo lugar, existe a falta de ação do Poder Público que, tendo detectado o problema, insiste em não resolvê-lo, como se passar o pepino adiante fosse questão de honra.
Esses dois problemas, contudo, não são privilégio do passivo ambiental da Ingá Mercantil. São questões corriqueiras que sempre assombraram os ambientalistas. A outra grande questão, nesse caso específico, é que as montanhas de rejeitos tóxicos e a lagoa venenosa, hoje, não têm dono.
A falida lei de falências
Explica-se. A Ingá Mercantil faliu em 1998, ainda sob o regime da antiga Lei de Falências (Dec-Lei 7.661/45), passando a receber toda a proteção que a legislação falimentar garante a quem nela se apóia para tentar sair de uma situação financeira calamitosa. Com isso, reuniram-se e paralisaram-se automaticamente as ações judiciais que existiam contra ela na data da decretação da falência. Criou-se um bloqueio e, como a legislação falimentar brasileira — a antiga como a nova — não faz qualquer menção ao passivo ambiental do falido, a Ingá ficou também blindada contra demandas ambientais.
Como toda pessoa — física ou jurídica — que tem sua falência decretada, todo o patrimônio da Ingá — passivos e ativos incluídos — passou a ser administrado por uma pessoa nomeada pelo juiz que conduz o processo de falência. No caso da Ingá, que faliu ainda sob o regime da antiga lei de falências, o nome dado a esse administrador é síndico. Essa pessoa é responsável por administrar o passivo e o ativo do falido — ou da massa falida, para usar o termo técnico — da melhor maneira possível, visando ao pagamento do maior número de créditos que se conseguir. Como as leis falimentares só costumam contabilizar no patrimônio do falido os créditos ou débitos que forem passíveis de avaliação pecuniária, o passivo ambiental sempre sobra.
Some-se a isso, ainda, o fato de que o síndico, na grande maioria das vezes, é escolhido entre os maiores credores do falido e, portanto, não tem qualquer interesse em utilizar recursos, que eventualmente poderão ser usados para pagar o seu crédito, na reparação de danos ambientais. Fica fácil perceber porque ninguém parece disposto a mexer um dedo para proteger a Baía de Sepetiba contra os poluentes da Ingá.
O problema da Ingá tem tudo para não ser uma exceção. Isso porque a nova legislação falimentar deixou de dar qualquer passo nesse sentido. A Lei 11.101, promulgada no início do ano passado, nos moldes da legislação falimentar dos Estados Unidos, não faz qualquer menção a passivos ambientais. Apelida de Lei de Recuperação de Empresas, a nova lei segue quase à risca o modelo dos EUA, que também não fazia, até o ano 2000, qualquer menção ao tema.
Como é a prática, alhures
Hoje, nos EUA, a coisa mudou um pouco. O entendimento das cortes atualmente tende a ser no sentido de que a paralisação automática das ações judiciais não atinge ações propostas pelo governo para parar ou impedir danos ao meio ambiente.
A legislação norte americana também permite que sejam acionadas quaisquer pessoas que tenham, em algum momento e de qualquer forma, contribuído para o dano ambiental imputado ao falido, mesmo que tenham agido sem culpa. Essas pessoas, lá conhecidos como partes potencialmente responsáveis — PRPs, na sigla em inglês — podem ser condenadas, em conjunto ou individualmente, à recuperação total do dano ou a levar adiante medidas preventivas, podendo cobrar dos demais responsáveis suas parcelas de responsabilidade em ações posteriores. É o que no Brasil se denomina responsabilidade solidária.
O governo ainda pode exigir que o falido continue a observar a legislação ambiental durante o processo ou após a decretação da falência, mesmo que isso exija gastos por parte do falido que impliquem na diminuição de seu patrimônio. Já que copiamos a lei, não seria boa idéia copiarmos a aplicação?
Leia também

Fundo Casa abre chamada de R$ 2,5 mi para apoiar projetos na Mata Atlântica
O edital nacional prevê financiamento de até 42 iniciativas comunitárias voltadas à restauração florestal, geração de renda e adaptação climática no bioma →

Exposição imersiva sobre crise climática chega ao Rio
Exposição gratuita do Coral Vivo reúne experiências sensoriais e conteúdos científicos para mostrar como a crise climática já afeta oceanos, ecossistemas e sociedade →

Albardão não é de nenhuma pessoa. É, finalmente, deles
O Parque Nacional representa mais do que uma vitória política, técnica ou institucional. Ele representa uma rara decisão civilizatória: a de dizer que o mundo não existe para ser usado →