Foi como se eu tivesse chegado ao portal que separa o mundo dos vivos e o além. Dali pra frente, era o desconhecido. O corpo, eu não dominava; meus olhos eram só uma janela por onde entrava a intensa luz daquela manhã ensolarada. Fechados os olhos, a luz era ainda mais intensa. Senti que podia prosseguir, mas fui chamado de volta ao corpo com a ajuda de uma cantiga indígena tão estranha quanto tudo o mais. O mal-estar era geral, resultando numa crise de vômitos. Da minha boca, saía uma secreção esverdeada. Bílis, talvez. Minhas veias pareciam que iam explodir. Aos poucos, foi passando…
Era a primeira vez que tomava o kampô, uma “vacina” feita da secreção da pele de uma perereca endêmica da Amazônia (foto acima), nativa das regiões entre o Alto Juruá (AC) e o Vale do Javari (AM). A pajelança – que dura pouco mais de meia hora – é secularmente usada por índios de várias tribos contra uma infinidade de males do corpo e da alma. “O kampô tira panema (má sorte na caça), cura o índio de muitas doenças. Ele desperta. Homem que é preguiçoso, começa a trabalhar” ensina Fernando Katukina, líder do povo que leva seu sobrenome e de uma empreitada que envolve o governo federal, cientistas, pesquisadores, ONGs e laboratórios multinacionais. O pivô de tudo é a vacina que me levou aos estertores.
Kampô, kampu e kambô são outras denominações da vacina, que também dão o nome tradicional à perereca de onde provém sua matéria-prima. As secreções da pele do anfíbio – que mede cerca de dez centímetros – foram conhecidas a partir do final da década de 50, quando o italiano Vittorio Erspamer pesquisou os princípios bioativos da pele do “sapo verde”, como também é conhecido na região Norte, ou Phyllomedusa bicolor, sua alcunha científica. O italiano não precisou nem molhar os pés na úmida floresta. Recebeu os exemplares em casa, pelo correio.
Já se sabe que a secreção da perereca amazônica contém uma série de substâncias muito eficazes. Entre elas, a dermorfina e a detorfina. A primeira é altamente analgésica e a segunda está sendo estudada para o tratamento de isquemias cerebrais. Mas isso ainda é pouco diante das expectativas dos laboratórios. Pelo menos dez substâncias presentes na pele da perereca já tiveram suas patentes requeridas por laboratórios americanos, europeus, israelenses e japoneses.
“Na pele dos anfíbios desta espécie foram identificadas moléculas com ações antimicrobianas que podem servir de base para o desenvolvimento de uma nova geração de antibióticos”, explica o biomédico e doutor em Ciências, Antônio Sebben, do Laboratório de Toxinologia e Anatomia de Vertebrados da Universidade de Brasília (UnB), onde pesquisa justamente as secreções de anfíbios do gênero Phyllomedusa. Desse grupo fazem parte, pelo menos, dez espécies, todas venenosíssimas.
Além dos Katukina, as tribos Kaxinawá, Ianawaná e Pulina, no Acre, e Marubo e Maiouruna, no Amazonas, também usam o kampô. Mas assim como eu pude tomar a vacina por 60 reais sem precisar sair de Brasília, uma legião de fiéis tem experimentado o veneno nos centros urbanos. Na capital federal, o séquito de adoradores da perereca tem gente de todos os matizes sócio-culturais. Em geral, pessoas ligadas a grupos esotéricos ou que, descrentes da medicina convencional, botam fé em práticas de cura não-convencionais. Ou seja lá o que for que motive alguém a se deixar inocular por um veneno ainda desconhecido pelos cientistas.
Várias pessoas se dizem “autorizadas” a aplicar a vacina. “Eu tenho clientes em Curitiba, São Paulo, Rio, Brasília e em cidades do Nordeste”, atesta José Gomes, filho de um seringueiro que viveu entre os Katukina e aprendeu com eles os “mistérios” do anfíbio. Sua agenda de clientes inclui empresários, artistas, advogados, jornalistas, estudantes. “Já vi anúncio até em uma lanchonete de Manaus”, relata Marcelo Gordo, especialista em anfíbios da Universidade Federal do Amazonas. A situação chegou a tal ponto que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma recomendação proibindo o uso da vacina fora do contexto cultural dos povos tradicionais que utilizam a substância. Em vão.
A ampla disseminação da prática entre os não-índios fez os Katukina procurarem o Ministério do Meio Ambiente em busca de uma solução para garantir o uso sustentável do recurso natural. É que o excesso de demanda sobre o bicho pode comprometer a sobrevivência da espécie. Em outubro do ano passado, o Ministério criou um grupo de especialistas para desenvolver um projeto que garanta o acesso ao patrimônio genético e a repartição de benefícios entre as comunidades tradicionais que têm conhecimento associado ao anfíbio amazônico.
“O projeto quer garantir a proteção ao uso tradicional desse recurso e o combate à biopirataria”, informa Reuber Brandão, coordenador científico do grupo. Para começar, explica ele, será preciso levantar dados sobre a ecologia das populações do anfíbio. Depois serão feitas pesquisas em laboratório para verificar a eficácia das substâncias. Glaucus Brito, do Instituto do Coração da USP e integrante do grupo, pesquisa os efeitos da vacina sobre o sistema imunológico humano, para aplicação em problemas cardiológicos, respiratórios e endócrinos. Depois de finalizado o projeto, antropólogos devem ajudar a torná-lo viável entre os povos indígenas que têm em comum o uso do kampô, mas, em compensação, possuem agudas diferenças de ponto de vista e de interesse em relação ao assunto.
Apesar de ter urbanizado seus serviços, José Gomes garante que respeita todo o ritual dos Katukina. “Primeiro escolhemos a lua em que vamos pegar o sapo. As fases da lua influenciam no poder da vacina. Depois vamos para a floresta em busca do animal. Chamamos o kampô com a entoação de um cântico mágico. Recolhemos a secreção e devolvemos o animal à natureza antes de iniciarmos a aplicação”. A secreção, explica ele, é coletada em uma lâmina de madeira. Depois de seca, a substância pode ser levada para qualquer lugar. Na hora de aplicar, basta hidratá-la. Para inocular no organismo humano, são necessários alguns orifícios feitos na pele com a ajuda de um cipó bem fino com a ponta em brasa. Faz-se uma seqüência em linha reta de uns quinze furinhos na pele do braço, no caso dos homens, ou na panturrilha, se for mulher.
Em seguida, aplica-se a secreção umedecida. Ao passar no terceiro ou quarto furo, começam as reações. E começam forte. Perda da força muscular, náuseas, vômitos abruptos e a estranha sensação de que se vai em direção à morte. Mas é tudo passageiro. O bom vem depois: um forte vigor e os sentidos mais aguçados são o prêmio do caboclo, e, cada vez mais, também dos caras-pálidas. E que se cuidem as pererecas.
* Jaime Gesisky é jornalista catarinense radicado em Brasília. Há cinco anos, dedica-se a estudar e escrever sobre a biodiversidade brasileira.
Leia também

Brasil registra o maior número de conflitos no campo desde 1985, diz CPT
Segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra, país teve 2.203 conflitos em 2023, batendo recorde de 2020; 950 mil pessoas foram afetadas, com 31 assassinatos →

Acnur anuncia fundo para refugiados climáticos
Agência da ONU destinará recursos do Fundo para proteger grupos de refugiados do clima. Objetivo é arrecadar US$ 100 milhões de dólares até o final de 2025 →

Deputados mineiros voltam atrás e maioria mantém veto de Zema à expansão de Fechos
Por 40 votos a 21, parlamentares mantém veto do governador, que defende interesses da mineração contra expansão da Estação Ecológica de Fechos, na região metropolitana de BH →




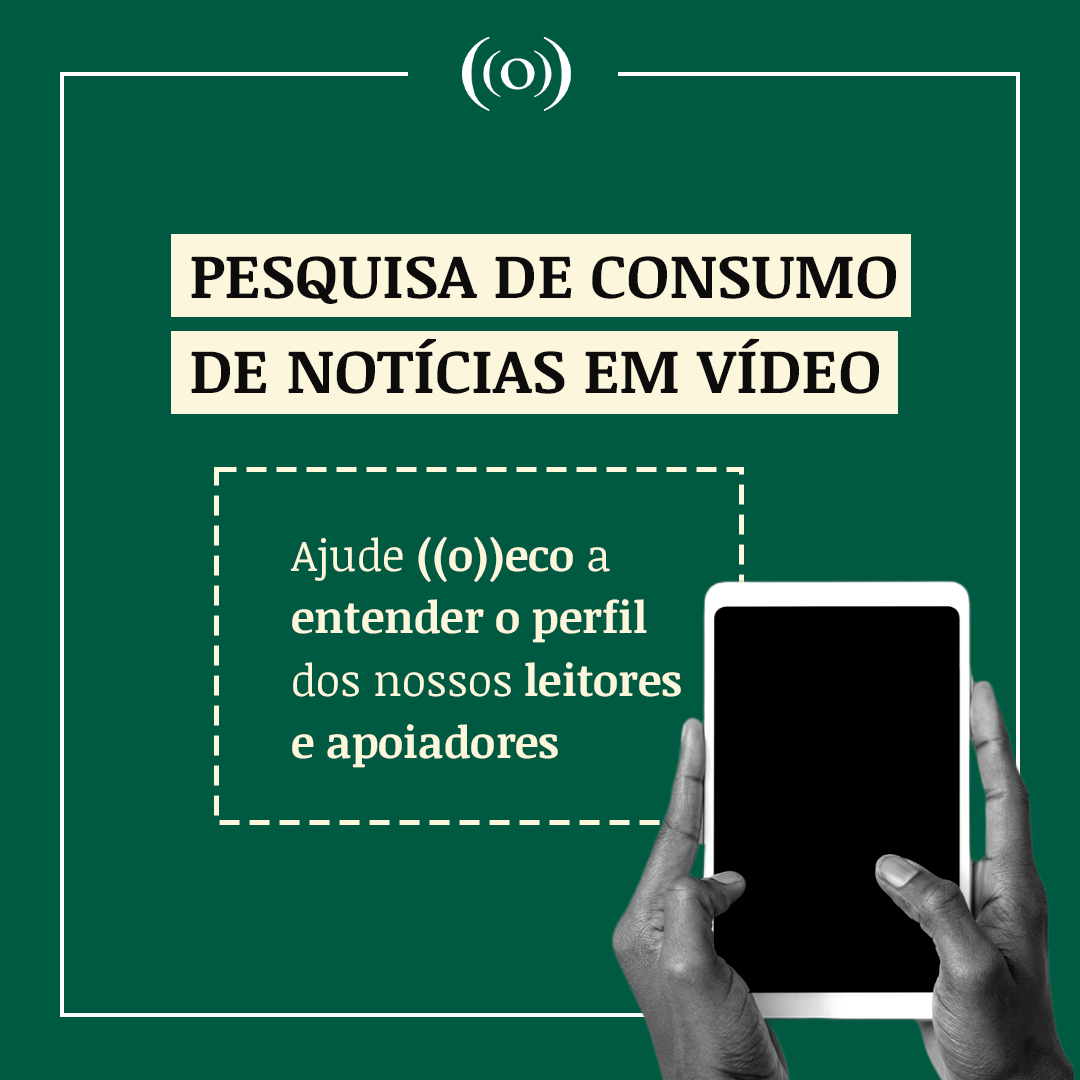
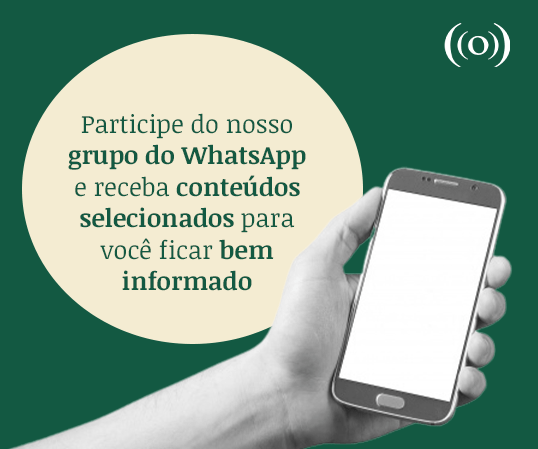
15 furinhos?
Que absurdo isso, informação errada.
Vc deveria ter mais responsabilidade ao compartilhar informação.
15 pontos para quem nunca recebeu a medicina pode ser fatal caso a pessoa apresente alguma doença