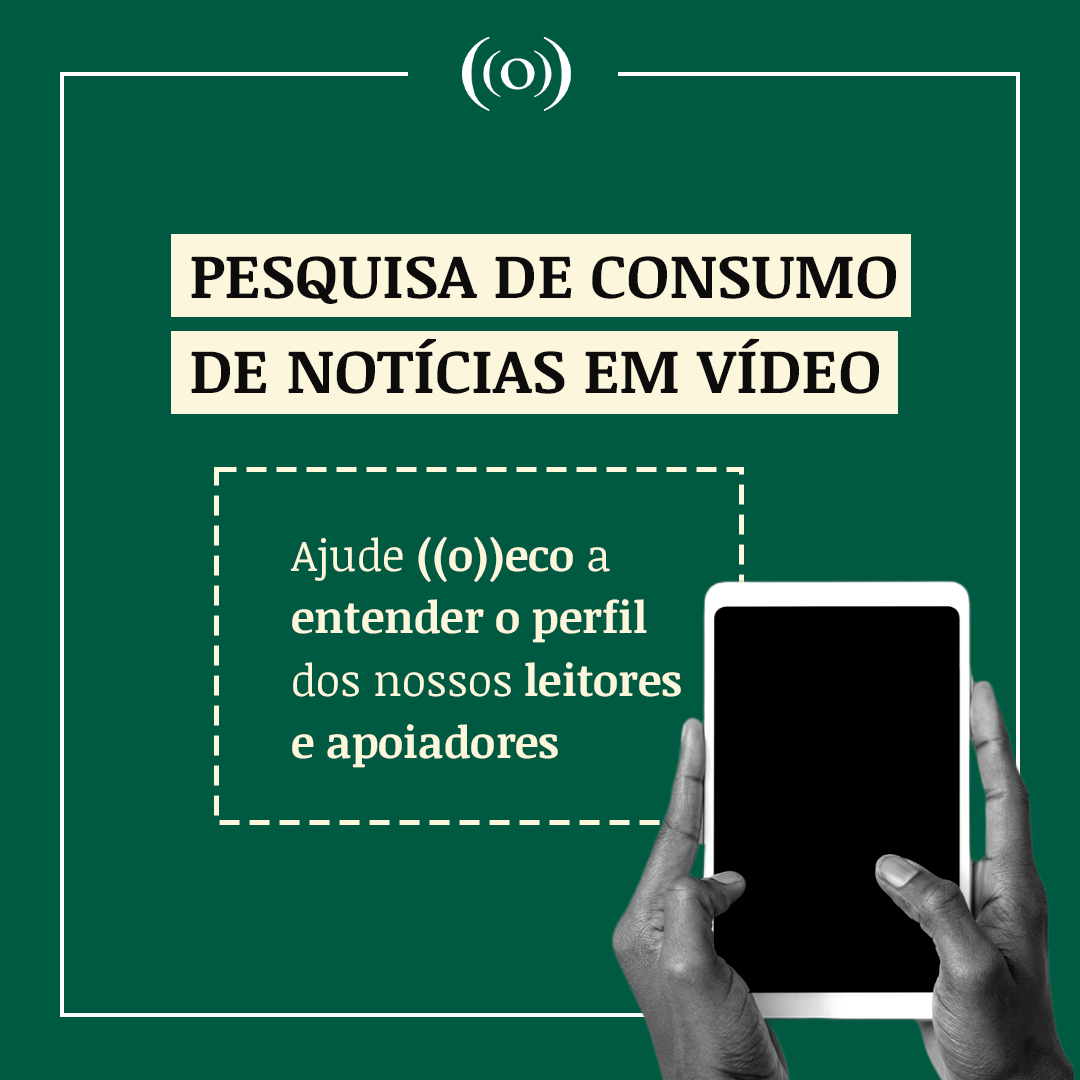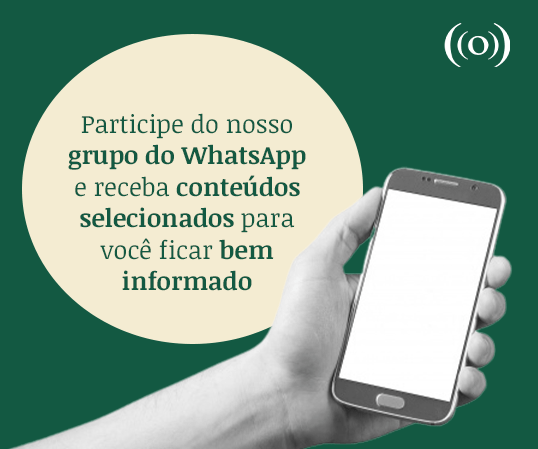Esta semana reli algumas passagens do livro de Jared Diamond, Collapse, para escrever uma resenha que me haviam pedido. Ao passar por sua análise de Montana, EUA, especialmente do belo Bitterroot Valley, uma região que vive a ameaça contemporânea de colapso ecológico, a conjuntura que vivemos hoje no Brasil me assaltou o espírito, desviando meu pensamento da resenha e dos temas que havia escolhido para tratar nesta coluna. Nos últimos 50 anos, houve uma redução significativa das geleiras daquela parte de Montana, já com conseqüências notáveis sobre o ambiente. Diamond mostra os conflitos que polarizam aquela sociedade, as visões contrárias dos “nativos” e dos “de-fora”, o alheamento da maioria em relação a uma tragédia já anunciada nas cicatrizes da terra, nos problemas da água, no recuo da neve para os picos mais altos, o desregramento, a desobediência às regras, a omissão das autoridades e a perda geral do sentimento coletivo.
Ele reproduz frases de pessoas naturais do Bitterroot Valley criticando e lamentando os recém-chegados, a quem atribuem os danos recentes ao ambiente local. Ouvi frases praticamente iguais em vários lugares do Pantanal de Mato Grosso. São inúmeros os registros desse mesmo tipo de lamentação nas fronteiras do desmatamento na Amazônia. Parte da destruição da Mata Atlântica se deve aos que chegavam em busca de terras para ampliar seus negócios. O café, por exemplo, no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, em vastas porções das Minas Gerais e no Espírito Santo. É preciso que algum fenômeno faça esse estrangeiro se sentir de tal forma integrado àquele local, para que nasça nele o desejo irresistível de preservá-lo. Parece romântico, mas pode ser real.
Foi um sentimento desses que salvou metade da população conhecida da espécie de muriquis dita “do norte”, na Fazenda Montes Claros, em Caratinga, Minas Gerais. O pai de seu Feliciano Abdala chegou a Caratinga estrangeiro, comprando fazendas para produzir café. Seu Feliciano, não menos “de-fora” comprou a Montes Claros nos anos 40. Dizem os locais que era de pouca conversa, só ia à cidade para tratar de seus vastos negócios de café. Não era bom de trato com as pessoas. Aborrecia-se facilmente. Nunca se integrou inteiramente. Caso clássico de desmatador. Mas encontrou boa companhia na presença daqueles curiosos e carismáticos primatas, que o iam observar, quando se retirava para suas matas para evitar contatos muito imediatos com os de sua espécie. Passou a apreciar os muriquis e se tornou defensor intransigente deles. Uma vez declarou ao Globo Ecologia: “eu se tornei um conservador, desde menino”. E conservou, a ferro e fogo, a mata dos mono-carvoeiros, como também são conhecidos. Ela é, hoje, um tesouro inestimável do que resta da Mata Atlântica mineira, repleta de muriquis, acostumados à presença humana por causa dos pesquisadores, mas, de outra forma, rigorosamente selvagens.
Foi essa integração ao mundo natural das Montes Claros, apesar de nunca se ter integrado completamente à comunidade social de Caratinga, que preservou o espírito conservacionista de seu Feliciano e salvou seus muriquis. Seu Feliciano tinha duas paixões: os muriquis e um enorme jequitibá. Era tanta a sua integração a eles, que a natureza os uniu em trajetória coincidente. Na semana em que seu Feliciano morreu, o jequitibá desabou, sem raio, nem ventania, de velhice e o mais idoso dos muriquis, “Lips”, um mono com lábio leporino, velho amigo de seu Feliciano, morreu também. De velho, por descansado que sua ascendência estava salva e garantida.
A releitura de Diamond me trouxe à lembrança um velho texto, dos bancos de faculdade: O Suicídio, de Émile Durkheim. Um primor de trabalho de sociologia, uma leitura obrigatória de introdução ao método sociológico que nada perdeu com a idade. Confesso, desde logo, minha predileção pelos clássicos. Não desmereço os avanços todos das ciências sociais, no Século XX. Mas é raro encontrar o prazer e o quilate na leitura contemporânea, que estão em Durkheim, De Tocqueville, Rosseau, Tarde, Pareto, Marx, Weber, Hobbes. O título da coluna é uma homenagem a Durkheim, uma menção ao seu “suicídio anômico”.
Pensando no “colapso ecológico” de Jared Diamond, que levou várias sociedades ao desaparecimento, me lembrei do Suicídio de Durkheim. O colapso da sociedade está para o coletivo, como o suicídio está para o indivíduo. Muito provavelmente os determinantes sociais do suicídio terão próximo parentesco com as causas sociais do colapso ecológico dos povos. Realmente, Diamond alinha uma série de fatores, muitos dos quais têm muito a ver com aqueles apontados por Durkheim para certos tipos de suicídio. O sociólogo diz que o suicídio varia na razão inversa do grau de integração da sociedade religiosa, doméstica, social e política. Estabelece uma dialética fatal entre a desintegração social e a alienação individual. “A sociedade não pode se desintegrar, sem que o indivíduo, na mesma medida, se desengaje da vida social, sem que seus fins pessoais não se tornem preponderantes aos fins sociais, sem que sua personalidade, em uma palavra, não se ponha por cima da personalidade coletiva”, afirma. E vai mais além. Diz que quanto mais os grupos de referência dos indivíduos enfraquecem, mais eles tendem a desconhecer quaisquer outras regras se não as de seus interesses particulares.
Imaginem, por exemplo, o efeito desagregador do que tem acontecido com as igrejas no Brasil. As igrejas tradicionais, como a católica, a presbiteriana, a metodista, vêm perdendo espaço para numerosas seitas evangélicas que, agora, se descobre, se dedicam mais a pastorear malas de dinheiro, do que almas pias. Não é lugar aqui, para tratar da perda de espaço das igrejas convencionais, cujos padres e pastores se formam em seminários, estudam teologia a sério, para pastores improvisados. Mas é claro que a perda de força dessas igrejas deixou as pessoas, em busca de conforto na religião, à mercê dos aventureiros. A urbanização, a migração, a entrada da mulher na força de trabalho, o aumento do número de separações e divórcios, reduziram o espaço da família na integração individual e social. A migração desenraiza porções significativas da população. O sistema educacional básico, massificado, mas de baixa qualidade e, ele mesmo expressando a o sentimento de desagregação e anomia, não substitui essas agências na socialização das crianças, nem das famílias. A política se fragmenta, perde credibilidade como canal de expressão legítima e a agregação de interesses, confunde-se com o clientelismo, a patronagem e a corrupção. O clientelismo não agrega, nem solidariza, constrói uma dependência utilitarista e individualista, e entre o patrono e a clientela. A maioria dos processos que listei é positiva, tem a ver com o progresso. Uma parte não desprezível é negativa. Mas todos levam à desintegração social e ao aumento da anomia, do desregramento, do sentimento de não pertencer, não estar aceito.
Esse desregramento, associado à desintegração social, essa anomia e essa alienação, eram as causas principais do suicídio, no estudo de Durkheim. Não tenho qualquer dúvida de que são, também, determinantes dessa insensata marcha para o colapso ecológico. Fiquemos nos casos mais imediatos, da destruição da Amazônia e do Pantanal. Todos os relatos falam dos “que chegam”, como novos conquistadores, destruindo as fazendas pantaneiras tradicionais, tocando fogo e passando a corrente na floresta amazônica, para trazer seus grãos e seu gado. São sociedades marcadas por mudanças muito rápidas, que desenraizam os locais, destruindo suas redes tradicionais de referência e trazem os “estrangeiros”, que não reconhecem valores na cultura, nem nos modos tradicionais de relacionamento econômico com o ambiente local. Não se emocionam com os cheiros, as cores, os pios, a vida toda que pulsa naquele local. Ao contrário, vêem tudo como mato, a ser removido para que seus interesses possam se realizar. Não há muitos seu-felicianos, que se apaixonem por macacos, ou onças, ou capivaras ou árvores e vejam neles razão para não tocar fogo ou correr o ferro e despejar suas sementes estrangeiras e não desejadas. Esse vasto estupro da terra alheia, ou da terra pública, ou das reservas legais requer exatamente isso: alheamento e ausência de lei.
Mas haveria remédio, apesar da fatalidade da dialética durkheimiana entre a desintegração social e a alienação individual, na ação de uma terceira força mediando entre a sociedade e o indivíduo: o estado. A regulação se faz necessária, diz ele, para conter as paixões e os apetites nos limites suportáveis pela sociedade e pelos indivíduos. Este mesmo raciocínio tem sido aplicado à ecologia, de Garret Hardin e sua brilhante fábula da tragédia dos comuns, a Jared Diamond e seu grave alerta sobre a possibilidade do colapso. Diamond pergunta por que as sociedades decidem fracassar ou vencer. Durkheim pergunta por que as pessoas escolhem morrer ou viver. Que stress é esse, que produz a propensão à destruição de si ou de seu meio e sua sociedade?
Ninguém tem uma resposta cabal para essa dúvida crucial. Nos dois autores, esse inquérito leva a questões sobre soluções práticas. Se tivéssemos a resposta, seríamos capazes de uma sóciopsicologia e de uma engenharia social que eliminariam o suicídio e o colapso como cenários possíveis da vida individual e coletiva. Mas todos concordam que essa torrente contrária de paixões e apetites, que leva à perspectiva da destruição, se não encontra o equilíbrio na relação entre os interesses individuais e coletivos, requer regulação do estado. Esse “ser artificial”, esse “Leviatã”, criado por um contrato entre todos, para defesa de todos, como diz Hobbes em seu clássico impar. Portanto, a expansão da alienação, da anomia e da desintegração da ordem social, indicam, igualmente, o enfraquecimento do estado e de seu poder legítimo de regulação, a ruptura do pacto social.
Há muitos anos atrás, em artigo sobre políticas sociais, já preocupado com esse estado de alienação da sociedade brasileira, cujo sintoma, à época, era a hiperinflação, cunhei o termo “Leviatã anêmico”, para caracterizar o estado brasileiro. Um gigante, cujos dedos alcançam praticamente todas as atividades sociais e econômicas, numa enorme rede regulatória, que pode chegar às minúcias, mas que é cada vez mais incapaz de exercer com eficácia qualquer uma de suas atribuições. À época, eu estava pensando em apenas uma das dimensões da anemia estatal: aquela determinada pela crise fiscal. Crise que, hoje, se tornou estrutural e crônica. Mas a ela se superpuseram outras crises, talvez mais graves em suas conseqüências e resiliência: a crise de legitimidade e a crise de confiança. Ninguém se julga mais 100% obrigado a obedecer à regulação estatal. É sintoma de uma brutal crise de legitimidade. Ninguém confia mais na autoridade pública. Lembrem-se do verso profético de Chico Buarque, já quase perdido na bruma desses tempos vertiginosos que vivemos: “chama o ladrão, chama o ladrão”. Quem se atreve, hoje, a chamar a polícia?
Mas estou convencido de que parte das explicações, ainda que com alguma atualização, está contida na lição magistral de Durkheim. Suicídio e colapso são possibilidades nascidas da combinação trágica da desintegração social, da anomia e alienação dos indivíduos e da falência da autoridade pública, da regulação. Aqui retornamos a um tema que tenho repisado nesta coluna: não temos uma crise ambiental, temos uma crise societária, associada a uma crise do estado. Algo similar, talvez mais amplo e mais específico, ao mesmo tempo, ao que Jürgen Habermas chamou de “crise de legitimidade”. Não estamos falando da falta de vontade política na área ambiental, que permitiria a devastação, totalmente desproporcional a qualquer benefício que possa gerar.
Vontade política é um conceito vazio de significado, nascido de um desejo autoritário e alienado: “eu quero que alguém – no caso o governo do dia – faça na marra o que eu acho certo e não encontro os meios para fazer prevalecer no jogo político dos interesses em minha sociedade”. Esse voluntarismo está predestinado à frustração. Como não existe esse poder, que pudesse ser emulado por aquela vontade política, nem mesmo nas mais ferozes ditaduras, esse desígnio jamais se cumprirá. Porque o poder não está no estado – e quando está é uma perversão totalitária – está na sociedade. Quando o invasor do sul desmata a Amazônia, ou o Pantanal, ele está demonstrando a fraqueza já existente da sociedade local. Fraqueza nascida da desintegração social, da alienação dos locais e da dissolução e corrupção do poder local. Como, todavia, não somos uma frouxa confederação de tribos, formamos uma sociedade nacional formal e legalmente constituída, esse processo denota também, a desintegração da sociedade nacional, o enfraquecimento da sociedade civil, fragmentada em grupos de interesses específicos, sem referência nacional ou coletiva geral, e a anemia do estado. Denota, mais, uma degradação dos canais de relacionamento entre estado e sociedade. Em poucas palavras: toda grave crise ambiental é uma crise societária.
Portanto, não há saída e estamos destinados ao colapso, certo? Errado. Ou não necessariamente verdadeiro. Não sou adepto do ceticismo social ou sóciocético como muitos ambientalistas. Claus Offe, por quem tenho pessoal simpatia, uma figura de enorme pacifismo no trato pessoal, embora capaz de idéias altamente explosivas, é um exemplo desse sócioceticismo, que sabe identificar muito bem a problemática contemporânea, mas diz não haver o que fazer.
Há duas formas de manifestação dessa dialética da desintegração-alienação-anomia-anemia. Uma tem a ver com mudanças muito rápidas. Um processo de transformação que desordena, confunde, contraria, desregra, desespera, desatende, frustra. Mas é uma lógica de movimento positivo. Um longo ciclo de destruição progressista. Por um momento, a velha ordem desmorona e a nova ordem ainda não foi construída. Essa desordem é premonitória do novo e da evolução. A segunda, tem a ver com o ocaso, uma lógica de decadência e colapso. Um processo de esgotamento das possibilidades daquela sociedade, incapaz de encontrar um novo leit motiv coletivo, um novo modo de produção e organização social. A primeira tem saídas. A segunda, não. A primeira oferece um leque de escolhas sobre o futuro, que fazem a diferença entre o fracasso e o sucesso societário. A segunda não tem o que escolher.
Durkheim (e Marx na sua ótica própria também) viu esse processo, com toda clareza. Ele fala de uma “société troublé”, que é “provisoirement incapable” de exercer a ação de auto-regulação. Uma sociedade conturbada, provisoriamente incapaz de auto-regulação, auto-organização e integração, e que gera anomia (desregramento), alienação (alheamento). A mudança muito rápida subverte as hierarquias, dilui as referências, torna as regras e os costumes obsoletos ou inaplicáveis, deslegitima os instrumentos de coerção, rompe os consensos sociais. Daí resultam os excessos da desordem transitória. Durkheim diz que as forças sociais, nesse processo muito rápido de mudança, perdem a referência e entram em desequilíbrio, e, “par conséquent tout réglementation fait défaut par un temps” (“como conseqüência, todo o regramento perde efeito por um tempo”). “Não se sabe mais o que é possível e o que não é, o que é justo e o que é injusto, quais são as reivindicações e as aspirações legítimas, quais são aquelas que passam das medidas”, diz ele.
Soa familiar, não? Para quem tem alguma dúvida da velocidade da mudança sugiro que olhe só dois indicadores entre 1980 e hoje: a taxa de natalidade e o índice de inflação. Verão a ruptura demográfica que fizemos vertiginosamente, a mais rápida da história demográfica contemporânea. Verão, também, a recuperação do valor e da referência da moeda: da hiperinflação à relativa estabilidade. Mas, nessa travessia, de fato, perdemos a referência e mergulhamos numa crise sustentada, num desequilíbrio de longo prazo, que ainda não soubemos resolver.
Esse desequilíbrio promove uma brutal disparidade entre as necessidades e aspirações da sociedade e os meios para satisfazê-las, precisamente a defasagem que, na análise de Durkheim, leva à ruptura. Mais ainda, como esse desequilíbrio é dinâmico e se dá em um contexto de muita mobilidade, a sociedade perde a capacidade de estabelecer um máximo de riqueza admissível e um mínimo de miséria tolerável, perdendo a métrica da desigualdade suportável, o que gera ambições desmedidas e ressentimentos profundos. Nesse descaminho se perde, também, qualquer noção de ética distributiva.
Nesse momento dramático em que a mudança desestrutura e o bom futuro que ela promete ainda não se concretizou, rompem-se as velhas formas de convivência, desaparecem as travas da disciplina coletiva e se dissipam as razões da temperança e do comprometimento individuais. É nesse desfazer das referências e da ordem, que surgem as manifestações de desregramento coletivo e alienação individual. A falta de referencial leva indivíduos razoáveis e com responsabilidades públicas formais a justificar ações injustificáveis.
É o caso, por exemplo, da recente entrevista do presidente Lula, em Paris, quando diz que o “PT fez apenas o que todos têm feito sistematicamente, neste país”. O problema é que ele estava falando de corrupção e crime eleitoral. Logo práticas condenáveis e injustificáveis, exceto em um contexto anômico. O grave é que ao falar como Presidente da República transcreveu o deslize individual para o papel institucional e dissolveu os limites entre o público e o privado. Igualou-se – na verdade justificou – ao fazendeiro que destruiu a fogo 8 mil hectares de mata, no miolo da Terra do Meio, no Pará, uma reserva criada pelo próprio presidente Lula, para interromper a devastação. O que disse o fazendeiro, em nome do pai? “Fazemos isto [pôr fogo na mata reservada] porque todo mundo faz”. Mas porque um comete crime, o outro não está autorizado a cometer crime. Só quando se perde a referência e quando os padrões e a identidade se constroem pelo negativo e não pelo positivo, pela negação, e não pela afirmação, é possível admitir o ilegal, aceitar o inaceitável como se fosse rotina.
Estamos, certamente, vivendo uma dolorosa crise de transformação. Cativos da transição. Mas isto não nos desobriga de buscar uma saída boa e interromper esse namoro suicida com o colapso. Ao contrário, se não desalienamos, se não escolhemos vencer a crise, capitulamos e seremos tragados por ela. A saída é uma escolha, individual e coletiva. As novas referências têm que nascer de nossa resistência indignada, da negação da negatividade atual, da rejeição dos comportamentos anômicos, da luta por uma nova ordem e não da tolerância com o intolerável. O colapso é uma manifestação pervertida do livre-arbítrio. Temos que usar nossa liberdade, a democracia conquistada, para escolher uma sociedade legitimamente regrada, social, política e ambientalmente sustentável.
Leia também

Eletrobras contraria plano energético e retoma projetos para erguer megausinas no Tapajós
Há oito anos, as usinas do Tapajós estão fora do Plano Decenal de Energia, devido à sua inviabilidade ambiental. Efeitos danosos são inquestionáveis, diz especialista →

Obra para desafogar trânsito em Belém na COP30 vai rasgar parque municipal
Com 44 hectares, o Parque Ecológico Gunnar Vingren será cortado ao meio para obras de mobilidade. Poderes estadual e municipal não entram em acordo sobre projeto →

Governo do RJ recebe documento com recomendações para enfrentamento ao lixo no mar
Redigido pela Rede Oceano Limpo, o documento foi entregue durante cerimônia no RJ. O plano contém diretrizes para prevenir, monitorar e conter o despejo de lixo nos oceanos. →