Complexo da Maré, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. São dezessete favelas, limitadas ao norte pela Baía de Guanabara e ao leste pela Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. Quem transita hoje por essas imediações sente odor forte de lixo das águas barrentas da baía e vê cinzentas camadas de poluição recobrindo uma das regiões mais pobres e violentas da cidade. Pois é em meio a este cenário que ainda encontramos resquícios de história, em imagens, recordações e saudades de um Rio de Janeiro antigo de tons verdes e azuis.
Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, saindo da via principal, à direita, alguns metros de estrada de terra por dentro da comunidade, estamos no Museu da Maré, um dos pontos da região onde ainda é possível se ter acesso sem necessidade de autorizações especiais dos mandantes do tráfico. Ali, pobreza e medo dão lugar à memória de uma população cuja vivência estava intimamente ligada às águas.
Visões de outrora
O começo desta história é de ilhas repletas de manguezais, visitadas por diversas espécies de aves aquáticas, com praias de onde os poucos pescadores saiam com seus barcos em busca das tainhas, camarões, caranguejos e siris. A região da Maré já foi conhecida como Mar de Inhaúma, onde um porto de mesmo nome servia de escoadouro de mercadorias para as propriedades rurais e engenhos de terra que abrangiam os atuais bairros de Olaria, Ramos, Bonsucesso e parte de Manguinhos.
A comunidade mais antiga, ocupada desde o período colonial, originou-se no Morro do Timbau – em tupi-guarani, “entre as águas”, único pedaço naturalmente em terra firme. Das nove ilhas que compunham o restante da paisagem, Pinheiro, Sapucaia, Bom Jesus, das Cabras, Pindaís, Baiacu, Catalão, do Governador e Fundão, apenas as duas últimas resistem. Na primeira localiza-se o Aeroporto Internacional do Rio; na segunda, a Cidade Universitária.
Hoje o bairro é limitado pelas sobras empestadas do que antes foram águas limpas e produtivas, as do Canal do Cunha,, ao sul e do Rio Irajá ao norte e pela Baía de Guanabara, ao leste. As dezessete comunidades – Parque União, Vila Pinheiros, Parque Maré, Baixa do Sapateiro, Nova Holanda, Vila do João, Rubens Vaz, Marcílio Dias, Timbau, Conjunto Esperança, Salsa e Merengue, Praia de Ramos, Conjunto Pinheiros, Nova Maré, Roquete Pinto, Bento Ribeiro Dantas e Mandacaru dividem-se por aspectos históricos, sociais e urbanos e, especialmente, pelas diferentes facções do tráfico que as comandam. Maré, segundo pesquisas, é um dos bairros de maior extensão territorial da cidade e com maior concentração de população de baixa renda do Rio e do Brasil. Além disso é uma das localidades de maior índice de violência do município.
Memória preservada
Dentro do Museu da Maré, no entanto, a narrativa é outra. “Até a década de 1980, ainda se pescava muita tainha, camarão e siri e a cultura dos pescadores predominava na área. Em Caju e em Ramos, por exemplo, ainda é tradição a procissão dos devotos de São Pedro, protetor dos mares”. É o que revela Wagner do Nascimento França, morador de Morro do Timbau e coordenador de um Centro de Reabilitação na região. Wagner é neto de um pescador nascido e criado na atual ilha do Fundão, na época em que o local ainda era um verdadeiro arquipélago. Depois do processo de aterramento das ilhas para a construção da Cidade Universitária, muitos desses pescadores migraram para o outro lado do Canal, especialmente na região do Porto de Inhaúma. Foi lá que Wagner nasceu. “Minha infância foi brincando de caiaque. O mar batia em frente a minha casa”, relembra. “Os mais velhos sempre falavam de uma maré alta que vinha de sete em sete anos, alcançava os limites das casas e fazia todos terem que dormir em pé”, diz. “Já eu me lembro dessa maré alta vindo todos os anos”, brinca.
Wagner circula pelo museu. Ao lado de um amigo, a quem revela, através das fotos e dos objetos que compõem o acervo permanente da casa, suas lembranças de infância na Maré. Ele comemora a preservação da memória do lugar. “É maravilhosa esta iniciativa de resgatar os valores e o estilo de vida desta população”, festeja. “Quem vive hoje no centro do fogo cruzado, certamente não imagina que antes aqui havia pesca e muitas brincadeiras de rio”, diz.
Cerca de sessenta crianças acompanham a rotina do museu em caráter permanente, matriculadas em atividades extracurriculares. Além delas, grupos de escolas têm acesso livre a cursos de informática, inglês, aulas de ballet e uma biblioteca com projetos de leitura. Sem contar as exposições itinerantes, que atraem todo tipo de visitante. Até 29 de novembro, por exemplo, é possível ver a “Caminhos do Passado, Mudanças no Futuro”, uma parceria com a Casa da Ciência e o Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fala da história do Brasil através de sua formação geológica, culminando com um panorama da extração de petróleo no país.
A criação do Museu, há três anos, é parte de um projeto maior de preservação da cultura da região, o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré – CEASM, fundado em 1997. A exposição permanente narra através de fotos, documentos e a reprodução em tamanho real de uma antiga construção de palafita a trajetória do ambiente e do povo das margens da Baia de Guanabara. A narrativa é dividida em tempos simbólicos, que falam da interação da comunidade com a água, a migração, a cultura, o trabalho, a política, a infância e o medo.

A maré de cada tempo
A nostalgia da época em que as horas eram contadas pelo fluxo e refluxo das marés e do som das redes ao mar e dos rola-rolas, tonéis girantes que abasteciam a comunidade de água potável vindas das únicas duas bicas coincide com o relato da chegada da primeira moradora do Morro do Timbau. Conta-se que Dona Orosina, a pioneira, ao passar por ali acidentalmente, encanta-se de tal modo com a paisagem que recolhe das águas os pedaços de madeira com os quais constrói as bases da sua moradia.
Luiz Antônio Oliveira, um dos criadores do CEASM e diretor do Museu, é um filho deste chão. Nascido e criado ali, hoje ele se orgulha de guardar a riqueza desta memória. Ele divide a história de sua terra em diferentes ‘marés’: a primeira marca a presença de índios, em seguida, a de pescadores. O início da favelização, que ele chama de terceira maré, se dá, segundo ele, concomitante ao desenvolvimento industrial da cidade, na década de 1940.
“É importante para o morador conhecer esta versão dos fatos, já que ele sempre escuta que foi a favela que degradou a Baía de Guanabara, enquanto se defende com os argumentos de que não havia saneamento básico, tampouco política habitacional”, argumenta Luiz.
A construção da Cidade Universitária, conhecida como Fundão, aterrou oito das nove ilhas que compunham a paisagem inicial, o que ocasionou o radical estreitamento do Canal do Cunha, complexo fluvial que tem sua nascente no Caju e desemboca na Baía de Guanabara. Hoje, impedido de escoar todo o lixo e o esgoto – provenientes não só das favelas, como da Estação de Tratamento do Caju, graças a pouca força de sua corrente, ele é reconhecido pelos cariocas e seus visitantes como um mal cheiroso resquício de água que envergonha a cidade às margens do caminho para o seu aeroporto internacional.
“Antes, estas águas levavam navios carregados de produtos até o Porto de Inhaúma, que abasteciam os engenhos da região”, conta o geógrafo Lourenço Cézar da Silva, coordenador do CEASM. “Muitos, inclusive, traziam produtos químicos que, por conta da lavagem dos navios, acabavam sedimentados nas águas da maré”, complementa. Segundo ele, graças aos resíduos de chumbo e detritos pesados ainda depositados no fundo do Canal, hoje é impossível se planejar o seu completo aterro.
O ano de 1940 traz também a construção da Avenida Brasil, via expressa que liga a Zona Portuária à Zona Oeste da cidade. É neste momento que a cidade recebe um grande fluxo de migrantes nordestinos em busca de melhores condições de vida. “O pau-de-arara já despejava os viajantes na altura do Campo de São Cristóvão, onde tinha trabalho e áreas sem especulação imobiliária para eles se alojarem”, diz Lourenço.
Como as boas terras do subúrbio eram mais caras, foi nas áreas alagadiças do entorno da Baía da Guanabara que a camada mais pobre começou a construir suas palafitas, estilo de casa sustentada por vigas de madeira sobre as águas e a lama, forma característica das habitações da região que viria a se tornar, alguns anos mais tarde, símbolo nacional de pobreza.
Em meados de 40 já podiam ser contabilizadas cerca de oitocentas palafitas, construídas nos limites do bairro de Bonsucesso, em áreas adjacentes ao Morro do Timbau, onde hoje se localizam as comunidades da Baixa do Sapateiro e do Parque Maré. Foi o início da expansão por sobre os mangues e da realização dos aterros clandestinos.
A quarta ‘maré’ desta história acontece na década de 1960, época marcada pelas remoções de comunidades pobres da Zona Sul da cidade, em uma política de saneamento das áreas nobres empreendida pelo então governador Carlos Lacerda. As favelas do Morro do Esqueleto, do Querosene e Macedo Sobrinho, na região onde hoje se localiza a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no Maracanã, e a Favela do Pinto, no Leblon, foram alvos desta empreitada. Seus moradores, levados para a maré, constituíram a comunidade de Nova Holanda, cujo nome já comprovava a influência das águas da baía na vida dos assentados.
Incluídos na política dos CHP – Centros de Habilitação Provisória, os novos moradores da maré não tinham permissão para instalar água ou luz e não podiam construir suas casas usando tijolos, para evitar que se estabelecessem de forma definitiva. Isso, no entanto não impediu que os assentados permanecessem e a região foi fortemente favelizada. “O uso da palafita era necessária para a urgência de se estabelecer”, comenta Luiz, “embora, por questão de status, quanto mais na terra fosse sua casa, melhor”.
O final dos anos 70 traz o prenúncio da redemocratização do país e, com ele, algumas ações de cunho eleitoreiro: “Era preciso acabar com as palafitas, elas tinham se tornado símbolo máximo da pobreza nacional”, comenta Luiz. No ano de 79 é lançado o Projeto Rio, uma iniciativa do presidente João Batista Figueiredo e do então Ministro do Interior, Mário Andreazza. Sob o argumento de ampliar a Avenida Brasil e sanear a Baía da Guanabara, numerosas áreas alagadas foram aterradas e deram lugar aos primeiros Conjuntos Habitacionais da Maré, que passaram a abrigar os moradores retirados dos barracos e palafitas e formaram as atuais Vila do João, Conjunto Pinheiro, Conjunto Esperança e Vila do Pinheiro.
Enquanto nestas houve melhorias, como a chegada da rede de abastecimento de água e canalização do esgoto, em Nova Holanda e na Baixa do Sapateiro, favelas que não entraram no pacote de reurbanização, o processo de aterramento se deu pela mão dos próprios moradores. “Eles usavam de tudo: entulho, areia, lixo, pedaços da construção da Ponte-Rio Niterói e por aí vai”, conta Luiz. Também Wagner comenta que, nesta época, não eram raros focos de doenças, certamente transmitidas pela precariedade do saneamento e a insalubridade do próprio solo em que pisavam.
As últimas construções datam de 80 e 90, com as habitações de Nova Maré e Bento Ribeiro Dantas, para onde foram transferidos moradores de áreas de risco da cidade. Já a pequena comunidade inaugurada em 2000 pela prefeitura e batizada pelos moradores de Salsa e Merengue é tida como uma extensão da Vila do Pinheiro.
Para as novas gerações
Hoje, de maré, a comunidade só leva o nome e a memória. Para pescar, barcos ainda se arriscam bem mais pro fundo da baía, embora isso só possa acontecer quando as condições de elevação das águas permitam que eles consigam passar do Canal para o mar aberto, o que nem sempre acontece. “A água não sobe mais”, conta Wagner.
Uma das fotos antigas do museu ainda mostra um pequeno morro com área verde. Rafael Luan Silva da Costa, aluno do Ensino Médio e monitor do museu, conta que o lugar existe até hoje e é chamado de Ilha do Macaco. O pequeno parque ecológico fica na Vila do Pinheiro, separado dos barracos por uma cerca de ferro, já arrombada em diversos pontos. Hoje não se vê macacos e o que restou, está degradado. Quem denuncia o descuido é o próprio Rafael, que garante: “Antes era bem melhor, tinha jamelão, jambo. Hoje as árvores estão maltratadas, está tudo cheio de lixo”, assume.
Para aqueles que, como Rafael, entendem a natureza apenas de ouvir falar, o museu traz muitas descobertas. É o caso da foto de uma tal Praia de Apicu, atribuída a Augusto Malta e datada de 1910, que mostra que aquele lugar já foi um vasto mangue alagado. Outros registros, também do início daquele século, ilustram a isolada bica da Praia de Inhaúma, ou os primórdios da Fundação Oswaldo Cruz, centro de referência em pesquisa da saúde pública que fundou-se à beira de uma praia e hoje fica às margens da Avenida Brasil. Já a construção em tamanho real de uma palafita revela um pouco dos costumes dos nordestinos migrantes.
Bem treinado para a função de monitor, o rapaz acompanha os visitantes pela exposição, enquanto fala dos diferentes tempos simbólicos que dividem a narrativa do acervo. “Antes, as crianças daqui tinham medo de cair na água, de que a ponte estivesse com a tábua podre, de que a maré pudesse levar pra longe”, explica ele. “Eu tenho medo de bala perdida”, conclui.
O Museu da Maré está aberto de terça à sexta-feira, das 09h às 17h e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. Ele fica na Avenida Guilherme Maxwell, 26. O telefone para contato é: (21) 3868 6748.
Leia também

Par perfeito – com Cláudio e Suzana Pádua
Cláudio e Suzana Pádua contam como revolucionaram suas vidas e viraram referência em conservação. Como poucos, sabem aplicar a ciência à prática social. →
Longe do caos
Martins de Sá, praia em reserva ecológica de Paraty (RJ), é um pequeno paraíso preservado, protegido pela dificuldade de acesso e por um guardião informal. →
Domingo no Parque
Este domingo, 15 de maio, é dia de colocar tênis e ir à luta pela natureza. Quem convoca é o Parque Nacional da Tijuca, no Rio, que depois do fim do convênio entre Ibama e Prefeitura anda mesmo precisando de uma força. Ele aguarda voluntários para um mutirão que vai passer pela cabeceira do rio Carioca, as Paineiras e o Morro do Corcovado, com atividades de coleta de lixo, manutenção de trilhas e educação ambiental. Os voluntários vão se encontrar na Praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista, às 9 da manhã. Sugere-se aos participantes que levem roupa de banho, água, comida, repelente e, claro, muita disposição. O mutirão só não acontece se chover muito no dia. →







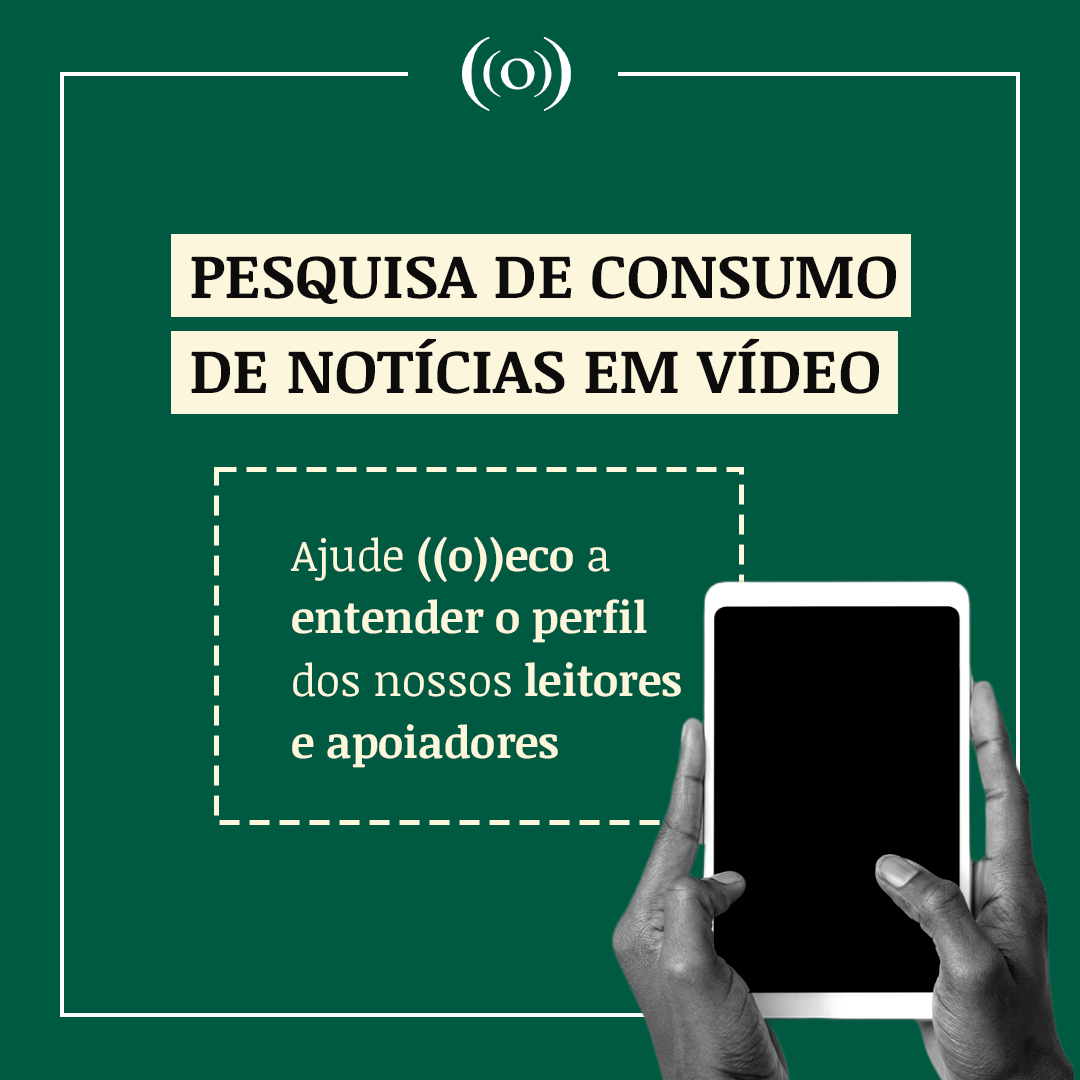
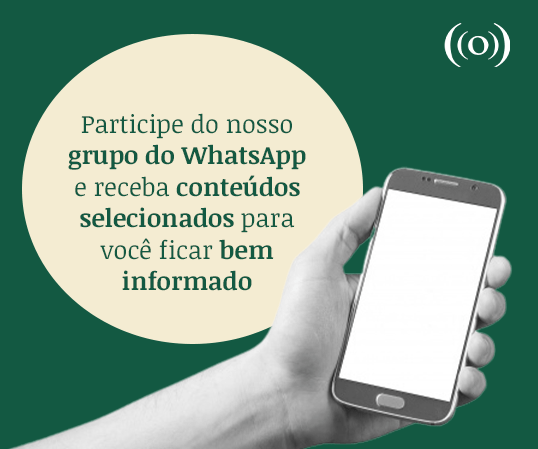
Morei 11 anos na Ilha do Pinheiro, pois, meu pai trabalhava como barqueiro e vigia da ilha. Era conhecido por Tião, e muito querido pelos pescadores locais. Até hoje, sinto tristeza pelo que fizeram com o lugar. Também chamada de Ilha do Macaco, era linda, com variedade em plantas, animais silvestres, sem falar dos macacos que viviam soltos lá. Tempo bom, muita saudade!
Olivia voce conhece o Museu da Mare?. Desde ja faço o convite para visita-lo. Depois que essa pandemia passar abriremos para o público. Lá vivenciamos nossas histórias e memórias cimo essa que você descreveu. Sei muito bem do que fala . Naeci na Maré e morei no Morro do Timbau de frente a Ilha dos Pinheiros, vi os macacos pulando de palmeiras e coqueiros. Na época que estudava na Escola Bahia tinha um menino que morava na ilha e atravessa todos os dias para ir na escola. No momento nao lembro o nome dele. Vi todo o aterramento do mar. A ilha virou um parque ecológico cercado de casas por todos os lados.
Leci o lugar era maravilhoso, havia um estaleiro de construção de barcos chamava -se Estaleiro Mac Larem o qual era isolado ,tinha duas casas em uma delas eu morei ,meu pai fazia travessia de barco nos anos de 1940 trazendo madeira de Guapimirim.
Não conhecia a história deste lugar, como o governo deixou chegar a esse ponto. Um descaso muito grande com povo .Como professora não sabia sobre este museu. Depois deste surto vou visitar e conhecer um pouco mais sobre a Maré.
Juciara venha sim conhecer o Museu da Maré, assim que passar esta pandemia abriremos para o público. Garanto que ficará surpresa com tantas memórias de seus moradores. É um espaço repleto de historias do lugar.
Me lembro quando a mare subia avansavaate perto da minha casa no timbau e andei muito no manguezal na ilha dos macacos eu so atravessava a rua que com os anos transformou -se em avenida para tomar banho na praia alguns primos atravessava a nado pra ilha dos macacos e eu ia de canoa pois meu pai era pescador dono de barco meus tios e primos trabalhavam para ele,era muito gostoso atravessar a rua para ir brincar napraia me lembro do mangazal meus irmaos catavam caranguejo eu pulava de um barco pra outro. O tempo bom. Me lembro das favelas que foram se formando eu andava na fsvela da mare e tinha medo de cair das pontes de madeira e eu vi nos amigos que ali moravam muita miseria pois eu nasci no timbau na epoca que nao existia essas favelas. Como os homens puderam acabar com a praia que hoje e vila pinheiro, joao…me lembro tambem que fizeram um estaleiro e esse ja comecou a poluir a praia q dava acesso a ilha dos macacos. A minha infancia querida onde pudiamos correr brincar cata mariscos, colocar os barrigudinhos no vidro pra brincar ( peixinho )porque os homens tem que estragar com a natureza que tristeza.