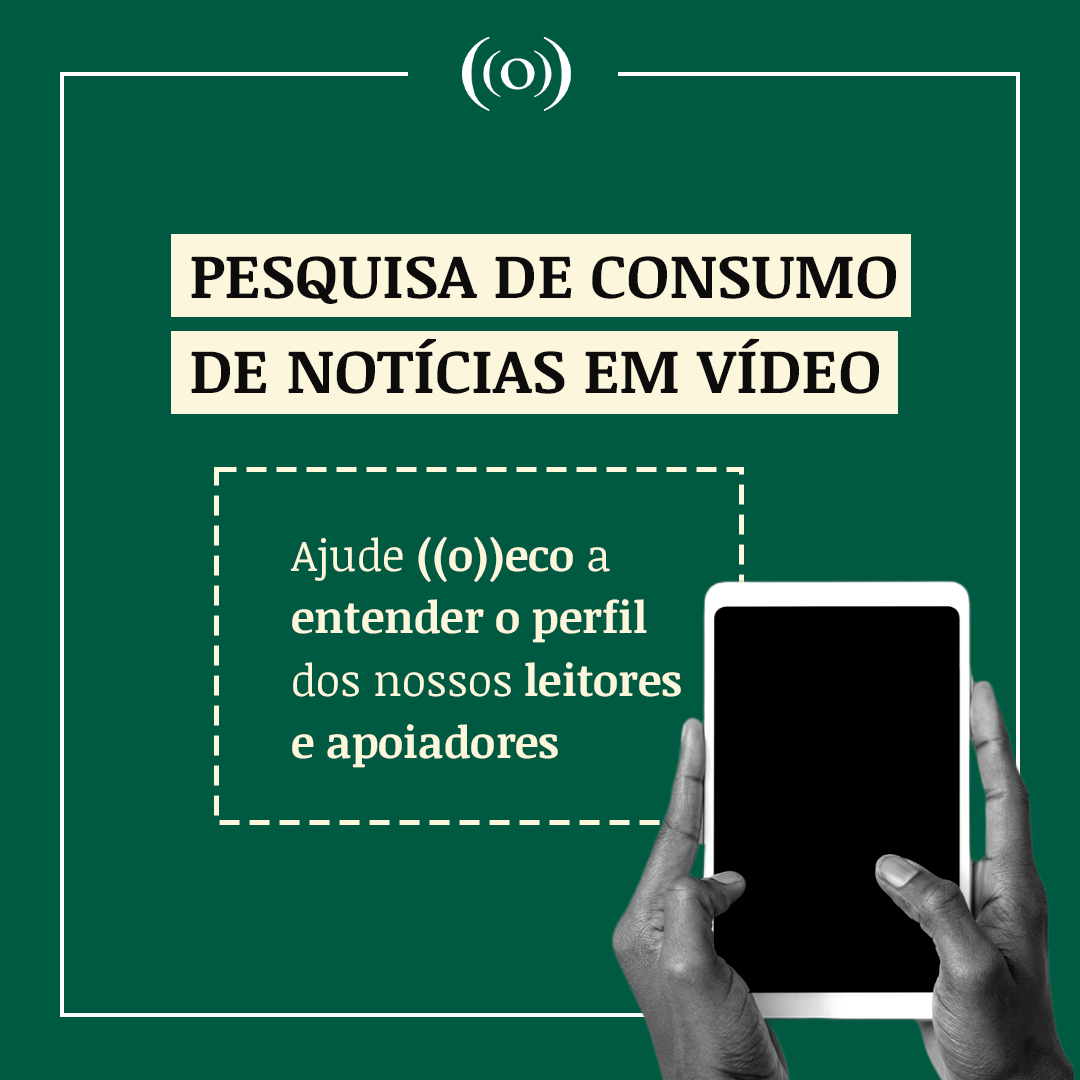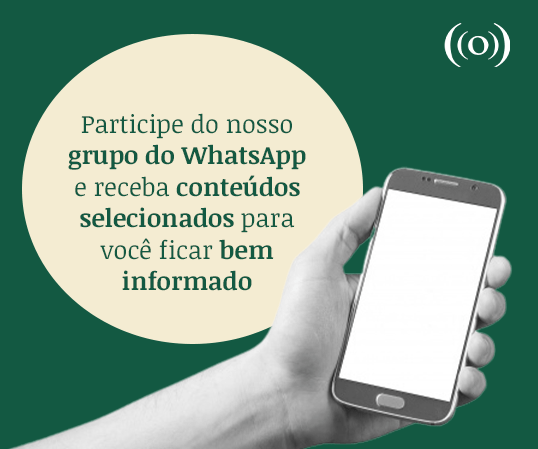Conforme prometi aos leitores d’O ECO, ainda na minha primeira coluna, de tempos em tempos darei continuidade à série “A Ferro e Fogo”, procurando chamar atenção para alguns pontos fundamentais da obra prima de Warren Dean.
Os acontecimentos das últimas semanas, tendo com ápice o vergonhoso anúncio da taxa recorde de desmatamento na Amazônia, sinalizam mais uma vez para a necessidade urgente de estudarmos a história ambiental do Brasil, buscando compreender a origem e a evolução de algumas dinâmicas predatórias que vem marcando a economia brasileira desde os seus primórdios. É preciso conhecê-las em profundidade, para ter alguma esperança de transformá-las.
Do nosso passado colonial e pós-colonial, das raízes rurais de nossa formação social, herdamos uma dupla perversa que até hoje, em suas novas encarnações, é responsável por grande parte da devastação dos biomas brasileiros. Essa verdadeira dupla do cão, como se diz no interior de Minas, pode ser identificada por duas palavras: monoculturas e bois.
Não estou me referindo às verdadeiras e dignas práticas da agricultura e da criação de animais. Estas praticas também existiram, e cada vez existem com mais consistência, na história brasileira. Estou falando de seus equivalentes nefastos, imediatistas, brutos, ignorantes e dilapidadores que continuam dominantes na nossa paisagem rural, especialmente nas novas fronteiras de expansão econômica no Cerrado e na Floresta Amazônica.
O cenário natural focalizado por Warren Dean, em seus capítulos sobre a formação colonial do território brasileiro, era outro. Mas as dinâmicas de exploração inconseqüente possuem bastante semelhança com as atuais, como se estivéssemos condenados a viver um eterno retorno da ruína. E os resultados também serão semelhantes, não devemos ter dúvida quanto a isso. Assim como a Mata Atlântica, ainda grande e pujante nos primeiros séculos do Brasil, foi reduzida a fragmentos e remanescentes, o mesmo acontecerá com o Cerrado e a Floresta Amazônica. A diferença é que o processo será muito mais rápido, acompanhando a velocidade da tecnologia industrial.
Em “Nordeste”, seu livro mais ecológico, de 1937, assim descreveu Gilberto Freyre a entrada da monocultura na Mata Atlântica colonial, através das plantações de cana de açúcar – “entrou aqui como um conquistador em terra inimiga, matando as arvores, secando o mato, afugentando e destruindo os animais e até os índios, querendo para si toda a força da terra”. O canavial “desvirginou todo esse mato grosso do modo mais cru: pela queimada. A fogo é que se foram se abrindo no mato virgem os claros por onde se estendeu o canavial civilizador mas ao mesmo tempo devastador”.
A referencia ao “mato grosso”, lida com os olhos de hoje, não pode ser mais sugestiva, recordando o holocausto ecológico que atualmente impera na Terra de Maggi, tendo a soja como nova encarnação da cana e o Cerrado da Mata Atlântica. Por outro lado, a idéia de que a destruição da vegetação nativa, para mal ou para bem, foi importante para criar uma civilização brasileira, não pode ser negada. Mas faz sentido, em pleno século XXI, continuar tratando a terra como “inimiga” e rimando civilização e devastação? Faz sentido continuarmos presos a uma rotina predatória, tanto no nível mental quanto pratico, da qual não conseguimos nos libertar?
Quem quiser saber mais sobre os riscos que a insustentabilidade ambiental coloca para o destino das civilizações, que hoje podemos superar através de uma nova inteligência ecológica, pode ler “Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed”, o ultimo livro de Jared Diamond, que descreve a queda de vários tipos de sociedade ao longo da história, tendo a destruição do entorno como um dos seus fatores centrais.
O livro de Warren Dean, especialmente no capitulo 4, descreve os detalhes predatórios da monocultura da cana, que em grande parte se repetem nas diferentes monoculturas que vêm marcando a história rural do Brasil. Com a crescente conquista do território, que aos olhos dos portugueses aparecia como um oceano sem fim de matas a serem derrubadas, o tamanho das propriedades de terra concedidas pelo estado colonial – as chamadas “sesmarias” – ampliou-se consideravelmente. De uma média inicial de 100 hectares, atingiu-se rapidamente a escala de 4.356 a 13.068 hectares (três léguas quadradas).
O grande tamanho das propriedades estava ligado ao sistema de exploração. Com o abandono do arado e da consorciação entre lavoura e criação – banindo-se a pecuária para as áreas mais interioranas, domínio de biomas como a Catinga e o Cerrado – a queimada em grande escala tornou-se o eixo da conquista do solo da floresta tropical. Como a fertilidade produzida pelas cinzas da mata durava apenas alguns anos, forçando a abertura continua das áreas florestais no interior da propriedade, que não demorava a atingir seus limites, ocorria o fenômeno de “donatários com sesmarias de mil ou mais hectares depois de poucos anos requererem uma nova sesmaria como ‘remédio para a minha pobreza’, argumentando que suas terras estavam cansadas”. Inaugurou-se então “uma forma peculiar, extrativa, de capitalismo, na qual o estoque de capital é totalmente in natura, preexistente à ocupação neo-européia, e rapidamente dissipado”. Um circulo vicioso onde se destruíam matas e terrenos para depois exigir novas áreas de mata a serem destruídas com o argumento de que os terrenos antes explorados estavam destruídos.
A escolha da cana como produto econômico básico na substituição da paisagem florestal foi bastante lógica do ponto de vista da geopolítica global do império português e das demandas comerciais da economia-mundo em construção. Esta planta nativa dos trópicos orientais, cujo principal sub-produto possuía um mercado cada vez mais amplo na Europa, adaptou-se bem aos trópicos ocidentais, como ficou claro nos primeiros engenhos estabelecidos nas ilhas do Atlântico. Mas é significativo o fato da grande lavoura no Brasil ter sido inaugurada com um produto exótico, desprezando-se o potencial econômico da biodiversidade nativa e, mais ainda, o valor da floresta em pé. Essa opção, mais do que um detalhe, configurou um padrão que até hoje permanece, se lembrarmos que os grandes ciclos da economia rural brasileira quase sempre estiveram baseados em espécies exóticas, como o café, o eucalipto e a soja.
A situação ecológica da cana no Brasil, em sentido mais especifico, favoreceu o seu grande sucesso produtivo no litoral. As variedades introduzidas estavam livres das doenças e parasitas que as atacavam em seu lugar de origem. Os solos da região, especialmente o massapé, revelaram-se especialmente propícios. A chuva abundante e continua dispensava a necessidade de irrigação. As cinzas da biomassa queimada da Mata Atlântica fertilizavam o solo de maneira espantosa, se bem que breve, dispensando a necessidade de adubação. Uma situação perfeita, como se pode ver, para a sólida implantação no país da lei do menor esforço e de uma mentalidade parasitária em relação às benesses de uma natureza aparentemente inesgotável.
O colonizador respondeu a essas benesses com um violento ataque aos ecossistemas florestais. A formula transmitida em 1711 pelo jesuíta João Antonio Andreoni, no seu “Cultura e Opulência do Brasil”, publicado com o pseudônimo de André João Antonil, sintetizou de maneira perfeita o paradigma predatório da agricultura colonial, que fincou raízes profundas e persistentes no país: “feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se , queima-se, alimpa-se, tirando-lhe tudo o que podia servir de obstáculo” . A Mata Atlântica em relação à cana, assim como hoje o Cerrado em relação à soja, não é mais do que um obstáculo que precisa ser queimado e limpado para o avanço da monocultura.
Ademais do desflorestamento direto para plantar a cana, o impacto da industria do açúcar se expandiu em várias outras direções. Para cada quilo de açúcar produzido, por exemplo, cerca de quinze quilos de lenha, retirados de Mata Atlântica primaria, eram queimados nas grandes fornalhas que garantiam calor para os enormes caldeirões onde o caldo da cana era cristalizado. Para purgar o açúcar nas moendas, por outro lado, utilizava-se cinza de madeira, em grande parte retirada dos então vastos manguezais nordestinos. O conjunto da infraestrutura estava calcado ou na madeira ou em produtos cuja produção requeria o uso de lenha em fornalhas, como tijolos, telhas e cal. O efeito agregado de todos estes processos, como se sabe, deu origem ao movimento histórico de destruição de uma Mata Atlântica que hoje não conta com mais do que 7% de sua cobertura original.
Para além do domínio da Mata Atlântica, no entanto, uma outra espécie exótica, desta vez animal, seria responsável pelo segundo pólo da dupla da devastação. O gado bovino foi introduzido no Brasil em 1532, trazidos de Cabo Verde pela expedição de Martim Afonso de Souza. Desde as grandes extinções pleistocênicas, há mais de 10.000 anos atrás, cujas causas não podem ser discutidas aqui, nenhum mamífero da dimensão do boi pastara neste território. Sem pragas, parasitas, competidores ou predadores locais – ao menos até que as onças lograssem aprender o sabor de sua carne – os rebanhos reproduziram-se com inusitada facilidade. Apesar do interior da floresta não ser propicio à sua existência, quase todas as áreas mais abertas, natural ou socialmente construídas, transformaram-se em pastos potenciais.
Praticamente sem necessidade de trato, estábulos ou forragens, em um clima que fornecia capim fresco doze meses por ano, os bois tornaram-se o instrumento perfeito, como hoje ainda o são, para uma ocupação do território segundo os ditames da lei do menor esforço e da lei do menor custo. O custo ecológico, no entanto, não está incluído nessa avaliação. O território brasileiro, nos últimos 500 anos, vem sendo pisoteado e compactado por um enorme rebanho que hoje atinge a ordem das 190 milhões de cabeças. Cerca de ¼ do atual território brasileiro, algo como 200 milhões de hectares, é utilizado como pasto, geralmente para uma pecuária extensiva de baixa qualidade e capacidade produtiva (apesar das ilhas de produtividade e manejo intensivo que vêm se formando nos últimos anos).
A partir do final do século XVI, com o domínio da Mata Atlântica sendo cada vez mais reservado para as monoculturas, o gado bovino, com exceção dos bois utilizados como força de trabalho nos engenhos, foi sendo banido para os sertões interioranos, para as Caatingas e Cerrados, tendo como principal canal de penetração o rio São Francisco. Nestes vastos espaços constituiu-se um enorme estoque vivo para a produção de carne, que serviu também para consolidar a expulsão de grupos indígenas e a conquista européia do território.
No capítulo 5 de “A Ferro e Fogo”, Dean inventariou o legado ecológico perverso da pecuária extensiva colonial. Os pastos naturais, com uma ou duas gerações de pastoreio, ficaram profundamente degradados. Sem ser tangido, o gado tendia a sobre-explorar os campos mais palatáveis, que definhavam em plantas raquíticas e doentes. O uso extensivo do fogo como única técnica de “renovação” dos pastos, se é que isso pode ser chamado de técnica, provocou uma forte destruição de pequenos animais e plantas, quebrando cadeias alimentares e facilitando a erosão dos solos (inclusive pela redução de sua permeabilidade). As queimadas secavam os terrenos e destruíam as bactérias que participavam da fixação do nitrogênio, favorecendo a difusão de gramíneas sem valor nutritivo, como o capim sapé, e de legiões de formigas e carrapatos. O esgotamento dos pastos naturais provocou a busca de novas terras para o pastoreio, promovendo a abertura de novas fronteiras de desflorestamento nas áreas mais densamente arborizadas da Caatinga e do Cerrado (assim como a crescente valorização dos vastos campos naturais do Sul).
A destruição de vegetação natural para abrir ou “renovar” pastos foi o equivalente interiorano da devastação florestal provocada pelas monoculturas litorâneas. Os dois processos, ao longo de nossa história, seguiram mais ou menos em paralelo. Com o andar do tempo, no entanto, ocorreu uma crescente aproximação dos dois pólos da dupla da devastação, configurando cada vez mais um movimento único de destruição. Na região litorânea, na medida em que terrenos previamente ocupados com Mata Atlântica foram sendo degradados pela monocultura, tornando-se impróprios para a agricultura, a introdução extensiva de gado acabou se tornando a única alternativa econômica. Essa seqüência ajudou a impedir a regeneração da floresta, consolidando a triste paisagem desnudada, ressecada, pisoteada e erodida que hoje domina grande parte das terras antes ocupadas pelos 93% da cobertura original da Mata Atlântica que foram perdidos nos últimos séculos.
É verdade que atualmente ocorre um fenômeno inverso, pois solos degradados pela pecuária no Centro-Oeste estão sendo reutilizados pela monocultura da soja. Mas o jogo perverso da dupla da devastação continua. Na medida em que a soja ocupa esses antigos pastos, além de também avançar através do desmatamento direto de áreas do Cerrado e da Floresta Amazônica, o gado vai sendo empurrado para as regiões economicamente marginais da Amazônia, provocando mais e mais desmatamento. Nada garante, por outro lado, que com a decadência futura do novo boom da monocultura, seja por razões econômicas e/ou ecológicas, o gado não volte a ocupar esses terrenos. Os atores sociais da pecuária e da monocultura, na verdade, nas antigas e novas fronteiras, sempre estiveram muito próximos socialmente, sendo muitas vezes os mesmos personagens.
Se o Brasil não conseguir transformar esse jogo perverso – através, por exemplo, de uma saudável aproximação agro-ecológica entre cultura e criação, com o estabelecimento de sistemas múltiplos e integrados de produção rural – a dupla da devastação continuará fornecendo às novas gerações de brasileiros um legado de ruína.
Leia também

A nova distribuição da vida marinha no Atlântico ocidental
Estudo de porte inédito pode melhorar políticas e ações para conservar a biodiversidade, inclusive na foz do Rio Amazonas →

Uma COP 30 mais indígena para adiarmos o fim do mundo
Sediada pela primeira vez na Amazônia, a conferência traz a chance de darmos uma guinada positiva no esforço para frear a crise climática que ameaça nossa espécie →

PSOL pede inconstitucionalidade de lei que fragiliza o licenciamento ambiental no ES
Para o partido, as mudanças no licenciamento estadual não estão previstas na legislação federal e prejudicam o meio ambiente; lei tirou espaço da sociedade civil nos processos →